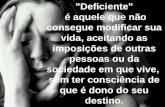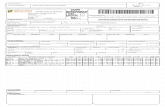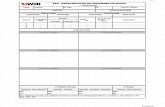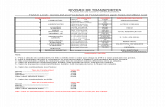BDF_364
-
Upload
brasil-de-fato -
Category
Documents
-
view
227 -
download
1
description
Transcript of BDF_364

São Paulo, de 18 a 24 de fevereiro de 2010 www.brasildefato.com.brAno 8 • Número 364
Uma visão popular do Brasil e do mundoCirculação Nacional R$ 2,80
ISSN 1978-5134
Em defesa da Cutrale, polícia aterroriza militantes do MST“Não vai levantar não, vagabundo? O senhor usa
droga?” Com essas palavras, quatro policiais acordaram
Seu Gentil, de 78 anos, às 5 horas da manhã de 26
de janeiro. Nesse dia, a polícia invadiu várias outras
casas em dois assentamentos do MST, em Borebi e
Iaras, interior de São Paulo, à procura dos “líderes”
da destruição dos pés de laranja da Cutrale, ocorrida
no ano passado. Segundo o relato dos familiares dos
detidos ao repórter Eduardo Sales de Lima, a ação
policial foi bastante traumática. Págs. 4 e 5
Com o esforço do depu-tado federal Ivan Valente (Psol-SP) e de movimentos sociais, foi instaurada em agosto de 2009 a Comissão Parlamentar de Inquéri-to da Dívida Pública. A ideia inicial era investigar eventuais pagamentos ilegítimos. Mas a CPI teve uma composição majori-tariamente conservadora e gozou de pouco espaço na imprensa. Os principais agentes da política econô-mica nos últimos anos não foram convocados para de-por por conta da resistência do governo e da oposição de direita. Pág. 3
CPI da Dívidaesbarra naoposição eno governo
Este ano, a Guerra da Água na Bolívia completa uma década. A massiva e vitoriosa mobilização popu-lar iniciada em Cochabam-ba contra a privatização dos recursos hídricos marcou o início da derrota do mo-delo neoliberal e o começo do atual “processo de mu-dança” pelo qual passa o país. Mas, mesmo com a reestatização do setor, a ad-ministração é falha e o povo não assumiu o controle da empresa. Pág. 10
Dez anos após aGuerra da Água,gestão segueinefi ciente
Além do nome, pouca coisa mudou entre a antiga Febem e a atual Fundação Casa, no Es-tado de São Paulo, nos últimos quatro anos. Na prática, persiste o descumprimento da lei, com denúncias de agressões, torturas, falta de tratamento mé-dico, alimentação ina-dequada, infraestrutura deficiente e assistência jurídica falha. Pág. 6
Fundação Casacontinua commesmos víciosda antiga Febem
Um encontro histórico reuniu indígenas Guarani de Paraguai, Argentina, Bo-lívia e Brasil em Diamante D’Oeste (PR). Entre os dias 2 e 5, eles puderam partilhar suas culturas sob a mesma língua, além de dialogar com representantes governamen-tais do Brasil e Paraguai, a quem entregaram suas rei-vindicações. “Acima de tudo, é maravilhoso, muito bonito esse reencontro”, celebrou Williams Cerezo Villa, re-presentante dos Guarani da região de Chuquisaca, na Bolívia. Pág. 7
Na terra doagronegócio,povo Guaranicelebra reunião
Esquerda argentina quer que governo
audite dívida externa O governo de Cristina
Kirchner compra briga com a oposição de direita
e de esquerda ao decla-rar que resgatará fundos
internacionais para pagar vencimentos da dívida
externa. Pág. 9
Pena Branca
e o novo voo do
cuitelinho
Pág. 8
João Zinclar
Spensy Pimentel
Reprodução Divulgação
A militante Rosimeire Serpa, vereadora em Iaras pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em uma cela da Cadeia Feminina de Avaí
Centenas de representantes de povos Guarani se reuniram na Terra Indígena Tekoha Añetete, em Diamante D’Oeste (PR)
Centenas de representantes de povos Guarani se reuniram na Terra Indígena Tekoha Añetete, em Diamante D’Oeste (PR)

O carnaval da vida
ERA UMA VEZ um “Belo Monte”. Tão belo que despertou a sede insa-ciável dos monstros que vieram para fi car e somente deixarão a terra que há anos ocupam quando se apropria-rem de vez de todos os rios, todos os minérios, toda a biodiversidade do pulmão do mundo, que, já em estado grave, clama pela resistência ativa de seus habitantes naturais: os povos da fl oresta.
A vila de Belo Monte fi ca localiza-da nas proximidades do rio Xingu, Estado do Pará, no coração da selva amazônica, próxima à cidade de Alta-mira. É ali, onde a bacia do Xingu tem a mesma biodiversidade em peixes que toda a Europa, que o governo brasileiro – tomando o nome da vila – pretende construir uma das maio-res hidrelétricas do mundo. Este é um projeto do tempo da ditadura militar, data dos anos de 1970. Originalmen-te, previa a construção de cinco usi-nas na região.
Desde então, os povos indígenas, os ribeirinhos, a população da região, ambientalistas e a Igreja local vêm lutando contra esse projeto. Em 1989, os índios realizaram o “Primeiro Encontro das Nações Indígenas do Xingu”, que alcançou repercussão nacional e internacional. Pouco de-pois desse encontro, o Banco Mundial negou o suporte fi nanceiro e o projeto foi arquivado. Mas não foi abandona-do. Agora, por iniciativa do governo Lula, ele volta com toda a força, como parte dos projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Para acalmar a resistência ao projeto, o governo reduziu a proposta de cinco para uma única usina.
O governo afi rma que ela gerará 11.233 megawatts. No entanto, é sabi-do que essa potência só será produzi-da durante apenas quatro meses, nos demais o máximo que se conseguirá é 4.000 MW, ou seja, um terço do anunciado. O volume de terra a ser retirado para formar os canais será tão grande quanto aquele escavado para a construção do canal do Pana-má!
(...) Profundos impactos serão causados na fauna e na fl ora; haverá comprometimento da navegabilidade, da pesca, da agricultura; animais se-rão extintos, e os modos de vida locais se perderão em defi nitivo; grandes áreas de bosques serão inundadas. Cem quilômetros do rio Xingu, um afl uente do Amazonas – com largas cachoeiras e fortes corredeiras, ar-quipélagos, fl orestas, canais naturais rochosos – se tornarão secos ou serão reduzidos a um fi lete de água! E, isto, logo após a Conferência de Copenha-gue sobre a gravidade da questão am-biental no mundo atual.
Para fazer aprovar esse projeto, o governo vem passando por cima de uma série de exigências: seriam ne-cessárias 27 audiências públicas; fo-ram feitas apenas 4 e, mesmo assim, os principais interessados, os indíge-nas, ou não tiveram acesso ou tiveram seu acesso difi cultado. O Ministério
Público do Pará denunciou esse fato. Para fazer o IBAMA conceder a licen-ça ambiental, houve pressão sobre seus funcionários: dois deles deixa-ram o órgão no fi nal do ano passado em função disso. O Ministério das Minas e Energia (Edson Lobão) e o Ministério do Meio Ambiente (Carlos Minc) pressionaram para que a licen-ça ambiental fosse concedida e o fosse o quanto antes. E assim foi.
Não satisfeita com esse procedi-mento autoritário, a Advocacia Geral da União (AGU), logo em seguida à concessão da licença, lançou uma nota – apoiada pelo presidente da República – ameaçando processar os membros do Ministério Público que venham a colocar em questão a licença concedida ou o próprio projeto. Os meios de comunicação observaram que essa posição da AGU é inédita. Na verdade, é um retorno às práticas da ditadura: foi assim que os militares construíram suas grandes obras, seus grandes projetos (inunda-ção das Cataratas de Sete Quedas, a construção das barragens de Tucuruí e tantas outras, a Transamazônica, a usina nuclear de Angra dos Reis, o “Brasil Potência”, o “Brasil, ame-o ou deixe-o”...). Foi passando por cima da sociedade, dos povos indígenas – que não deveriam ser um empecilho ao “progresso” –, das populações ribeiri-nhas, dos atingidos pelas barragens, do respeito ao meio ambiente.
O Brasil deixou de ser ditadura há 25 anos, e, num regime democrático,
a sociedade tem o direito de se mani-festar, de protestar quando percebe que projetos governamentais vão tra-zer prejuízo para a população. Termi-nada a ditadura, graças à mobilização do conjunto da sociedade civil, dos movimentos sociais, das entidades de defesa dos direitos humanos, das igrejas, construiu-se uma Constitui-ção que restabeleceu as liberdades democráticas, ampliou os instrumen-tos de participação social e de defesa da sociedade contra os abusos do poder. Um desses instrumentos de defesa criados pela Constituição foi o Ministério Público. Essa instituição deve ter absoluta liberdade de ação: opor ameaças ao seu trabalho é reedi-tar comportamentos diante dos quais não nos calaremos. Não passem por cima da Constituição Cidadã: ditadu-ra, nunca mais!
(...) A Abong se solidariza com os atingidos e as atingidas pelo projeto da hidrelétrica de Belo Monte e por todos os projetos de hidrelétricas em execução ou planejadas na Amazônia (quase 400); denuncia a depredação ambiental que será causada se esse projeto for levado adiante; e repudia veementemente a decisão do governo Lula, que vem manchar de vergonha quem acreditou que a esperança prometida de dias melhores estaria voltada para quem, de fato, precisa de vida digna.
Abong é a Associação Brasileira de
Organizações não Governamentais.
debate Abong
Belo Monte: ditadura, nunca maiscrônica Luiz Ricardo Leitão
MAIS ALÉM das brincadeiras e da tradição do carnaval em nosso país, que mobiliza milhões de pessoas, fevereiro segue nos mostrando fatos e fotos da dura luta de classes que envolve uma sociedade tão desigual como a brasileira.
Lembremos alguns episódios:
O caso da fazenda CutraleA TV Globo e sua rede de infl u-
ências utilizou todo seu arsenal para criminalizar os militantes do Movimento dos Trabalhadores Ru-rais Sem Terra (MST) e criar um clima na opinião pública, como se a derrubada de alguns pés de laranja fosse um crime hediondo. Mas não disse nada sobre a invasão de terras públicas pela empresa. E também não disse nada sobre o processo que a Polícia Federal move contra a em-presa por prática de cartel e distor-ção de preços pagos aos agricultores, que levou milhares deles à falência. Tudo isso foi o pano de fundo para que a Polícia Civil e Militar de São Paulo, do governo do tucano José Serra, fi zesse um verdadeiro carna-val; deslocaram oito delegados e 150 homens fortemente armados para prender nove militantes do MST, 45 dias depois da ordem judicial, emi-tida, pasmem, sem ouvir ninguém, no dia 10 de dezembro de 2009.
Felizmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo recolocou as coisas no seu devido lugar e deu liberdade aos militantes presos. Mas a Globo não comentou nada.
Cinco anos de impunidade dos assassinos da irmã Dorothy
No dia 12, completou-se cinco anos do assassinato da militante da causa da reforma agrária Dorothy Stang. Desde então, apenas dois pis-toleiros foram presos. Os dois fazen-deiros mandantes estão impunes.
O Tribunal de Justiça do Pará sempre foi conivente com a cau-sa dos fazendeiros. Foi célere em pedir prisão de dois dirigentes do MST, por suposta responsabilidade indireta de ocupações de terras na região sul do Estado. Os compa-nheiros continuam perseguidos pela polícia. Esse mesmo Tribunal não condenou ninguém pelo assassina-to de 19 sem-terra no massacre de Carajás, desde 1996. Mesmo com a repercussão na imprensa mundial, pelo fato de ser nascida nos Estados Unidos, é bem provável que o caso irmã Dorothy terá o mesmo desti-
no: a impunidade, acobertada pelo Poder Judiciário e pela imprensa burguesa.
O desastre ambiental em Ilha Grande
A natureza se vingou das falcatru-as de licenças compradas no Ibama etc. para a construção de mansões e casas nas encostas da Ilha Grande. Alguns meses antes, o governador do Rio de Janeiro havia baixado um decreto, por encomenda pessoal de seus amigos, funcionários da Globo, o casal Luciano Huck e Angélica, que precisavam fazer reformas na sua mansão em Ilha Grande, mas o Iba-ma não permitia. Prontamente o go-vernador fez um decreto autorizando reformas em casas das encostas. Mas a natureza o traiu e o caso veio a pú-blico. E a Globo não comentou nada.
Convênio da CNA com o CNJA imprensa burguesa reproduziu
sem nenhuma crítica um convê-nio fi rmado entre o senhor Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e a senhora Katia Abreu, presidenta da Confe-
deração Nacional da Agricultura (CNA), para monitorar o que eles chamam de insegurança jurídica no campo. Uma afronta! Que moral terá o Judiciário para julgar os con-fl itos no campo provocados pelos latifundiários daqui para frente? O primeiro caso que deveria analisar, na verdade, deveria ser a grilagem de terras públicas praticada pela senhora Kátia Abreu, ao se apoderar e expulsar posseiros com mais de 40 anos em terras públicas de Tocan-tins. A Constituição brasileira, o di-reito dos trabalhadores terem terra, a condição da função social da pro-priedade e a apropriação indevida de terras pelo latifúndio, nada disso interessa a esses senhores. Apenas seus lucros e vaidades.
O caso ArrudaForam três meses de fotos com
dinheiro na meia, na cueca, no bol-so, no paletó, e a Justiça calada. Foi preciso que a Procuradoria Geral da República pedisse a prisão do governador José Roberto Arruda (ex-DEM e PSDB) para que o STJ se manifestasse.
O governador foi então preso. Quando estiverem lendo este edi-torial provavelmente ele já estará solto. Esperamos que os deputados distritais, os que ainda não pegaram dinheiro, tenham vergonha na cara e aprovem o impeachment ao gover-nador corruptor.
Todos esses episódios das últimas semanas revelam, cada vez com maior nitidez, a sórdida aliança de classes que existe em nosso país, que une grandes empresas e seus interesses econômicos com o Poder Judiciário e o monopólio dos meios de comunicação.
E, ao nos aproximarmos do calen-dário eleitoral, a classe dominante brasileira vai usar cada vez mais esse tripé – empresas capitalistas, Poder Judiciário e meios de comunicação – para fazer a verdadeira luta de classe. Proteger seus interesses eco-nômicos e ideológicos por um lado e, por outro, criminalizar a luta social, os movimentos e seus militantes.
Duras jornadas teremos pela frente, na construção de uma socie-dade mais democrática e justa. E certamente a democracia brasileira passa necessariamente pelo enfren-tamento ao monopólio dos meios de comunicação, as formas de controle social sobre o Judiciário e ao controle das grandes empresas e bancos.
de 18 a 24 de fevereiro de 20102
editorial
Gama
Carnaval em BruzundangaCONFORME ANOTOU o ensaísta russo Mikhail Bakhtin em sua clássica obra A cultura popular na Idade Média e no Renasci-mento, o carnaval é uma festa pagã de raízes populares originária da época medieval, por meio da qual os servos se convertiam em nobres e estes, até jocosos, apenas se divertiam com a insólita revi-ravolta de papéis na vida cotidiana – cientes, é claro, de que após o breve reinado de Momo tudo voltaria à implacável ‘normalidade’ da ordem feudal. Nos dias de folia, não era apenas a hierarquia social que se via revirada pelo avesso. Na verdade, o mundo parecia fi car de cabeça para baixo: o celestial se rebaixava ao terreno, o espiri-tual cedia vez ao corporal e as ponderações frias da mente sucum-biam aos ardentes impulsos do baixo ventre.
A opulência do nosso carnaval até os dias de hoje signifi ca, sem sombra de dúvida, que tudo continua ao revés aqui ao sul do Equa-dor. No Brasil, terra de secular opressão colonial e infi nita iniquida-de social, os escravos faziam do carnaval um evento popularíssimo e de inusitada dimensão. As brincadeiras do “entrudo”, no século 19, raiavam a brutalidade: os despossuídos vingavam-se de suas mazelas atirando urina e fezes em quantos lhes cruzassem os cami-nhos nos dias em que (quase) tudo era permitido pelos prepotentes senhores e seus cruéis capatazes. A escravidão foi abolida, a Repú-blica foi proclamada, mas pouca coisa mudou entre a casa-grande e a senzala – e nossa Bruzundanga, enfi m, acabou carnavalizada dos pés à cabeça, estilizando seus absurdos em meio ao exotismo tropical.
De pernas pro ar, a bem da verdade, anda não apenas o Brasil, mas boa parte do planeta, como escreveu há dez anos o uruguaio Eduardo Galeano, em sua História do mundo ao avesso, glosando a irônica relação entre a linguagem, as coisas e seus nomes. Nesse mundo de aparências, o capitalismo exibe o nome artístico de “eco-nomia de mercado”, o imperialismo se traveste de ‘globalização’ e o direito que o Estado concede ao patrão de demitir sem indeni-zação ou explicação recebe o curioso eufemismo de “fl exibilização laboral”. Em certos casos, as relações entre as coisas e os nomes tornam-se ainda mais sarcásticas: no Chile de Pinochet, havia um campo de concentração batizado como Dignidade, ao passo que na ditadura uruguaia o maior presídio do país se chamava Liberdade... Isto para não lembrar o triste exemplo colombiano, em que vários dos grupos paramilitares de extermínio se chamam “Conviver” (!).
Não há dúvida de que a atual conjuntura de Bruzundanga, onde o movimento social se encontra acuado por uma poderosa alian-ça dos monopólios e do agronegócio (subscrita plenamente pela grande mídia), também concorre para o clima surreal do carnaval tupiniquim. Não enunciarei aqui copiosas lições de Sociologia para fundamentar meu comentário. Prefi ro ilustrá-lo com uma recente pesquisa do Instituto Datafolha, na qual o público (?) estabelecia o “ranking da credibilidade”, elegendo as 27 personalidades nacio-nais mais dignas de confi abilidade. É claro que o nosso Lulinha Paz & Amor, surfando na crista de sua popularidade, levou de barbada o 1º lugar, mas a partir do 2º posto a lista é um índice eloquente do estágio a que chegou a “sociedade espetacular” de Tupinicópolis...
O vice-campeão, meu caro leitor, foi William Bonner, âncora do Jornal Nacional, cujo cinismo é digno de um Oscar da Academia de Hollywood. De fato, ele é tão confi ável quanto a sua emissora, que nasceu e cresceu sob as tetas da ditadura e hoje se arvora em guar-diã da democracia e da lei. O terceiro lugar coube ao padre-cantor Marcelo Rossi, ponta-de-lança da ala carismática da Igreja Católica – e que fatura milhões com seus discos e programas midiáticos, um fi lão pelo qual outros padres já enveredam...
A indústria cultural, aliás, é a grande campeã do torneio: apesar de suas estranhas manias e superstições (ou talvez por causa delas), Roberto Carlos é o 4º brasileiro mais confi ável, seguido da onipre-sente cantora Ivete Sangalo (que também poderia exibir o título de Rainha das Lojas Americanas), com o eterno apresentador Sílvio Santos na 6ª colocação e o cantor Zezé Di Camargo na 7ª. Para cú-mulo dos cúmulos, o 8º lugar pertence a Dunga, o instrutor militar da Seleção, mas o 9º posto é ocupado por um verdadeiro estranho no ninho: o genial Chico Buarque, que, por certo, deve estar se per-guntando como ele foi parar nessa lista...
É por estas e outras, carnavalesco leitor, que me refugiei sob as bênçãos do imortal Noel Rosa, desfi lando com a Vila Isabel na Mar-quês de Sapucaí. Cantei o “Brasil de Tanga”, como fez o Poeta da Vila, escarnecendo com seus versos da hipocrisia ofi cial. E o amigo, foi com que roupa ao baile surreal da nossa Bruzundanga?
Luiz Ricardo Leitão é escritor e professor adjunto da UERJ. Doutor em Estu-dos Literários pela Universidade de La Habana, é autor de Noel Rosa: Poeta
da Vila, Cronista do Brasil (lançado em 2009 pela Expressão Popular).
Editor-chefe: Nilton Viana • Editores: Cristiano Navarro, Igor Ojeda, Luís Brasilino • Repórteres: Beto Almeida, Claudia Jardim, Dafne Melo, Daniel Cassol, Eduardo Sales de Lima, Leandro Uchoas, Mayrá Lima, Patricia Benvenuti, Pedro Carrano, Renato Godoy de Toledo, Vinicius Mansur • Assistente de Redação: Michelle Amaral • Fotógrafos: Carlos Ruggi, Douglas Mansur, Flávio
Cannalonga (in memoriam), João R. Ripper, João Zinclar, Joka Madruga, Leonardo Melgarejo, Maurício Scerni • Ilustradores: Aldo Gama, Latuff, Márcio Baraldi, Maringoni • Editora de Arte – Pré-Impressão: Helena Sant’Ana • Revisão: Maria Elaine Andreoti • Jornalista responsável: Nilton Viana – Mtb 28.466 • Administração: Valdinei Arthur Siqueira • Programação: Equipe de sistemas • Assinaturas: Francisco Szermeta • Endereço: Al. Eduardo Prado, 676 – Campos Elíseos – CEP 01218-010 – Tel. (11) 2131-0800/ Fax: (11) 3666-0753 – São Paulo/SP – [email protected] • Gráfi ca: FolhaGráfi ca • Conselho Editorial: Alipio Freire, Altamiro Borges, Anselmo E. Ruoso Jr., Aurelio Fernandes, Delci Maria Franzen, Dora Martins, Frederico Santana Rick, José Antônio Moroni, Hamilton Octavio de Souza, Igor Fuser, Ivan Pinheiro, Ivo Lesbaupin, Luiz Dallacosta, Marcela Dias Moreira, Maria Luísa Mendonça, Mario Augusto Jakobskind, Nalu Faria, Neuri Rosseto, Otávio Gadiani Ferrarini, Pedro Ivo Batista, René Vicente dos Santos, Ricardo Gebrim, Sávio Bones, Vito Giannotti • Assinaturas: (11) 2131– 0800 ou [email protected] • Para anunciar: (11) 2131-0800

Maria Lucia Fattorelli é coordenadora da Audi-toria Cidadã da Dívida e foi requisitada para as-sessorar a CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados.
Quem é
de 18 a 24 de fevereiro de 2010 3
brasil
Deputados se reúnem na Câmara Federal para sessão da CPI que investiga a legitimidade da dívida pública brasileira
Britto Júnior/Secom/Câmara
Renato Godoy de Toledoda Redação
A DÍVIDA pública brasileira tem aumentado nos últimos anos. Enquanto isso, o paga-mento de juros e amortiza-ções compromete anualmen-te cerca de 30% do orçamen-to e 5% do produto interno bruto (PIB), o que restringe a política econômica e o gas-to público. Atualmente, a dí-vida brasileira atinge o pata-mar de R$ 1,6 trilhão. O gas-to anual com a rolagem é de cerca de R$ 165 bilhões.
Uma Comissão Parlamen-tar de Inquérito (CPI) na Câ-mara Federal investiga os in-dícios de ilegitimidade desse débito. Porém, o assunto pa-rece não ter relevância pa-ra grande parte da impren-sa brasileira.
Instalada em agosto de 2009, a consolidação da CPI em si já é considerada vito-riosa pelos proponentes e pelos movimentos que lutam por uma auditoria da dívi-da brasileira. O processo de criação da comissão deman-dou um esforço dentro e fora do Congresso, com o recolhi-mento de assinaturas e reali-zação de debates.
A comissão não contou com a simpatia nem da ba-se governista nem da oposi-ção de direita, segundo o de-putado federal Ivan Valen-te (Psol-SP), proponente da CPI. Por uma questão regi-mental, ela teve que entrar na ordem do dia e foi asse-gurada pelo então presiden-te da Câmara, Arlindo Chi-naglia (PT-SP), e confi rma-da pelo atual, Michel Temer (PMDB-SP).
De acordo com Valente, o tema passa por todos os se-tores da sociedade, daí a im-portância de se trazer a ques-tão para a ordem do dia no Congresso Nacional. “A dívi-da brasileira é o principal nó em nossa economia. Além do que essa insanidade de pagar a dívida religiosamente con-tribui para a ideia de ter um superavit primário, o que ti-ra recursos da saúde e da educação”, justifi ca.
Composição desfavorávelA composição da mesa te-
ve uma demora inédita: seis meses. Contra a morosidade, Valente ameaçou levar o ca-so ao Supremo Tribunal Fe-deral (STF), e a Câmara, en-fi m, acatou o pedido.
Mas o mais inusitado foi a escolha dos representantes da mesa. Há um acordo tá-cito na Câmara que garante ao proponente da CPI a pre-sidência ou a relatoria, mas Valente não obteve nenhu-ma das duas.
A presidência da comissão fi cou com o deputado Virgí-lio Guimarães (PT-MG) e a relatoria, com Pedro Novais (PMDB-AP), que também foi relator da Lei de Responsa-bilidade Fiscal – dispositivo que restringe o gasto público para honrar as dívidas.
Boicote totalSegundo Valente, há um
boicote do governo e da opo-sição de direita para não tra-zer “fi gurões” da gestão atu-al e anterior. “Tentamos tra-zer o [Pedro] Malan e o [An-tonio] Palocci [ambos ex-mi-nistros da Fazenda], e até o Fernando Henrique Cardo-
Em seu depoimento, Armínio Fraga afi rmou que a dívida brasileira é “pesada e grande, mas administrável”
CPI da Dívida sofre boicote nogoverno, na Câmara e na mídiaECONOMIA Ivan Valente aponta resistência do governo e da oposição de direita em investigar pagamentos ilegítimos de débitos
so, mas a base do governo e o PSDB boicotam essas convo-cações. Ainda não ouvimos o [Henrique] Meirelles e o [Guido] Mantega. Inclusive, há uma orientação do gover-no para que eles não sejam convocados”, afi rma o par-lamentar.
O principal fi gurão a de-por na comissão foi o ex-pre-sidente do Banco Central Ar-mínio Fraga. Em seu depoi-mento, o banqueiro afi rmou que a dívida brasileira é “pe-sada e grande, mas adminis-trável”.
Além dessa resistência no parlamento, Valente rela-ta o descaso da grande im-prensa em relação ao tema. “Há um boicote total. A Fo-lha de S.Paulo, por exemplo, se recusou por três vezes a publicar um artigo nosso so-bre a CPI. Esses veículos são fi nanciados por grandes ban-cos, que se benefi ciam do pa-gamento da dívida”, analisa.
Procedimentos Até o momento, os debates
na CPI circundam a questão do endividamento dos esta-dos, que exigem renegocia-ção, e, quando puxados pe-lo proponente e pelos movi-mentos, discutem a política econômica por meio do pa-gamento religioso de juros e amortizações.
A comissão se encontra em fase fi nal, e o relator Pedro Novais deve apresentar o seu parecer em meados de mar-ço. Valente prevê que o rela-tório deve ser conservador e sua assessoria já analisa da-dos levantados para propor um documento alternativo, que pode ser votado na co-missão.
“Estamos analisando pa-ra ver se há irregularidades no pagamento da dívida. En-contramos algumas coisas, mas não podemos adiantar”, explica o deputado.
da Redação
A coordenadora da Audi-toria Cidadã da Dívida, Ma-ria Lúcia Fattorelli, aponta que o principal motivo para se levar a fundo a CPI da Dí-vida Pública é o fato do pas-sivo gerar o maior gasto no orçamento brasileiro. Para ela, a Comissão é uma con-quista, mas o desafi o agora é conseguir uma auditoria ofi cial da dívida brasileira, conforme previsto na Cons-tituição de 1988. Leia abaixo entrevista com Fattorelli.
Brasil de Fato – Qual é a importância de se instaurar uma CPI da dívida Pública?Maria Lucia Fattorelli – A dívida pública federal su-perou a casa dos R$ 2 tri-lhões em dezembro e consu-miu 36% dos recursos fede-rais durante 2009, conforme dados do Banco Central e do Tesouro Nacional. Esse crescimento espantoso tan-to do estoque da dívida co-mo do volume de pagamen-tos é fruto da política econô-mica aplicada no país, que, além de praticar as taxas de juros mais elevadas do mun-do, ainda privilegia os gastos fi nanceiros em detrimento dos gastos sociais.
Diante desse quadro, a CPI foi criada com o objeti-vo de investigar a dívida pú-blica, o pagamento de ju-ros e seus impactos sociais, pois, enquanto o pagamento de juros e amortizações da dívida consumiram 36% dos recursos federais em 2009, a saúde recebeu pouco mais de 4% e a educação, pouco mais de 2%, sendo que todas as demais áreas sociais fi ca-ram também prejudicadas.
Portanto, a investigação do endividamento é funda-mental, pois esse é o gasto público mais relevante do país e infl uencia a vida de toda a população, que paga a dívida tanto por meio da ele-vada carga tributária como pela insufi ciência de servi-ços públicos de qualidade.
Adicionalmente, a CPI da Dívida Pública constitui um primeiro passo para o cum-primento da determinação contida na Constituição Fe-deral de 1988 (art. 26 do Ato das Disposições Transitó-rias), que determina a rea-lização de uma auditoria da dívida externa brasileira, até hoje não realizada.
Como está o andamento da CPI em termos políticos e em termos de investigação?
A CPI constitui um mar-co histórico, pois propiciou o acesso a diversos docu-mentos públicos que nun-ca haviam sido divulgados à sociedade, além de expor o debate sobre a grave situa-ção do endividamento públi-co brasileiro, abrindo espaço em diversos meios de comu-nicação que se encontravam bloqueados ao tema.
As audiências públicas re-alizadas pela CPI contaram com a participação de im-portantes convidados, que demonstraram que a dívida pública é o problema central do país.
A CPI possibilitou também corrigir o equívoco ampla-mente divulgado no sentido de que a dívida brasileira te-ria “acabado”, demonstran-do que o pagamento ante-cipado da parcela que devia ao FMI em 2005 signifi cava uma parte pequena do volu-me da dívida pública brasi-leira, e que, apesar daque-le pagamento, o Brasil con-tinuou aplicando o receituá-rio econômico do FMI.
Por outro lado, a CPI da Dívida enfrentou limita-ções. A primeira é relaciona-da ao curto período de fun-cionamento da Comissão, insufi ciente para investigar tema tão vasto e importan-te. O acesso a muitos docu-mentos também fi cou preju-dicado, pois o período de in-vestigação determinado pe-los parlamentares foi des-de 1970 para a dívida exter-na e desde 1987 para a dí-vida interna. Dessa forma,
os órgãos responsáveis pelo controle do endividamento – Banco Central e Tesouro Nacional – enfrentaram di-fi culdades de localizar par-te dos documentos e regis-tros requisitados pela CPI e apresentaram solicitações para a prorrogação de prazo para o atendimento.
Em termos políticos, é preciso ressaltar que diver-sas entidades da sociedade civil têm sido assíduas em todas as audiências públi-cas da CPI, dando uma cla-ra demonstração do interes-se dessas entidades pelo te-ma. A Auditoria Cidadã da Dívida tem divulgado bole-tins semanais sobre as au-diências públicas realizadas pela CPI, disponíveis no si-te da Auditoria Cidadã.
Quais são os indícios de que a dívida que o país paga é ilegítima?
Várias questões de ilegi-timidade marcam o proces-so de endividamento bra-sileiro, tanto interno como externo. Nas sessões públi-cas da CPI já foram levan-tadas, por exemplo, a reper-cussão da elevação unilate-ral das taxas de juros inter-nacionais a partir de 1979, pelos Estados Unidos, de 6 para 20,5%, o que provo-cou tremenda crise fi nancei-ra e a multiplicação da dívi-da por ela mesma. Com ba-se nos dados recebidos pela CPI, caso os juros tivessem sido mantidos no patamar de 6%, os pagamentos efe-tuados para quitar os extor-sivos juros teriam sido sufi -cientes para eliminar a dí-vida então existente, e nos tornaríamos credores.
Também foi debatido na CPI o impacto da utilização da dívida pública na susten-tação do Plano Real, bem co-mo a participação de repre-sentantes do mercado fi nan-ceiro nas reuniões com o Banco Central, que infl uen-ciam a decisão sobre a taxa de juros.
Estes são apenas exemplos do que foi publicamente de-batido, e muitas investiga-
ções estão em fase de fi nali-zação e conclusão e em bre-ve serão divulgadas.
Na sua opinião, o desfecho da CPI pode levar a alguma ação estatal, como uma auditoria, por exemplo?
Sem dúvida, as investi-gações realizadas pela CPIcomprovarão a necessida-de de realização da audito-ria da dívida, podendo tam-bém instigar ações por par-te de diversos órgãos, comoo Ministério Público, para oaprofundamento das inves-tigações, bem como o ques-tionamento da legalidade devários aspectos da dívida pú-blica, tais como a prática dejuros fl utuantes, exigênciade juros sobre juros, dentreoutras questões.
A participação das enti-dades e movimentos sociaisnos debates da CPI e no co-nhecimento do resultadodas investigações tem papelfundamental para que o des-fecho da CPI possa ser utili-zado em favor da implanta-ção de um modelo econômi-co mais justo, melhorandoas condições sociais tão pre-cárias de um país que temhistoricamente destinado amaior parte de suas riquezaspara o capital. (RGT)
Auditoria da dívida está prevista na ConstituiçãoCPI é primeiro passo para a auditoria, aponta Maria Lucia Fattorelli
A comissão se encontra em fase fi nal, e o relator Pedro Novais deve apresentar o seu parecer em meados de março
Edson Santos/Secom/Câmara



de 18 a 24 de fevereiro de 20106
brasil
Degradação O novo presidente da CTNBio, órgão
do governo federal, Edilson Paiva, defende abertamente as sementes e alimentos transgênicos, os quais, para ele, não causam nenhum dano ambiental ou à saúde das pessoas – mesmo sem comprovação científi ca dos efeitos de tais produtos. Lobista da Monsanto, a mais danosa indústria química do mundo, o novo chefe da CNTBio aposta agora na liberação do arroz transgênico. Quer mesmo uma epidemia de câncer!
Dinheiro curtoA Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas apurou que o índice de inadimplentes no comércio de varejo aumentou 5,67% em janeiro de 2010, em comparação com dezembro de 2009. Se a tendência da inadimplência seguir padrões de anos anteriores, de-ve aumentar ainda mais nos próximos meses – em função das compras de natal, gastos com férias, despesas es-colares e quadro geral de desemprego. Onde vai bater ninguém sabe!
Operação CondorO ex-ditador do Uruguai, Juan Ma-
ria Bordaberry, foi condenado a 30 anos de prisão por desaparecimento, tortura e morte de opositores políticos. Assim como ele, na Argentina e no Chile, os civis e militares envolvidos em crimes contra os direitos humanos estão sendo julgados e punidos. Entre os países da Operação Condor, que articulou a repressão no Cone Sul, só falta o Brasil julgar os seus participan-tes. Impunidade não!
BanestadoFinalmente a Justiça Federal de
Curitiba (PR) conseguiu reaver uma pequena parte – R$ 1,9 milhão – do dinheiro desviado há mais de 10 anos por empresários, políticos e doleiros, via “lavanderia” montada no Banesta-do. A investigação de autoridades dos Estados Unidos localizou 28 bilhões de dólares num banco de Nova York. Aos poucos o dinheiro tem sido devolvido, falta punir os ladrões. A CPI do caso foi calada para sempre!
Assalto tucanoÉ inacreditável o que o governo do
Estado de São Paulo fez na rodovia Castelo Branco, a menos de 30 km da capital: incluiu mais um pedágio entre Osasco e Barueri, onde tem maior mo-vimento de veículos, apesar de existir outro pedágio poucos quilômetros adiante. Mais estranho é que o assalto aos bolsos dos cidadãos seja feito pa-ra benefi ciar concessionário privado – sem qualquer interferência do Mi-nistério Público e da Justiça. Conivên-cia é apelido!
MobilizaçãoA Campanha Nacional Afi rme-se,
que defende a política de cotas nas universidades públicas, está empe-nhada em mobilizar delegações de todo o Brasil para a audiência pública prevista no Supremo Tribunal Federal, de 3 a 5 de março, em Brasília, quan-do a legitimidade constitucional das cotas será analisada e julgada. Pelo reacionarismo do STF, já manifestado contra os trabalhadores e movimentos sociais, não dá para esperar coisa boa. A não ser com muita luta!
Exclusão juvenilEstá em processo de seleção a distri-
buição das bolsas do ProUni, o progra-ma do governo federal que possibilita aos jovens de famílias de baixa renda estudar em universidades privadas. Em troca, essas universidades recebem isenções nos seus impostos e contri-buições. Um bom negócio para o forta-lecimento do ensino privado. E péssi-mo negócio para a maioria dos jovens, pois existem apenas 165 mil bolsas para um total 760 mil candidatos.
Crime continuadoCinco anos após o bárbaro assassi-
nato da irmã Dorothy Stang, em Ana-pu, no sul do Pará, os dois mandantes do crime ainda não foram condenados de forma defi nitiva. A lentidão da Justiça não apenas promove a impu-nidade, especialmente para ricos e poderosos, mas também proporciona a sequência de injustiças e violências que motivaram o sacrifício da missio-nária católica. Os confl itos de terra naquela região continuam inalterados. Até quando?
Apenas sustoA prisão temporária do governador
do Distrito Federal, José Roberto Ar-ruda, ex-DEM e ex-PSDB, determina-da pelo Superior Tribunal de Justiça, assustou muita gente pelo país afora, especialmente aqueles envolvidos em casos graúdos de corrupção. Se a moda pega, não vai ter cadeia de luxo para tanta gente. Ainda bem que não passou de um susto de véspera de Car-naval! Ufa!
fatos em focoHamilton Octavio de Souza
O Complexo Tatuapé da Febem pouco antes de ser desativado
Milton Michida/Governo de São Paulo
Ênio Lourençode São Paulo (SP)
A FUNDAÇÃO CASA (Fundação Centro de Atendimento Socioe-ducativo ao Adolescente), que há quatro anos substituiu a Febem (Fundação do Bem-Estar ao Me-nor) em São Paulo, vem enfren-tando os mesmos problemas que sua antecessora. Poucas das pro-messas de promover melhor aten-dimento aos adolescentes e jovens (entre 12 e 21 anos) que comete-ram ato infracional foram cum-pridas. Na teoria, o objetivo era criar unidades descentralizadas, com capacidade máxima para 40 pessoas, promovendo cursos pro-fi ssionalizantes e bem-estar social dentro dos centros. Mas, na prá-tica, o que se vê é a repetição das mesmas denúncias da velha Fe-bem: agressões, tortura, falta de tratamento médico, alimentação inadequada, infraestrutura defi -ciente e assistência jurídica falha.
No fi m de janeiro, o jornal O Es-tado de S. Paulo publicou trechos de um relatório, produzido por al-gumas entidades da sociedade ci-vil – Conectas Direitos Humanos, Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquen-te (Ilanud), Associação de Mães e Amigos de Crianças e Adolescentes em Risco (AMAR), entre outras –, que denunciava essa série de viola-ções dos direitos humanos na Fun-dação Casa. O documento, fi naliza-do em outubro de 2009, fora enca-minhado a todas as esferas do po-der público, inclusive ao secretário de Justiça, Luiz Antônio Marrey, e ao governador José Serra (PSDB). Contudo, as entidades produtoras do relatório não haviam obtido ne-nhuma resposta ofi cial até o vaza-mento das informações.
Maus tratosO documento tem como desta-
que especial os maus tratos ocor-ridos dentro da instituição, uma das maiores reclamações dos in-ternos. “Nós montamos uma co-missão com outras entidades que trabalham na área de proteção ao jovem e ao adolescente e produzi-mos o documento a partir do que eles [os jovens] reclamavam pa-ra nós”, relata a advogada Marce-la Vieira, da ONG Conectas Direi-tos Humanos.
Entre as denúncias de agressão estão o trancamento em solitárias, os graves ferimentos em decorrên-cia de brigas com funcionários e a constante violência psicológica. “Os funcionários fi cam xingando a mãe dos meninos, pedem para res-ponder ‘sim, senhor’ para tudo, an-dar de cabeça baixa e com as mãos para trás; se eles responderem al-guma coisa, tomam tapa na cara”, revela Aline Yamamoto, do Ilanud.
Conceição Paganele, presiden-te e fundadora da AMAR, ressalta também o cerceamento da expres-são: “lá dentro eles não podem fa-lar, senão apanham. Como pode
proibir a fala do ser humano? Vo-cê vai na Fundação e pergunta para eles se está tudo bem, eles respon-dem que ‘está tudo bem se não fa-larem’, pois quando falam nada fi -ca bem”.
O “Choquinho” (agentes de se-gurança e contenção da Funda-ção Casa) é um dos maiores inti-midadores para os internos, rela-ta Paganele. Uma mãe, que pre-feriu não se identifi car, diz que “quando o ‘Choquinho’ entra [em algum ato de contenção], eles vão gritando ‘descasca, descasca’ [em referência aos jovens tirarem a roupa]. O último que tirar sem-pre apanha”.
RepressãoOs agentes de segurança e os
de apoio socioeducativo são os maiores acusados pelos adoles-centes. A relação entre as duas partes é sempre conturbada. Ali-ne Yamamoto diz que os meninos relatam que os funcionários se protegem na estabilidade da car-reira pública: “eles são transferi-dos, nunca afastados”.
Paganele complementa dizendo que sempre quem sai prejudica-do são os adolescentes, por serem estes que respondem criminal-mente ao fi nal de um enfrenta-mento, mesmo após ter apanha-do. Ela ressalta ainda o desprepa-ro dos agentes e a cultura vigen-te da Fundação Casa: “existe uma cultura de prisão lá dentro, o tra-tamento aos meninos e às visitas é desrespeitoso. Os agentes tra-tam os meninos como bandidos. Tudo isso veio com o grupo do sistema prisional instaurado pe-la Berenice [Gianella, presidente da Fundação Casa]”.
A Fundação Casa, então, se as-semelha cada vez mais com pre-sídios e se afasta do caráter de instituição de reeducação. O que confi rma esse quadro é o aumen-to das mortes. Segundo dados ofi ciais, o número de óbitos em 2007 foi um, em 2008, três, e, em 2009, seis.
Adaptação das unidadesDesde a desativação do Com-
plexo Tatuapé da Febem, em ou-tubro de 2006, o projeto arqui-tetônico que se pretendia para a Fundação Casa substituiria gra-dualmente os grandes aglome-rados da antiga instituição. Con-tudo, nos anos que se seguiram, pouco foi feito na cidade de São Paulo. Algumas novas unidades foram criadas no interior e litoral e tentam funcionar no novo mo-delo. Mas, na capital, as antigas unidades foram simplesmente adaptadas. “Você não pode colo-car um muro no meio, dividir o complexo, separar os internos e falar que agora é Fundação [Ca-sa]”, contesta Aline Yamamoto, quanto ao que ocorre em grandes complexos, como o Raposo Tava-res, onde foi colhida a maior par-te das denúncias.
Além disso, o número de 40 va-gas permanentes e 16 em regi-me de internação provisória que a Fundação Casa tem por mis-são destinar a cada unidade não é respeitado. “Hoje existem uni-dades com 90, 96 internos”, cons-tata Marcela Vieira. Conceição Pa-galene conta que em sua última vi-sita à unidade do Brás, onde deve-ria funcionar um centro provisó-rio de triagem, em que os jovens seriam realocados em até 45 dias para outras unidades, encontrou cerca de 130 adolescentes. “Eles acabam passando mais tempo no [Complexo] Brás, a pior unidade. Parece uma gaiola, é sufocante, insalubre”.
O defensor público Flávio Fras-seto, coordenador do Núcleo Es-pecializado da Infância e Juventu-de da Defensoria Pública do Esta-do de São Paulo, enxerga uma lon-ga fase de transição e a existência, na prática, da antiga Febem. “Es-tamos numa fase de transição. Se chamarmos de Febem aquele mo-delo antigo e de Fundação Casa este novo, o que se percebe é que o que virou Fundação Casa foi so-mente metade da estrutura geral da instituição. Ainda tem outra metade no modelo antigo”.
Vão-se os anéis, fi cam os dedosDIREITOS HUMANOS Fundação Casa enfrenta as mesmas denúncias da antiga Febem
de São Paulo (SP)
Outra denúncia que consta no relatório elaborado por entida-des da sociedade civil sobre a Fundação Casa é a defi ciência no atendimento jurídico aos adoles-centes e jovens internados. Mui-tos relataram desconhecimento da sua situação na Justiça e se-quer sabem quem são seus de-fensores.
Para o defensor público Flá-vio Frasseto, essa denúncia é um problema nacional das defenso-rias públicas, “uma despropor-ção entre a quantidade de defen-sores e as demandas para se fa-zer um bom atendimento”. São apenas 12 advogados para fazer o
Concurso prioriza força físicaA Fundação Casa realizou no início deste mês concurso público
destinado ao preenchimento de 3.011 vagas em seu quadro efeti-vo de funcionários. O que chama a atenção no edital de divulga-ção é o número de vagas destinadas aos agentes de apoio socioe-ducativo (o agente que faz o monitoramento e auxilia na conten-ção) em relação ao número de vagas destinadas aos agentes edu-cacionais: são 1.044 do primeiro contra 349 do segundo. Entre as exigências mínimas para se tornar um agente de apoio socioedu-cativo, é necessário ser homem, ter no mínimo 21 anos e altura superior a 1,65 m. (EL)
O que fazer?Em relação às perspectivas quan-
to ao futuro da instituição e ao res-peito às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na atual conjuntura, todos os en-trevistados foram reticentes e cau-telosos. Porém, existe o consenso de que a situação não deve perma-necer dessa maneira e que encami-nhamentos das denúncias devem ser tomados. Isso porque, caso não se encontre uma solução para a situação de barbárie que se man-tém ao longo dos anos, a tendên-cia é piorar, aproximando-se de um quadro semelhante aos tempos mais obscuros da Febem.
A presidente da Fundação Casa, Berenice Gianella, foi procurada pela reportagem ao longo da apu-ração, mas a assessoria de impren-sa alegou que ela estava com sua agenda cheia e não poderia con-ceder qualquer entrevista. Outros responsáveis que pudessem res-ponder às denúncias e prestar es-clarecimentos também foram pro-curados, porém, a mesma assesso-ria alegou a impossibilidade e afi r-mou que responderia em nota ofi -cial. Até o fechamento desta edi-ção, nenhuma resposta chegou à redação.
“Os funcionários fi cam xingando a mãe dos meninos, pedem para responder ‘sim, senhor’ para tudo”
Adolescentes não sabem de sua situação na Justiça
atendimento de todos os jovens da Fundação na capital. “Para ter um atendimento próximo do ide-al, precisaríamos ter quatro ve-zes mais defensores”, explica.
Frasseto diz ainda que, en-tre audiências, atendimentos ao público, recursos e outras ativi-dades, “o tempo que sobra para atender 500 adolescentes é mui-to pouco”. Assim sendo, a priori-dade são os atendimentos emer-genciais a adolescentes que estão com “enrosco na Justiça”. Entre-tanto, segundo Marcela Vieira, da ONG Conectas Direitos Hu-manos, “os jovens relatam que eles vão na unidade, conversam com um ou outro e vão embora”.
Para Aline Yamamoto, do Ila-nud, a ideia do relatório não é atacar a Defensoria Pública, mas sim criar condições adequadas para uma defesa qualifi cada dos adolescentes e jovens. “Nós te-mos de fortalecer o eixo da de-fesa. Sabemos que a Defensoria Pública é frágil em relação a to-da a magistratura e que também é pouco valorizada pelos pro-fi ssionais da área, mas por is-so nós ouvimos os jovens e colo-camos a situação em tom de de-núncia”. (EL)
Documento aponta defi ciência no atendimento jurídico aos jovens e adolescentes internos da Fundação Casa
“Existe uma cultura de prisão lá dentro, o tratamento é desrespeitoso aos meninos e às visitas”

Carta de reivindicações foi entregue aos ministros da Cultura de Brasil e Paraguai
de 18 a 24 de fevereiro de 2010 7
brasil
Encontro reuniu representantes de povos Guarani de Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai em Diamante D’Oeste, no Paraná
Spensy Pimentel
Spensy PimentelDiamante D’Oeste (PR)
FICA, DESDE JÁ, como mar-co histórico o Encontro dos Povos Guarani da América do Sul – Aty Guasu Ñande Reko Resakã Yvy Rupa, realizado entre os dias 2 e 5, na Terra Indígena Tekoha Añetete, em Diamante D’Oeste (PR). Entre as centenas de participantes do evento, não se encontrava indígena que não estivesse en-cantado com a beleza da reu-nião de tanta gente com fala, gestos e hábitos tão próximos, mas tão afastados no tempo e no espaço – sobretudo devido à violência da colonização nos últimos séculos.
Se alguns grupos, como os Guarani do litoral do Sul e do Sudeste do Brasil, mantêm até hoje um constante intercâm-bio, em uma gigantesca rede que vai do Espírito Santo até a Argentina, outras parcelas desse povo vivem praticamen-te à parte das demais. Para se ter uma ideia, os Guarani da Bolívia (outrora conhecidos como Chiriguanos), que mi-graram para lá há mais de 400 anos, vindos da região que ho-je corresponde à fronteira en-tre Mato Grosso do Sul e Pa-raguai, nunca mais haviam mantido contato regular com os Guarani do Brasil. Em Añe-tete, muitos se emocionaram ao conhecer seus “parentes” distantes.
“A língua é muito parecida. A parte religiosa, também. Às vezes, a dança é um pouco di-ferente, um tem o violão, o ou-tro não, mas o conteúdo é mui-to parecido. Somos um só po-vo”, orgulha-se Marcos Tupã, cacique da aldeia de Krukutu, de São Paulo, lembrando os vários momentos em que os xamãs Guarani exibiram seus cantos e danças durante o en-contro. “Acima de tudo, é ma-ravilhoso, muito bonito esse reencontro”, diz Williams Ce-rezo Villa, representante dos Guarani da região de Chuqui-saca, na Bolívia.
Em um mundo como o Gua-rani, em que “cultura” é um termo estreitamente vincula-do a temas como terra, saú-de e educação, a pauta ofi cial do encontro terminou pra-ticamente confi nada a ques-
tões ligadas à área da “cultu-ra”, conforme entendido por nós, brancos. Organizado pelo Ministério da Cultura (MinC), o evento culminou no lança-mento de uma carta de reivin-dicações, recebida pelos mi-nistros da Cultura do Brasil, Juca Ferreira, e do Paraguai, Ticio Escobar.
A carta pede a criação de uma Secretaria Especial de Representação do Povo Gua-rani, vinculada ao Mercosul Cultural, com integrantes es-colhidos pelos próprios in-dígenas, além de um deba-te permanente, no âmbito do bloco, sobre os direitos dos Guarani, incluindo-se a rea-lização de encontros regula-res do povo Guarani de Bra-sil, Paraguai, Argentina e Bo-lívia. O Mercosul, reivindica o documento, tem de mudar su-as leis de fronteira para per-mitir o “livre trânsito cultural” dos indígenas, num território que “sempre pertenceu” aos Guarani. De forma sintética, ainda são reivindicadas polí-ticas públicas para gestão ter-ritorial, saúde, educação e co-municação, entre outros, além de combate ao preconceito e à violência contra os indígenas.
Para vários dos participan-tes, a carta, ainda que limi-tada em seus temas, já repre-senta uma vitória, dada a his-tórica difi culdade na relação dos povos indígenas com os estados nacionais da região. “Estamos começando a abrir a porta e olhar para dentro da casa para ver o que tem”, compara o cacique Kaiowa Ambrósio Vilhalba, da aldeia Guyraroka, de Caarapó (MS).
Há três anos, Ambrósio foi a estrela do longa-metragem Terra Vermelha, do ítalo-chi-leno Marco Becchis, um fi lme de fi cção que espelhou muito de sua luta real como líder in-dígena.
Para representantes dos Guarani da Bolívia e do Para-guai, entretanto, onde os po-vos indígenas têm maior tra-dição de participação na vida partidária e organização como movimento social, faltou “po-lítica” no evento. “Faltou uma análise da conjuntura de cada país. Nós pedimos, mas nin-guém deu bola. Há alguns in-dígenas que são funcionários do governo e eles não que-rem chocar seus patrões”, cri-tica Mario Rivarola, da Orga-nização Nacional dos Aborí-genes Independentes (ONAI), do Paraguai.
“Na Bolívia, temos um siste-ma muito avançado política e organicamente, também por-que contamos com um indíge-na na presidência da Repúbli-ca, e estamos numa transição do neoliberalismo para um Estado plurinacional. Quere-mos dar mais apoio a nossos irmãos do Brasil e do Para-guai”, diz o já citado Williams, que, além de cacique dos Gua-rani em Chuquisaca, também representou a Assembleia do Povo Guarani (APG) no even-to no Paraná.
A APG surgiu nos anos de 1980 e hoje suas decisões são reconhecidas pelo Estado bo-liviano como decisões toma-das pelo povo Guarani. Tem uma estrutura de escolha de representantes em mais de 350 comunidades, com pro-cessos de decisão, mandatos e encargos bem defi nidos. O ex-presidente da APG Wil-son Changaray se elegeu de-putado para o Parlamento Boliviano em dezembro, jun-to com outros dois Guarani. Williams diz que os Guarani da Bolívia não veem contra-dição entre participar da vida política do país e manter su-as tradições. “Não é que esta-mos esquecendo nossa cultu-ra. Estamos entrando na po-lítica para depois transformá-la conforme os nossos inte-resses e pontos de vista. Esta-mos como que camufl ados”.
Contradições Para um governo com o
perfi l do brasileiro, com mi-nistérios inteiros francamen-te alinhados com setores con-servadores, é certamente no-tável ouvir do ministro Ju-ca Ferreira declarações de apoio às reivindicações indí-genas. “Nós, do Ministério da Cultura, não temos nenhum medo da presença de povos indígenas na região de fron-teira e da demarcação de su-as terras”, disse ele, durante sua passagem pelo encontro, no dia 5. “Pensem em nós co-mo aliados.”
As contradições, contudo, não passaram longe de Añe-tete. O encontro teve o pa-trocínio da binacional Itai-pu, que tem em seu históri-co uma série de violações aos direitos dos Guarani. Do lado brasileiro, a empresa já assu-miu, há alguns anos, o ônus da reparação a diversas co-munidades pela retirada for-çada de aldeias inteiras à épo-ca da formação do lago da usi-na, nos anos de 1970. A Teko-ha Añetete é uma das terras indígenas formadas depois de muita disputa e ocupações de terras.
Ainda assim, há uma série de outras comunidades que não consideram resolvida sua disputa com a empresa. En-tre os participantes do even-to estavam Oscar Benitez e Arnaldo Alves, dois Avá-Gua-
rani da aldeia de Vy’a Renda, uma ocupação de terra, ain-da não regularizada, na região de Santa Helena, a cerca de 40 km do local onde aconteceu o encontro. Eles contam que não só a comunidade deles, como pelo menos outras qua-tro, nos municípios de Guaíba e Terra Roxa, não foram se-quer convidadas a participar do evento. “Nem Funai nem Itaipu nos dão apoio lá onde estamos. Só o Ministério Pú-blico conseguiu que pelo me-nos haja atendimento de saú-de”, conta Oscar.
O Ministério da Cultura diz que a responsabilidade pelos convites para o evento era dos próprios índios, conforme es-tabelecido nas reuniões pre-paratórias. Não foi possível fazer contato telefônico com o cacique Mário, de Añetete, que, segundo o ministério, era responsável pelo convite às al-deias dessa região. Até o fe-chamento desta matéria, a as-sessoria de Itaipu não respon-deu às mensagens eletrônicas da reportagem.
Do lado paraguaio, o proble-ma com Itaipu é muito maior. Mario Rivarola, da Onai, con-ta que foram 60 as comuni-dades desalojadas por Itaipu nos anos de 1970, muitas ve-zes com uso da força (à épo-ca, o país era governado pela ditadura do general Augusto Stroessner). “Faziam promes-sas, diziam que iam reassen-tar e indenizar as pessoas. Tu-do fi cou só na teoria. Os que não aceitavam sair eram leva-dos por policiais e militares”, diz. “O que mais nos dói é que obrigaram as comunidades a sair, mas as áreas não foram alagadas. Hoje estão ocupa-das por grandes fazendas.”
Rivarola diz que o contras-te com a situação das comu-nidades brasileiras, que já re-ceberam indenização de Itai-pu, é gritante. “Aqui elas já têm escolas, postos de saú-de. Lá, ninguém recebeu um
tostão de Itaipu, o dinheirofoi todo embolsado pelos cor-ruptos do país”, relata. Mes-mo o governo de FernandoLugo, que quebrou a hege-monia centenária das oligar-quias no poder, ainda não foicapaz de reverter a situação.Ele lembra: “Durante muitotempo os liberais continua-ram mandando em Itaipu, re-centemente é que foi reverti-da a situação. Esperamos queseja montado um programade apoio ao desenvolvimentodos povos indígenas. Até ago-ra, o que há é, no máximo, as-sistencialismo”.
O Estado contraSe o evento de Diamante
D’Oeste pode ser considerado um marco na relação dos Gua-rani com os governos da re-gião – uma vez que, pela pri-meira vez, surge a possibilida-de de serem ouvidos como um povo pelo conjunto dos países que habitam –, vale lembrar que não chega a ser inédito, considerando apenas a articu-lação que promoveu.
Desde 2007, um grupo de organizações indígenas e indi-genistas promove a campanha independente Povo Guarani, Grande Povo, com o objeti-vo de articular as populações Guarani dos diversos países e lutar pelo reconhecimento de seus direitos. A iniciativa sur-giu como fruto do 1º e do 2º Encontro Continental do Povo Guarani, realizados ambos no Rio Grande do Sul, em 2006 e 2007. O primeiro desses en-contros, em São Gabriel, lem-brou os 250 anos do martírio do herói Sepé Tiaraju e reuniu mais de mil Guarani de Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai.
Ainda que, no Brasil, o go-verno federal se mostre mais permeável ao diálogo com os indígenas, vale lembrar que o encontro do Paraná origi-nalmente estava programado para ocorrer no fi nal de 2008 entre Dourados e Caarapó, no Mato Grosso do Sul. Foi trans-ferido porque não só os polí-ticos locais se negaram a dar apoio à realização do evento como ainda hostilizaram os organizadores.
Segundo fontes ouvidas pe-la reportagem, autoridades da região chegaram a dizer que seria uma “afronta” aos go-vernos locais a realização do evento. Boatos começaram a circular dando conta de que os fazendeiros se articulavam pa-ra armar um confronto com os índios caso houvesse o evento, e, por fi m, o Ministério da Cul-tura resolveu transferi-lo devi-do à “falta de segurança”.
No Mato Grosso do Sul vi-vem 45 mil dos 55 mil Guara-ni que moram no Brasil. A ten-são entre índios e fazendeiros aumentou na região depois que, em 2008, a Funai editou portarias de demarcação de terras em 26 municípios da re-gião sul do Estado. Desde en-tão, o governo de André Pucci-nelli (PMDB) e seus prefeitos aliados vêm assumindo postu-ra sistematicamente contrária aos índios – chegando a dis-ponibilizar recursos públicos para que fazendeiros contes-tem os estudos antropológi-cos que defi nem as terras a se-rem declaradas como de ocu-pação indígena tradicional. Vários indígenas já morreram ou foram feridos em confron-tos desde então.
“Em muitas regiões do Bra-sil, os Guarani são discrimina-dos e perseguidos, impedidos de acessar seus direitos. Isso é inadmissível”, afi rmou o mi-nistro Juca Ferreira no encon-tro. Em entrevistas e conver-sas que manteve em Añete-te, ele lamentou a transferên-cia do evento. Por enquanto, a verdadeira afronta, dos políti-cos sul-matogrossenses ao po-der federal e aos direitos indí-genas, fi ca por isso mesmo.
Encontro Guarani: entre a beleza dareunião e as contradições da políticaMOVIMENTO INDÍGENA Em evento com lideranças vindas de Argentina, Bolívia, Paraguai e diferentes regiões do Brasil, os Guarani puderam dialogar pela primeira vez, de forma conjunta, com representantes dos estados
Williams diz que os Guarani da Bolívia não veem contradição entre participar da vida política do país e manter suas tradições
“O que mais nos dói é que obrigaram as comunidades a sair, mas as áreas não foram alagadas. Hoje estão ocupadas por grandes fazendas.”
Boatos começaram a circular dando conta de que os fazendeiros se articulavam para armar um confronto com os índios caso houvesse o evento
Spensy Pimentel

de 18 a 24 de fevereiro de 20108
cultura
Pena Branca dedilha a viola na varanda esperando o “bichinho sem-vergonha”
Aloisio Milanide São Paulo (SP)
A VARANDA da casa no Ja-çanã, no caminho da Serra da Cantareira, em São Paulo, era um pequeno paraíso: “lugar das ‘prantinha’ e dos ‘passa-rim’”, dizia Pena Branca. “Ali, também toco minha viola”. O instrumento de dez cordas era de estimação, cravado no tam-po seu nome, preso ao pesco-ço com corda fi na. O braço da viola ainda era outra farra. O cantor foi fotografado certa vez com o truque matuto de pendurar na viola um bebe-douro de beija-fl or. Então, só aguardava os “cumpanheiro”. “Mano, cuitelinho é um bichi-nho sem-vergonha, qualquer água com açúcar ele vem mes-mo”, comentava às risadas. Pena Branca nunca fi cou rico com sua música, mas vivia ex-clusivamente dela desde a dé-cada de 1980, quando abriu com o irmão Xavantinho uma nova trilha entre os caipiras. Morreu no dia 8, depois de um infarto fulminante, den-tro de casa. Aos 70 anos, com alma de criança, Pena Branca partiu e fi ndou a história de uma das principais duplas da música de raiz.
José Ramiro Sobrinho – no-me de batismo de Pena Bran-ca – nasceu no dia 4 de se-tembro de 1939, poucos dias depois da invasão da Alema-nha sobre a Polônia, na Se-gunda Guerra Mundial. Mas a pequena Igarapava, no in-terior paulista, era bem lon-ge. As notícias só chegavam pelo rádio na colônia de tra-balhadores da fazenda Usi-na Junqueira, onde o pai de Pena Branca morava. Famí-lia de negros fortes, frondo-sos, bonitos. Na mesma cida-de, no mesmo ano, havia nas-cido Jair Rodrigues, outro ne-gro da música. Em entrevis-tas gravadas com o autor des-te artigo nos últimos anos, Pe-na Branca contou sua histó-ria. “Com 10 dias de vida, meu pai se mudou com a gente pa-ra Cruzeiro dos Peixotos, uma vilinha perto de Uberlândia”, dizia. Pena Branca se tornou mineiro de criação. “Comecei a falar muito ‘uai, né’”, brinca-va, “e meu irmão Xavantinho é mineiro de inocente”. Am-bos conheceram cedo as festas religiosas enfeitadas de músi-ca. Acompanhavam o pai, to-cador de cavaquinho, nas fo-lias de reis para adorar o me-nino Jesus e nas congadas em devoção à Nossa Senhora do Rosário.
Do Cio da Terra“Naquela época a gente to-
mava conta de uma fazenda. Quem era arrendatário era ar-rendatário. Quem era meiei-ro era meieiro. A gente ar-rendava, mas era tanto tem-po ali que sentíamos como se a terra fosse nossa”, disse. Pe-na Branca era três anos mais velho que o irmão Xavantinho – na verdade, Ranulfo Rami-ro Sobrinho. O mais antigo
Pena Branca,encantador de
cuitelinhos
aprendeu viola, o mais mo-ço, violão. No começo, viver a música era ver o pai. Por pou-co tempo, porque fi caram ór-fãos muito cedo, aos 12 e 9, respectivamente. Ambos fo-ram então para a lavoura, se-mear o sustento da mãe e cin-co irmãos. As toadas e modas de viola agora dividiam o tem-po com a enxada e o arado. “O ‘cabôco’ na roça, quando as-sim passa por uma tormenta, igual nós que ‘perdêmo’ nosso pai, fi ca de cara achando que ir para a cidade é boa saída. Mas chega aqui e não é assim. Se puder escolher, penso que o ‘cabôco’ passa ‘mió’ na roça, ‘quietim’”. Para ele, o que in-
teressa mesmo é o trabalha-dor ter “Tonico e Tinoco”. Sa-be o que é? “Arroz e feijão, is-so não pode faltar na mesa”. Pena Branca lembrava que es-sa rotina de fazenda levou 30 anos de sua vida. Fez os estu-dos até o “quarto ano”, nada mais. Só conseguiu se dedicar à cantoria depois de adulto.
No Triângulo Mineiro, a du-pla se apresentava nas fazen-das e nas pequenas rádios. Co-meçou com um nome pompo-so, dado por um coronel: Pe-roba e Jatobá. Mas não gosta-ram. Na semana seguinte, já era Barcelo e Barcelinho. Um dia, na escola, a professora fa-lava dos índios. “Ela disse que
tinha uns índios ainda mui-to fortes, os xavantes. Aí, eu olhei ‘pro’ meu irmão e disse: ‘tá aí’! O que acha de Xavante? Ele gostou. E o Xavante não tem fi lho? Xavantinho, uai”, recordava. Esse foi o nome da dupla até a partida de Xavan-tinho para a capital São Pau-lo em 1968. Ele estava empre-gado na transportadora Caçu-la como motorista de cami-nhão. No ano seguinte, arru-mou um emprego da mesma companhia para trazer o ir-mão mais velho e reunir a du-pla de outrora. Na chegada da capital, buscaram rádios ser-tanejas e festivais de viola. “A gente ‘ralemo’ demais”, conta-va. De cara, um revés. Já exis-tia em São Paulo uma dupla com o nome de Xavante. Pena Branca falava: “Eles vieram para nós e falaram que podía-mos comprar o nome deles. Aí pensamos: o que é isso? Nós, que viemos pobres de Minas e temos que comprar nome agora. Isso é esquisito demais. Aí virou Pena Branca e Xavan-tinho de 1970 para cá”.
Estrelas com raízesA dupla dos irmãos Pena
Branca e Xavantinho era co-mo se fosse um só. Forma-ram desde pequenos uma re-lação perfeita de vozes, como tinham os ídolos Tonico e Ti-noco. Ao estilo caipira, dividi-das em terças, as vozes eram coringas. Uma olhada de lado ou uma batida de viola os fazia trocar quem soltava primeira e segunda vozes. Os tons agu-dos dos dois faziam a diferen-ça. Chegavam às fi nais dos fes-tivais de música, mas ainda não levantavam o voo do su-cesso. Em 1980, numa apre-
MÚSICA CAIPIRA Ao lado do irmão Xavantinho, Pena Branca é dono de um invejável cancioneiro sobre o homem do campo.
Leia a seguir um perfi l recheado por entrevistas recentes em que Pena Branca fala da
vida e das cantorias
sentação da orquestra de vio-la de Guarulhos com a cantora Inezita Barroso, foram nota-dos como as vozes mágicas do grupo. “Eu cantava e não acre-ditava no que ouvia atrás de mim. Quando terminamos, vi-rei e disse que precisavam sair da orquestra para lançar a du-pla em disco. Eles eram mui-to bons. Pena me chamava de madrinha até hoje”, conta Ine-zita Barroso, na época estre-ante no comando do progra-ma Viola, minha viola. “Assim, eles se apresentaram pela pri-meira vez no programa can-tando ‘Velha morada’ e ‘Cio da terra’. Foi lindo”. Começava a carreira com 10 discos grava-dos – após a morte de Xavan-tinho, em 1999, Pena Branca seguiu carreira solo e gravou mais três discos, sendo que um ganhou o Grammy Latino de melhor disco sertanejo.
Colecionaram amigos na música caipira. Eram adora-dos. “E dobra esse carinho aí para a MPB”, dizia Pena Bran-ca. Isso porque misturaram os gêneros dentro do sotaque caipira. “Não existia isso an-tes. Era cada um no seu can-to. Aí gravamos ‘Cio da Terra’. A gente levava na rádio serta-neja e eles falavam que aqui-lo era MPB. Na rádio de MPB, eles diziam que era coisa de caipira. Era de lá para cá”, di-vertia-se Pena Branca. O can-tor lembrava que um crítico musical paulistano dizia que Milton Nascimento tinha as-sinado o próprio atestado de óbito ao gravar com a dupla, “uns desconhecidos”. “Mas prefi ro não falar o nome de-le não. Deixa ele no anonima-to agora que é mais gostoso”, dizia. No rol de compositores
da MPB que gravaram, estão: Milton Nascimento, Chico Bu-arque, Renato Teixeira, Gui-lherme Arantes, Théo de Bar-ros, Djavan, Tom Jobim, Gil-berto Gil, Caetano Veloso, Do-minguinhos, Ivan Lins, Pau-lo César Pinheiro, João Per-nambuco, Hermínio Bello de Carvalho e vários outros. “Era queijo com marmelada para fazer Romeu e Julieta... quer dizer, é goiabada, né? (risos)”, resumia Pena.
... “os óio se enche d’água”“O disco que fi z com eles, em
1992, ao vivo em Tatuí é um marco na minha carreira e na deles”, conta o amigo Renato Teixeira. Pena Branca adora-va a música “Cuitelinho”, fol-clore recolhido e adaptado por Paulo Vanzolini. A música era fi gurinha carimbada em seus shows. Depois de 1999, contu-do, se sentia sozinho. A morte precoce do irmão Xavantinho, de uma doença degenerativa na medula, o levou a seguir carreira solo. Precisava conti-nuar a cantar. Era o que sabia fazer e ainda precisava se sus-tentar. Mantinha um grupo de amigos músicos para se apre-sentar em Uberlândia e outro em São Paulo. Emocionava-se sempre com a lembrança do irmão, segundo ele, “o ca-beça da dupla, o estudado, o letrista, é uma parte de mim que foi embora”. Várias pes-soas lhe diziam que viam ou sentiam a presença do irmão em seus shows. Pena acredi-tava. “Eu sinto o mano ‘véio’ mesmo. Ele me ajuda demais. E rezo muito para ele”, falava. “Ele divide espaço com meu anjo da guarda”.
Caipira de nascença e cria-ção, Pena Branca vivia na zo-na norte paulistana há mais de 40 anos. Montava ali o seu reduto roceiro. Gostava de co-mer em casa, cozinhava mui-to bem, não abria mão de um queijo fresco. Sua última apre-sentação na TV foi justamente no Viola, minha viola onde cantou “Vaca Estrela e Boi Fu-bá”, “Peixinhos do mar” e “Cio da terra”. No dia de sua morte, dizem os amigos, teve um dia normal, até tocou viola. Pas-sou mal no começo da noite, depois de um dia de forte ca-lor na capital. Socorrido após o infarto, não resistiu. Foi en-terrado no túmulo onde está o seu irmão, Xavantinho. Nova-mente juntos. A dupla de pre-tos com nome de índios, bem brasileiros.
“O disco que fi z com eles, em 1992, ao vivo em Tatuí é um marco na minha carreira e na deles”, conta o amigo cantor Renato Teixeira
“Eu cantava e não acreditava no que ouvia atrás de mim. Quando terminamos, virei e disse que precisavam sair da orquestra para lançar a dupla em disco. Eles eram muito bons. Pena me chamava de madrinha até hoje”
Rep
rodu
ção
Rep
rodu
ção
Secom/MG

de 18 a 24 de fevereiro de 2010 9
américa latina
Fachada do BCRA, em Buenos Aires: Fundo do Bicentenário desagrada esquerda e direita argentina
Reprodução
Dafne Meloda Redação
NESTE ANO, a Argentina co-memora 200 anos de sua in-dependência. A presidente do país, Cristina Fernández de Kirchner, resolveu comemo-rar de uma maneira que de-monstra muito o perfi l do seu governo na área econômica: pagando a dívida externa.
No fi nal do ano passado, o governo federal anunciou a criação do Fundo do Bicen-tenário, formado com parte de reservas que o Banco Cen-tral da República Argentina (BCRA) possui em moedas es-trangeiras. Dos 47 bilhões de dólares acumulados hoje pela instituição, seriam usados 6,6 bilhões para pagar vencimen-tos da dívida.
A medida foi rechaçada pela oposição conservadora e tam-bém pela esquerda. Enquan-to os primeiros – representa-dos pelos partidos União Cí-vica Radical (UCR), Propos-ta Republicana (PRO) e Coali-zão Cívica – pregam medidas ainda mais ortodoxas, suge-rindo que os vencimentos se-jam pagos com novos endivi-damentos e apertos fi scais, os segundos questionam a legali-dade da dívida externa argen-tina e exigem que seja realiza-da uma auditoria.
Contra essa proposta, con-servadores e ofi cialistas se uniram rapidamente: am-bos rejeitam qualquer pos-sibilidade de seguir o exem-plo equatoriano (ver matéria nesta página). De acordo com o historiador argentino Ale-jandro Olmos Gaona, há do-cumentos, testemunhos e de-clarações de peritos do BCRA que afi rmam que 95% da dí-vida externa é ilegal, ou seja, contraída por meio de frau-des. “Por que temos que pagar uma fraude?”, questiona.
Crise políticaO governo de Cristina Kir-
chner, desde as desavenças com o setor agroexportador, em 2008, tem tido difi culda-de para se fortalecer. Hoje, a oposição está até mesmo den-tro do governo, na própria vi-ce-presidência. De viagem marcada para a China e Bo-lívia em janeiro, a presidente decidiu adiar os compromis-sos para não deixar Júlio Co-bos em seu lugar justamen-te durante a crise política que se instaurou após o anúncio do uso dos fundos. “Essa via-
gem me obrigaria a fi car dez dias fora, muito tempo, levan-do em conta que o vice-presi-dente não cumpre seu papel”, disse Cristina.
A crise se iniciou após o pre-sidente do BCRA – que lá pos-sui autonomia –, Martín Re-drado, se negar a resgatar a quantia exigida para compor o Fundo Bicentenário. O Exe-cutivo, então, pediu sua re-núncia. Redrado se negou a sair do cargo, e o governo, por decreto, o retirou da presidên-cia da instituição, no dia 8 de janeiro.
Na Argentina, o presidente do BCRA é indicado e destitu-ído pelo Congresso. Com esse argumento e invocando tam-bém a autonomia da institui-ção, a oposição de direita ba-teu o pé, e a Justiça cancelou a medida de Cristina. Outra determinação judicial afastou Redrado, deixando sua per-manência a ser decidida pe-lo Congresso – em recesso até março.
Dias depois, o Banco Cen-tral dos Estados Unidos em-bargou fundos argentinos de-positados ali. A bolsa argen-tina despencou, o dólar dis-parou e o pânico econômico ameaçou se instalar no país que ainda tem vivo na memó-ria a crise de 2001. Apesar dis-so, a oposição se viu obrigada a recuar. Pesquisas apontam que 60% da população apoia a criação do Fundo do Bicente-nário. Redrado acabou renun-ciando no fi m de janeiro.
Dívida ilegalPara a esquerda, o debate
público gerado por conta da crise política, que ocupou dia-riamente espaço na imprensa corporativa do país, tem sido a oportunidade para questionar a legalidade da dívida argen-tina. A justifi cativa do gover-no federal diante da proposta de auditoria foi afi rmar que o passivo contraído pelo país foi legalizado pelo primeiro presi-dente argentino que assumiu após o fi m da última ditadura (1976-1983), Raúl Alfonsín.
Para Alejandro Olmos, o argumento é insustentável. “É um princípio elementar da ordem jurídica que os atos ilí-citos não podem gerar conse-quências lícitas”, defende. O historiador ainda afi rma que nunca foi do interesse do go-verno Kirchner – seja com Néstor ou Cristina – auditar a dívida.
“Em nenhum momento houve o menor interesse em
auditar a dívida, só de seguir pagando. Eu enviei uma car-ta à presidente no dia 14 de ja-neiro. Há três dias, ela foi res-pondida, resgatando o grande trabalho de investigação do meu pai, mas afi rmando que devemos pagar a dívida, pois ela foi legitimada”, conta Ol-mos, para quem dívida exter-na é também assunto de famí-lia. Seu pai – Alejandro Ol-mos –, falecido em 2000, foi pioneiro nos estudos da con-tração da dívida argentina e entrou na Justiça, em 1982, para provar sua ilegalidade, exigindo a punição de fun-cionários da ditadura mili-tar. Em 2000, pouco após sua morte, um juiz declarou pres-crita a ação, mas reconheceu a validade dos argumentos de Olmos, que servem de ba-se até hoje para os movimen-tos que lutam pela auditoria da dívida.
Ditadura militar“Esse tema me acompanha
há anos e o associo aos 30 mil
mortos e desaparecidos da di-tadura militar, ao meu fi lho e ao povo que paga as conse-quências de uma dívida que não contraiu”. As palavras de Nora Cortiñas, da Associação Mães da Praça de Maio – Li-nha Fundadora, revela o que boa parte do povo argentino não sabe: o processo brutal de endividamento a que o pa-ís foi submetido durante a úl-tima ditadura militar, origem do problema no país.
“Quando começou o regi-me, a dívida era de 8 bilhões de dólares, que correspondia a empréstimos reais. Ao seu término, o passivo era de 46 bilhões”, explica Gaona. Ele acrescenta que o endivida-mento era parte de uma políti-ca econômica que tinha como base o aumento das importa-ções, enfraquecimento da in-dústria nacional e endivida-mento de empresas públicas – sem que essas precisassem de fato do dinheiro, desviado pa-ra o tesouro nacional.
Desde então, a bola de neve só aumentou, incrementada pelos anos de neoliberalismo selvagem na década de 1990. Hoje, o passivo total é de 145 bilhões de dólares (50% do PIB), boa parte dele forma-do por dívidas contraídas por empresas privadas e transfe-ridas ao Estado por meio de fraudes. O Nobel da Paz Adol-fo Pérez Esquivel tem encabe-çado também a campanha pe-la auditoria. “Quanto mais pa-gamos, mais devemos e menos temos. É uma transferência de capitais por meio de uma dívi-da ilegal que signifi ca fome e marginalidade para o povo”, afi rma. (Com informações do Infosur – www.infosur.info)
Governo Kirchner quer pagar a dívida externa. Mais uma vez ARGENTINA Cristina Kirchner briga com conservadores e desagrada a esquerda com medida que usa fundos estrangeiros para pagar vencimentos da dívida
da Redação
O Equador provou que au-ditar a dívida externa não é nenhum bicho de sete cabe-ças. Enquanto a maioria dos governos latino-americanos resiste à proposta (ver caso do Brasil na página 3) e de-monstra total falta de interes-se político em fazê-lo, o gover-no de Rafael Correa decidiu, em 2007, formar uma equipe para avaliar quanto da dívida do país era fraudulenta.
Dentre os integrantes, es-tava o historiador argenti-no Alejandro Olmos Gaona. “O exemplo equatoriano é
importante porque foi a pri-meira vez que um governo se atreveu a auditar suas contas públicas”, afi rma. De acordo com dados da Auditoria Ci-dadã, a América Latina, em 1970, devia ao exterior 32,5 bilhões de dólares. Em 2002, devia 727 bilhões de dólares, mesmo tendo pago 193 bi-lhões de dólares a mais do que devia.
A auditoria realizada pelo Equador – que foi concluída em 2008 – concluiu que mais da metade da dívida do país era fraudulenta. Da posse dos estudos, o governo equatoria-no tem conseguido negociar seus passivos em outro pata-mar, ainda que abaixo do de-sejado. “A situação difícil do Equador, como resultado da crise internacional e da que-da dos preços do petróleo, im-pediu que o país conseguisse impugnar parte da dívida em Nova York”, diz Gaona. O his-toriador destaca também que, no caso equatoriano, há uma
série de processos legais sen-do movidos contra ex-funcio-nários do Estado, acusados das fraudes.
Outro ponto positivo é que o estudo da dívida nesse país – com livre acesso a documentos – possibilitou identifi car padrões de endi-vidamento que certamente ocorreram em todos os ou-tros países, além de obter números que deixam claro o caráter espoliativo dos me-canismos de empréstimos. No Equador, por exemplo, de todos empréstimos con-traídos entre 1989 e 2006, 14% foi utilizado em proje-tos de desenvolvimento so-cial e os 86% restantes, usa-dos para pagar vencimentos da própria dívida acumula-da. De 1982 a 2006, o Equa-dor pagou quase 120 bilhões de dólares, enquanto que re-cebeu apenas 106 bilhões em novos empréstimos; ou seja, contraiu uma dívida de cerca de 14 bilhões. (DM)
O exemplo equatorianoPaís foi o primeiro da América Latina a realizar uma auditoria ofi cial da dívida externa

de 18 a 24 de fevereiro de 201010
américa latina
Bolivianos tomam as ruas de Cochabamba, em 2000, em mobilização que deu início às transformações políticas no país
Vinicius Mansurcorrespondente em
La Paz (Bolívia)
A GUERRA DA Água – mas-siva mobilização popular que expulsou a transnacional que geria o sistema de água potá-vel e esgoto de Cochabamba, região central da Bolívia, em 2000 – completa uma déca-da este ano, que marcam tam-bém o início da derrota do modelo neoliberal e o come-ço do atual “processo de mu-dança”.
Para a Federação Departa-mental Cochabambina de Re-gantes (Fedcor), que organiza os moradores de comunida-des rurais e urbanas dotadas de sistemas comunitários de água, a guerra, porém, come-çou ainda em 1999. Atentos ao problema dos recursos hí-dricos, a Fedcor foi vanguarda na luta contra a privatização do sistema de água potável e esgoto de Cochabamba, reali-zando bloqueios já nos dias 4 e 5 de novembro daquele ano.
“Criaram a lei 2.029 para permitir a privatização, mas não só venderam a empresa pública [Semapa] como per-mitiram à Águas do Tunari [consórcio de empresas bene-fi ciado] ser dona de todas as fontes de água”, explica Car-men Peredo, atual senadora suplente pelo Movimento ao Socialismo (MAS) e então di-rigente da Fedcor. De acordo com o representante da orga-nização Água Sustentável, Os-car Campanini, os regantes se levantaram primeiro porque o contrato signifi cava a per-da de sistemas comunitários que sequer haviam sido cria-dos pelo Estado. “Nas áreas rurais, eles são anteriores até mesmo à Bolívia, foram cria-dos durante o Império Inca, com o trabalho e o dinheiro da comunidade, geridos até ho-je de forma comunitária pe-las organizações camponesas ou indígenas. Nas áreas urba-nas, diante da ausência do Es-tado na periferia, esses siste-mas são a mescla da experiên-cia organizativa dos mineiros, que migraram para a cidade com o desmonte do setor pelo neoliberalismo, com essa tra-dição comunitária daqueles que migraram da área rural. Só na zona sul de Cochabam-ba existem cerca de 100 siste-mas comunitários que aten-dem a quase 200 mil pesso-as. Nos municípios do entor-no, são cerca de 800”, relata Campanini.
Porém, em janeiro de 2000, o anúncio de incremento de mais de 100% nas tarifas fei-to pela Águas do Tunari cai como uma bomba na cidade Cochabamba e dá início a um massivo e extenso processo de mobilização que ocupa as ru-as da cidade, e até mesmo de outros departamentos bolivia-nos, até abril de 2000, quando a empresa é expulsa do país. A população se revolta contra o consórcio encabeçado pela es-tadunidense Bechtel, que pro-meteu um projeto de 300 mi-lhões de dólares para resol-ver os problemas de abaste-cimento da cidade, mas que, em sua conformação, concre-tizada dois dias antes da assi-natura do contrato de conces-são, declarava, em sua ata de fundação, apenas 10 mil dóla-res de capital.
As vitórias políticasPara Ramiro Saravia, mili-
tante da Rede Tinku – orga-nização político-cultural que
tem como sede a principal praça da cidade (14 de Setem-bro) –, a Guerra da Água “foi uma escola de participação, de gente, na rua e na praça, que perdeu o medo e passou a ter confi ança em si, articulada pe-la Coordenadora da Água e da Vida”, instância que dirigiu as mobilizações e aglutinou to-dos os setores de Cochabam-ba, organizados ou não, “com democracia direta, da forma como sempre sonhamos”, re-lembra Saravia.
“Foram quase seis meses de mobilização permanente, to-das as ruas, highlones [bur-guesas] ou não, estavam blo-queadas, sem exceção. Foi a primeira vez, depois de mui-to tempo, que se viu a unida-de de diferentes classes e a aliança do campo com a cida-de”, relata a senadora suplen-te do MAS.
Segundo o historiador, dire-tor da escola de formação po-lítica itinerante do MAS e pre-feito interino de Cochabam-ba em 2008, Rafael Puente, “a novidade política foi a ca-pacidade de auto-organiza-ção massiva na cidade”. Con-tudo, ele ressalta que o movi-mento não teria tal magnitude “se não estivesse permanente-mente respaldado por um cor-dão camponês que apoiava e defendia a mobilização urba-na, tanto na Cordilheira co-mo no Vale e no Trópico de Cochabamba”. De acordo com Puente, a guerra foi o ponto de infl exão do modelo neoli-beral, “a primeira de muitas demonstrações de que a ma-nutenção do modelo no país só seria possível a ferro e fo-go” e, por isso, o início do atu-al processo de câmbio.
Ele conta que, “pela pri-meira vez, a mobilização so-cial não levantava uma ban-deira de volta ao passado, à Revolução de 1952, mas uma visão adiante. A consigna era clara: a gestão social da água. O quarto grande bloco históri-co da vida republicana do pa-ís, que foi o modelo neoliberal, se manteve intacto até 2000. Mas a expulsão da Águas de Tunari foi a sua primeira grande ferida”.
Segundo a senadora su-plente Peredo, os guerreiros da água infl uíram de forma direta na Nova Constituição Política de Estado, colocan-do os recursos hídricos co-mo um direito humano fun-damental e estabelecendo “cadeados jurídicos que im-pedem a volta da tragédia”. Campanini afi rma que a ex-periência acumulada com o confl ito levou a Bolívia a en-cabeçar a luta pelo reconheci-mento da água como um di-reito nos fóruns internacio-nais, “mas isso não é reali-dade porque países maiores, como o Brasil, jogam para o outro lado”.
Outros legados da Guer-ra da Água destacados por Campanini são a expulsão da transnacional franco-bel-ga Suez de El Alto, em 2005, o aumento dos investimen-tos do Estado boliviano em água e o aumento da visibili-dade dos sistemas comunitá-rios: “Os anteriores governos atendiam, e mal, a parte cen-tral das cidades e o campo, mas não as zonas periurba-nas, que têm uma gestão co-munitária muito interessante, mas precisam de ajuda técni-ca e de infraestrutura. Com a luta, eles são vistos pelas po-líticas públicas e já ganharam boa parte dos fundos públicos para o setor”.
A dívida históricaPorém, segundo Puente, a
bonita história do exercício do poder popular não conse-guiu resolver velhos proble-mas. “Temos que dizer com frieza: essa gestão social não existe, a administração se-gue inefi ciente, injusta e ca-ra. Houve uma modernização tecnológica, aumentaram um pouco as conexões, mas na-da perto do que se esperava. Ganhamos a guerra, mas não conquistamos a paz”.
Segundo Campanini, cer-ca de 50% da rede deveria ser reinstalada porque, do volu-me total captado pela Sema-pa, metade se perde com va-zamentos. “Trabalhadores já comentaram que foram tro-car tubos em alguns lugares, cavaram, mas não os encon-traram. Os tubos estavam tão desgastados que eram sim-plesmente canais de terra ou pedra”, conta. Outro proble-ma está nas conexões clandes-tinas manipuladas por grupos de trabalhadores da empresa e por políticos. “Aí esses gru-pos cobram por fora e, alia-dos a segmentos políticos, fa-zem chantagem eleitoral com a população, prometendo no-vas conexões”, denuncia.
Em Cochabamba, boa parte da população ainda se abas-tece de carros-cisterna pri-vados que cobram 20 bolivia-
Dez anos de mudança: “Ganhamos a guerra, mas não conquistamos a paz”BOLÍVIA Guerra da Água completa 10 anos, mas, junto aos frutos políticos da vitória popular, são colhidos amargos fracassos administrativos
Cronologia da Guerra da Água3 de setembro de 1999 – Assinado contrato entre governo e Águas do Tunari.
20 de outubro – Promulgada lei 2.029, chamada de “Serviço de Água Potável e Esgoto”.
4 e 5 de novembro – Os regantes iniciam os bloqueios de ruas e estradas.
12 de novembro – Criação da Coordenadora da Água e da Vida.
11, 12 e 13 de janeiro de 2000 – A Coordenadora organiza um grande bloqueio con-tra o aumento das tarifas em mais de 100% e contra a lei 2.029. Governo se comprome-te a rever as tarifas e a lei.
4 e 5 de fevereiro – A Coordenadora realiza a tomada de toda cidade, e o Exército vai às ruas. Governo assina documento se comprometendo a retomar as tarifas anteriores.
26 de março – A Coordenadora realiza um referendo com mais de 50 mil votantes a fa-vor da expulsão de Águas do Tunari.
4 de abril – Convocação de bloqueio indefi nido.
6 de abril – Em reunião de negociação, prefeitura declara presos os dirigentes, e gover-no central declara estado de sítio. Cerca de 50 mil pessoas tomam a praça central, onde está a sede da prefeitura. O prefeito volta atrás, desmente o estado de sítio e comunica a saída de Águas do Tunari da cidade.
7 de abril – Governo central nega o rompimento do contrato. Prefeito de Cochabamba renuncia e um novo estado de sítio é declarado. Vinte e dois dirigentes são presos.
8 de abril – As estradas de todo o Altiplano da Bolívia são bloqueadas, os enfrentamen-tos crescem e deixam um morto. Mas Exército e polícia se retiram aos quartéis, e a cida-de fi ca nas mãos dos manifestantes.
9 de abril – Aniversário da Revolução de 1952. Autoridades pertencentes ao MNR (par-tido da Revolução) comparecem ao enterro do jovem assassinado e são agredidos pelos manifestantes. Governo central anuncia saída de Águas do Tunari.
10 de abril – A Coordenadora exige documento do governo ofi cializando sua posição. Ele se nega e acusa a rebelião de Cochabamba de ser fruto do “narcotráfi co”. Manifestan-tes iniciam marcha massiva, e governo realiza a rescisão do contrato.
11 de abril – Parlamento aprova a lei com as modifi cações propostas pela Coordenado-ra. No campanário da Igreja localizada na praça central de Cochabamba, é encontrado enforcado o jovem Juan Rodriguez, responsável por, durante a guerra, avisar a popula-ção da chegada do Exército e da polícia com os toques do sino.
12 de abril – Terminam os bloqueios.
14 de abril – Presos são libertados e familiares de mortos e feridos, indenizados.
Dados retirados do livro La guerra por el agua y por la vida, de Ana Esther Ceceña. Um documentário sobre a Guerra da Água pode ser encontrado no endereço eletrônico http://
www.fundacionabril.org/detallesvideolista0.php?codigo_trailer=7&tema_trailer=Guerra%20del%20Agua.
nos (R$ 5,27) pelo metro cú-bico de água de baixa quali-dade. A mesma quantidade, e de boa qualidade, fornecida pela Semapa custa em média 3 bolivianos.
“Eu pago mais de água do que luz, e com frequência te-mos escassez de água em toda a cidade. E a Semapa ainda contratou outra empresa só para efetuar cortes de quem não paga, é incrível”, relata, cabisbaixo, Saravia.
Mais triste do que consta-tar a continuidade de proble-mas estruturais é ouvir por-que o movimento que expul-sou uma transnacional não assumiu o controle da em-presa. Segundo o historiador Puente, “os dirigentes come-çaram a disputar a notorieda-de. Os dirigentes da Coorde-nadora claudicaram e vários deles aproveitaram o papel
importante que tiveram pa-ra obter vantagens pessoais e passaram a partidos de direi-ta”. Saravia afi rma que a Co-ordenadora funcionou bem até 2002, quando chegaram as eleições e todos os 15 prin-cipais dirigentes foram can-didatos. “Ofereceram depu-tação até para nós, mas não aceitamos porque o princípio da Coordenadora era a deci-são conjunta, mas vimos que todos já tinham decidido e es-távamos sós”.
Na visão de Peredo, ex-di-rigente da Fedcor, que tinha assento na direção da Coor-denadora, o órgão se diluiu “porque outros companhei-ros tinham sua própria ótica e não havia a mesma lingua-gem”, gerando uma paralisia na organização que foi fun-dada no consenso. “Perdemos muito tempo e quando não fa-
zemos a coisa no calor do mo-mento, perdemos a oportuni-dade. Demoramos meses pa-ra fazer um novo estatuto da Semapa, mas havia muitas di-vergências sobre como deve-ria ser a empresa. Temos uma dívida histórica”, concluiu.
O sindicalista Oscar Olivei-ra, consolidado na opiniãopública como principal diri-gente da guerra, é apontadocomo um dos grandes res-ponsáveis pela má conduçãoda reestatização por Puente.“Ele superestimou o momen-to histórico e seu papel, di-zendo já em 2000 que o temada água já era pequeno e quese dedicaria a lutar contra tu-do o que foi o processo de ca-pitalização das empresas pú-blicas na Bolívia. Evidente-mente era a batalha central,mas que se deu com o tempo.Assim, deixou a questão paraJorge Alvarado, um compa-nheiro com méritos, mas quese isolou em meio às disputase se perdeu na burocracia”.
O integrante da Rede Tinku, Saravia, eleva a crítica a Oli-veira. “Fizeram da luta um ne-gócio, e com o dinheiro que deram a Cochabamba o Oli-veira criou a Fundação Abril, que se especializou no tema água”.
Até mesmo o pequeno avanço conseguido na gestão da empresa – a eleição dire-ta pela população de três dire-tores da Semapa – se perdeu. Segundo Puente, “no primei-ro ano teve certo efeito, ele-gendo lutadores que partici-param da luta, mas alguns de-les tardaram pouco a somar-se à burocracia e à corrupção nesta e em outra instância. E a fé da cidadania diminuiu tão rapidamente que, faz dois anos, um candidato era eleito por 400 votos, num universo de 300 mil eleitores”.
Mesmo diante de tantas de-cepções, Saravia comenta quea derrota do neoliberalismofoi tão acachapante que o dis-curso privatista não ressur-giu. “O povo sabe que isso épagar mais. O povo quer quemelhore o serviço e que nãohaja corrupção”, sentenciou.
A Guerra da Água “foi uma escola de participação, de gente, na rua e na praça, que perdeu o medo e passou a ter confi ança em si”
Tom Kruse

de 18 a 24 de fevereiro de 2010 11
áfrica
Moçambicanas trabalham em lavoura: campesinato é peça-chave no desenvolvimento do país
Douglas Mansur/Novo Movimento
Ana Maria Amorimde Maputo (Moçambique)
VIVER EM Moçambique é presenciar uma história re-cente. O país, independente desde 1975 do domínio portu-guês, ainda dá passos iniciais na cidadania. É somente nos anos de 1990 que começam as eleições multipartidárias, e é nessa mesma década que é aprovada a Lei de Terras, que reforça a posse estatal da pro-priedade rural. Dentro desse fervor de mudanças, está o campesinato, peça-chave do desenvolvimento do país e da organização popular.
Atravessando todas as pro-víncias de Moçambique, o movimento social que reú-ne os camponeses é a União Nacional dos Camponeses, a Unac. Em conversa com o seu presidente, Renaldo Chingo-re João, e com o presidente da Mesa da Assembleia Ge-ral da Unac, Ismael Ossuma-ni, pode-se fazer um retrato dos passos da organização, das experiências que a inspi-raram e dos desafi os coloca-dos ao país.
Brasil de Fato – Dentro da história de Moçambique, onde e como se encontra a criação de um movimento nacional dos camponeses, no caso, a Unac?Renaldo Chingore João – A Unac surgiu da vontade dos próprios camponeses. Em Moçambique, os trabalhado-res rurais começaram a se or-ganizar desde o tempo colo-nial e, com a independência, a organização foi fortalecida, pois o movimento de liberta-ção nacional opera de forma coletiva nas zonas do país, e essa experiência foi absorvida pelas comunidades do cam-po. Na fase de transição en-tre o governo colonial e a in-dependência, com a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) liderando, viu-se a oportunidade de os campone-ses se benefi ciarem do traba-
Na organização dos camponeses, um retrato do campo em MoçambiqueCAMPO Em entrevista, lideranças da Unac analisam a formação da entidade pela luta por um desenvolvimento alternativo
lho no campo de forma orga-nizada, pois as famílias portu-guesas, com a independência, abandonaram as terras do pa-ís. Para fortalecer o campe-sinato, a Frelimo investiu na criação de cooperativas.
O governo se viu na obri-gação de dar assistência aos camponeses, como o fi nancia-mento nos bancos, e o resul-tado foi uma boa produção no setor familiar e a criação de algumas empresas estatais. Em 1987, o governo foi for-çado a mudar a política, co-ordenando a política nacional com a internacional, voltando a nossa economia para o mer-cado, com benefício do Ban-co Mundial e do Fundo Mo-netário Internacional (FMI). Com novas obrigações, Mo-çambique teve que cumprir novas regras, e assim o go-verno começou a recuar no apoio às cooperativas campo-nesas e passou a abrir espaço para o setor privado. Essa si-tuação levou as organizações a promoverem uma Assem-bleia Geral para debater e re-fl etir em conjunto como seria o futuro das cooperativas sem o apoio do governo. Ela se transformou em uma reunião nacional na qual os campo-neses decidiram pela criação de uma organização para re-presentar todos os campone-ses do país, o Núcleo de Apoio às Cooperativas do País. Seis anos depois, após o fortaleci-mento das ideias, funda-se a Unac.
Então a mudança da política da Frelimo fez os camponeses repensarem a sua forma de organização.Renaldo – Exatamente.Ismael Ossumani – A Frelimo começou a ter uma orientação no sentido do so-cialismo, embora enquanto movimento de libertação isto não estivesse colocado. A ins-piração no socialismo tam-bém se deu pelo fato de Por-tugal ser um país do ociden-te – para conseguir a liber-tação, a Frelimo foi atrás do apoio do bloco da União Sovi-ética. Além disso, a juventude era infl uenciada pelas revolu-ções da época, de Mao Tsé-Tung [China] e de Fidel Cas-tro [Cuba]. Assim, a respos-ta de Portugal foi propagan-dear contra os sistemas co-munistas. Em 1977, a Frelimo transforma-se em um partido marxista-leninista declarada-mente. Aí começa uma nova etapa: aquilo que era um mo-vimento, uma frente ampla, começa a fazer uma seleção a partir da ideologia.
A oposição a esse movimen-to, que converge na Resistên-cia Nacional de Moçambique (Renamo), é protagoniza-da pela Rodésia (atual Zim-bábue) e pela África do Sul do apartheid, na África, por-que a libertação de Moçam-bique era uma má infl uência para os povos de seus países. O apoio se completava com os portugueses, que tinham interesses em continuar do-minando o país. É diante des-sa conjuntura que Moçambi-que não encontra outra saída para ter negociações de paz a não ser abrindo o seu mer-cado, mudando a política. O que moveu esta guerra foi o capitalismo, e tivemos que aderir ao Banco Central e ao FMI para obtermos a paz. Es-sa mudança acabou por ques-tionar se as cooperativas per-tenciam ao modelo socialista
ou se eram possíveis no capi-talismo, pois muitas pesso-as temiam que esse sistema acabasse. Como sabemos, o capitalismo suporta essa for-ma organizativa e amadure-cemos isso em seminários so-bre o futuro do cooperativis-mo em Moçambique, envol-vendo companheiros de to-das as províncias do país.
Nessas discussões já havia uma clareza do modelo de agricultura a ser defendido para o país?Ismael – Numa primeira fa-se não havia muita clareza do modelo de agricultura; o que estava sempre em nossa men-te era o apoio aos campone-ses, a defesa da terra, a busca de projetos de fi nanciamen-to. Depois do acordo de paz começa o programa de reas-sentamento da população re-fugiada algumas ONGs se en-gajam nessa causa, mas, du-rante o período da guerra, a maior parte das organiza-ções estavam voltadas para as ajudas humanitárias, co-mo a distribuição de comidas e roupas. Uma das poucas en-tidades que não estavam en-volvidas nessa parte humani-tária, e sim em como fazer os camponeses produzirem, era a Unac. Poucas organizações tinham experiência de traba-lhar com o campesinato para o desenvolvimento, a maio-ria trabalhava com o viés da ajuda humanitária. A cer-ta altura percebemos que os próprios camponeses não ti-nham muita clareza da dife-rença entre o movimento ao qual pertencia e as ONGs de apoios. Começamos a fazer uma refl exão de que o movi-mento devia ser de luta, de defesa dos camponeses, mas nos tornamos, sem querer, em uma organização que, na prática, na maioria das vezes, se voltava para atividades si-milares às das ONGs.
Quais outras experiências de organização ajudaram a Unac a trilhar pelo caminho diferente das ONGs?Ismael – Trabalhávamos no debate sobre a Lei de Ter-ra quando, em 1998, tive-mos uma visita do Movimen-to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra [MST]. Tínhamos ido a alguns países africanos, como Senegal e Zimbábue, mas não tínhamos encontra-do uma organização de cam-poneses como buscávamos construir. Já tínhamos ouvi-do falar do MST, mas falta-va uma aproximação. Quan-do conhecemos o movimen-to, pensamos: é isso que so-nhamos fazer, não queremos parecer com uma ONG. Infe-lizmente, eles [o MST] esta-vam a milhares de quilôme-
tros e não os tínhamos co-nhecido antes – tínhamos a mesma língua, mas a distân-cia nos separou. Foi então que fi zemos a primeira As-sembleia Geral da Unac, pre-parada para fortalecer o viés de movimento social da Unac em 2000, e aí decidimos ela-borar o plano estratégico, agora incorporando mais um caráter de movimento, e não de ONG, sem aquele assisten-cialismo que por vezes nós in-corríamos.
Com o plano estratégico e com a aproximação que tive-mos com o MST e, através do MST, com a Via Campesina, tivemos a consciência de que estávamos sendo empurrado para uma forma de organiza-ção diferente daquela que por vezes reproduzimos, e com o espelho do MST percebemos que não estávamos a inventar algo que não existia; existia, apenas não conhecíamos ain-da o modelo.
A Lei das Terras manteve a herança do governo de Samora Machel, líder do movimento de libertação e primeiro presidente do país, com a persistência da terra enquanto propriedade do Estado. Na prática, isto vigora até os dias atuais? Renaldo – Para nós, foi uma grande vitória que a ter-ra fosse propriedade do Esta-do, porque, caso contrário, os camponeses não teriam con-dições de ter acesso a ela. Nesse modo de propriedade rural, os camponeses têm o direito de ocupação mesmo sem título, além de respeitar o uso costumeiro, que é quan-do a comunidade tem algu-mas áreas de reserva onde fa-zem cemitérios, por exemplo. Isso consideramos uma van-tagem. Mas essa lei está sen-
do violada, devido a pressões de algumas instituições e em-presas. A terra em Moçam-bique não se vende, mas nas zonas urbanas estão a ven-der. E quando vamos em al-guma comunidade, algumas empresas obrigam os campo-neses a saírem de suas terras, o que causa transtorno, visto que eles já tinham construí-do seus cultivos e suas casas lá. A fi gura do Estado, nes-ses casos, serve para endos-sar a postura de que os cam-poneses precisam sair daque-la área, devido aos interesses do governo.Ismael – Veja que a Lei de Terras foi aprovada em 1997, mesmo o país tendo virado para a economia capitalista dez anos antes, em 1987. O que aconteceu foi que a for-ça do capitalismo ainda não havia entrado dentro da Fre-limo neste meio tempo – ain-da havia alguma veia revolu-cionária dentro do partido – e isso fez com que o direito pela ocupação, por exemplo, fosse consagrado, fazendo com que o camponês que comprove estar há 10 anos na terra se-ja o titular desta, não poden-do ser retirado. Esta foi a for-ma de defender aqueles que não tinham dinheiro para ar-car com os custos dos títulos. Se houvesse alguém de fora que quisesse a terra, o gover-no precisaria consultar a co-munidade para atribuí-la – ou seja, o Estado tem a posse da terra, mas a gestão é divi-dida com a comunidade, par-tindo do princípio de que ca-da uma tem sua identidade e deve ser ouvida sobre os im-pactos nela.
Pouco a pouco, as forças do capitalismo começam a pre-valecer e inicia-se a pressão sobre a terra, acarretando na violação da mesma. O primei-ro discurso dos governos pas-sa a ser dos benefícios que traria a implementação de al-go externo à comunidade, in-
fl uenciando os camponeses com o discurso do desenvol-vimento. Em contrapartida,as políticas relacionadas aosetor familiar estavam fra-cas ou inexistentes. Ou se-ja, o camponês pode até tera terra, mas cessaram-se aspolíticas para ajudar a famí-lia camponesa. Então, o pen-samento passa a ser: é melhorvir essa empresa que dá em-prego do que fi car aqui sem investimento. Assim, a pro-paganda da empresa é feita e,sem violar a lei, participandodo princípio de que a comu-nidade foi consultada, abreo espaço para a entrada dasempresas. Mas não se faz aanálise sobre as causas que fi -zeram essa comunidade con-cordar, e isto é uma expres-são da força do capital.
Essa força do capital pode vir a resultar em uma privatização das terras?Ismael – Agora com o eta-nol e os agrocombustíveiscomeça uma maior buscapor terra em Moçambique, ea tendência é essa força pôrem prova a Lei de Terras.Então nos encontramos nes-ta situação: ainda há terraspara os camponeses por cau-sa do estágio de desenvolvi-mento do país, mas, atravésda forma como começam aentrar as empresas, perce-bemos que, se hoje lutamospara defender a terra que te-mos, em breve começaremosa lutar para ter terra. É im-portante perceber tambémque podemos assistir à pri-vatização das terras em Mo-çambique de uma forma nãodeclarada, por outros meios,seja por intermédio do Es-tado ou pelo Direito do Usoe Aproveitamento da Ter-ra (Duat), que é próprio domoçambicano, mas que estepode passar a negociar comempresas também.
“Poucas organizações tinham experiência de trabalhar com o campesinato para o desenvolvimento. A maioria trabalhava com o viés da ajuda humanitária”
“Se hoje lutamos para defender a terra que temos, em breve começaremos a lutar para ter terra”
“[Em Moçambique, o] Estado tem a posse da terra, mas a gestão é dividida com a comunidade, partindo do princípio de que cada uma tem sua identidade e deve ser ouvida sobre os impactos nela”
“Quando conhecemos o MST, pensamos: é isso que sonhamos fazer, não queremos nos parecer com uma ONG”

Mulher com corpo coberto por burca caminha em Paris
FRANÇA
de 18 a 24 de fevereiro de 201012
internacional
Niqab é um véu que cobre o
rosto de algumas mulheres mu-
çulmanas, só deixando os olhos
à mostra. Burca é uma veste
islâmica feminina que cobre o
corpo inteiro, inclusive os olhos.
Para entender
Túnel escavado sob a fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza
Marius Arnesen/CC
Robert Fisk
ELES SÃO A verdadeira re-sistência. São os pulmões de Gaza. Tudo bem, mísseis são transportados através des-sas vias subterrâneas, tam-bém foguetes Qassam, muni-ções para rifl es Kalashnikov e explosivos. Mas o que mais se transporta é o verdadeiro sangue vital desse minúsculo e sitiado feudo islâmico: car-ne fresca, laranjas, chocola-tes, camisas, calças, brinque-dos, cigarros, vestidos de noi-va, papel, motores de automó-veis em peças, baterias para carros... até tampas de plásti-co para garrafas.
Os homens dos túneis de Gaza são bombardeados e morrem quando seus pró-prios canais subterrâneos des-moronam. Agora, enfrentam uma nova muralha egípcia, e inclusive o medo de morre-rem afogados.
Eles podem ser até “terro-ristas” – segundo a promís-cua defi nição que os israelen-ses dão a esse termo, que nes-ses dias tem escasso signifi ca-do –, mas são heróis para os palestinos de Gaza. Talvez, in-clusive, para os ricos.
Mas, hoje, Abdul Halim Mo-hsen está preocupado com os egípcios, sentado junto a uma fogueira que crepita perto da entrada de seu túnel enquan-to aquece suas mãos com o fo-go e respira a espessa fuma-
O muro egípcio e os túneis de GazaPALESTINA As passagens subterrâneas entre o Egito e o território controlado pelo Hamas representam não apenas as artérias de Gaza, como também são símbolo da massiva hipocrisia internacional
ça azul coberta por um amplo toldo branco.
Esses elementos fazem com que ele e seus companhei-ros de túnel projetem som-bras como as de um quadro de Rembrandt. Se veem seus perfi s, seus grossos suéteres, a luz gerada pelo fogo que con-trasta com a escuridão e, em um canto, um gerador que zumbe.
“Podem nos inundar”“Tenho medo do muro egíp-
cio”, diz Mohsen. “Podem nos inundar. Morreremos afo-gados. Como conseguiremos vencer isso?”. Mostra-me as palmas abertas de suas mãos, como que dizendo: “O que va-mos fazer?”, gesto que muitos palestinos fazem quando fa-lam, com vozes resignadas.
Os túneis sob a fronteira en-tre Gaza e o Egito são um ne-gócio, um jogo profi ssional e, para as bombas israelenses, são mais um desafi o que um problema. Inclusive, há uma pequena ferrovia em um de-les. O dinheiro faz com que as rodas girem.
Fiéis a seus tratados com Is-rael e com o Quarteto para o Oriente Médio (grupo forma-do por ONU, União Europeia, EUA e Rússia, famoso pe-la participação de Lord Blair de Kut Al Amara), os egípcios anunciaram, em janeiro, que construirão um muro – já que os muros são a moeda corren-te no Oriente Médio ultima-mente, desde Cabul até Bag-dá, passando pela Cisjordânia –, com o objetivo de destruir e fechar os “túneis” dos “ter-roristas”.
Organizações não governa-mentais repudiaram o anún-cio, afi rmando que se trata das decorações a que o Egi-to recorre para agradar os is-raelenses, o que implica tam-bém agradar os EUA, e asse-guraram que o muro egípcio só terá uma profundidade de pouco mais de cinco metros, uma medida muito inferior à dos túneis.
EncurraladosTalvez os construtores des-
sas passagens sejam pessi-mistas por natureza, mas Mohsen se vê realmente al-
terado pela iniciativa egíp-cia. “Se inundarem os tú-neis, o perigo que corremos aumenta. Levamos uma ho-ra para sair do túnel engati-nhando. Quando os israelen-ses começam a bombardear, nos amontoamos no extremo egípcio do canal, porque eles não se arriscam a que uma de suas bombas caia no territó-rio do Egito. Mas, se os egíp-cios nos detiverem, fi caremos encurralados, e o túnel des-moronará”, alerta.
Fico pensando nisso, espe-cialmente quando Abu Wa-dieh nos convida a olhar den-tro da abóboda cavernosa que se abre em um canto da área. Não é um simples buraco na terra, e sim um sólido túnel construído com pedra e ti-
Andrés Pérez de Val-Fourré, Paris, Roubaix, Marselha e
Lyon (França)
SEXTA-FEIRA à tarde. Feira da cidade de Val-Fourré, a uns 60 quilômetros ao noroes-te de Paris. Faz tempo que os instrumentos dos mecânicos, avós, pais e jovens de origem magrebina, africana e turca, em sua maioria, substituíram a feira tradicional francesa do centro do povoado.
No meio dos conjuntos ha-bitacionais, ao lado da mes-quita, perto de simpáticos res-taurantes sintonizados no ca-nal turco ou na Al Jazeera, en-contra-se de tudo nas estan-tes. De tudo, mas... pergunte por uma burca ou um niqab. Te olharão como um marcia-no e levarão horas para en-contrar uma.
Com o debate organizado pela direita acerca da identi-dade nacional francesa e so-bre o véu integral islâmico, a França ofi cial tem vivido al-go semelhante a um episó-dio de alucinação coletiva. A julgar pelas televisões do pa-ís, o discurso dos políticos ou as notícias dos jornais de pro-
Burca, agulha no palheiro francêsvíncias davam a impressão de que essa prenda havia chega-do como uma invasão massi-va, presente em todas as ruas. Um passeio por essas mesmas ruas demonstra o contrário.
Nem rastro de burcaNas barracas da feira de Val-
Fourré, não há nem rastro da burca. Durante o período em que a classe política francesa usava seu tempo para discutir sobre a suposta ameaça às tra-dições do país, este jornal per-correu, por dias, diversas fei-ras das periferias de todo o pa-ís, a nova França onde a alte-ração demográfi ca radical de-rivada da imigração já é uma realidade.
Em Roubaix (no norte), no bairro Panier (em Marselha), na feira de Minguettes (pe-riferia de Lyon), em Ménil-montant-Couronnes (em Pa-ris), ou no próprio Val-Four-ré, querer comprar um véu in-tegral é como procurar uma agulha em um bazar.
Claro que é possível encon-trar mulheres com niqab nes-ses bairros onde a França se mostra em todas as cores. São algumas das aproximadamen-te 2 mil que levam o véu inte-gral islâmico (0,006% da po-pulação feminina na França). Concretamente, este jorna-lista viu uma em Minguettes, duas no Panier de Marselha e outra em Roubaix. Uma gota no oceano.
Nos estandes, o que predo-mina são as especiarias orien-tais, as carnes halal [permi-tidas para consumo pelo is-lamismo] e apaixonantes re-compilações de música raï em
CDs que exibem fotos de ado-lescentes seminuas nas pistas de dança. Há até roupa íntima feminina que imita as pican-tes rendinhas de Calais, mas com arabescos. Se vê 100 mil vezes mais garotas de olhos amendoados vestidas de cal-ça jeans que mulheres funda-mentalistas.
Um bairro isoladoA feira de Val-Fourré é a
melhor mostra do que secre-tamente pode estar inquie-tando a direita francesa. Esse conjunto de conjuntos habita-cionais foi construído, ao lon-go dos anos de 1960, no povo-ado de Mantes-la-Jolie, para acolher a população imigran-te destinada a trabalhar nas fábricas vizinhas de Renault, Peugeot e Citroën.
Os construtores tiveram a precaução de isolar o bairro
do centro histórico da cidade. Até princípios do século 21, as autoridades tentaram impe-dir que os imigrantes tivessem sua própria feira e, nesse em-penho, inclusive impuseram aos comerciantes uma fi scali-zação abusiva.
Batalha perdida. Hoje, mais da metade da população vive nos conjuntos habitacionais, e o dinamismo demográfi co in-clina a balança. O centro da vi-da social já está no bairro, an-tes isolado.
“Burca? Não vi nenhuma”, diz Abdesalam, com gesto de cansaço. “Este, sim, veja, é o gênero que tenho”, completa, mostrando com o braço uma extensa gama de lenços islâ-micos de todas as cores para cobrir o cabelo. “O Corão só diz que a mulher deve cobrir o cabelo, não tampar a cara”, conclui.
Outro comerciante muçul-mano, que pede para ser iden-tifi cado apenas como um “li-vreiro de Paris”, é mais explí-cito. Está tendo um auge na venda de burcas? “Não. Bem... Sim. Desde que começaram a polêmica, nota-se que se ven-de um pouco”, explica.
A proibição anterior O olhar de Assiata Meryem,
uma jovem cujos pais emigra-ram há 20 anos de Guiné-Co-nacri, vaga pelas barracas de roupa íntima. Acompanha-da por uma loira bretã, Melis-sa, Assiata não leva um niqab, mas uma shayla, um lenço que envolve o cabelo e o pescoço e que combina com sua saia.
Da burca não querem nem falar. “Sabe, esse tema irritou
mesmo muito antes, quando houve a lei anterior de proibi-ção”, explica a jovem africa-na, referindo-se à lei que pro-íbe o véu das alunas em colé-gios e liceus desde 2004.
A imprensa francesa publi-cou há alguns dias a lista dos nomes de batismo mais fre-quentes de 2009. Para os me-ninos, Mohamed foi o núme-ro um em Marselha. Talvez esta seja a preocupação secre-ta da direita, e a fachada seja tanto debate sobre a identi-dade nacional e a burca.
Caso seja isso mesmo, é melhor mesmo a direita francesa continuar a se pre-ocupar. Na barraca ao lado, é vendido um livro rosa cuja
jolo de cinco metros de altu-ra e 28 de profundidade, tão profundo que mal consigo ver os diminutos braços dos ho-mens que, ao longe, apinham sacos de fruta em um gancho que corre ao longo de um ca-bo de quase um quilômetro de comprimento.
O gerador traz à superfí-cie a grossa corda onde estão pendurados os sacos, que são recebidos pelos braços aber-tos de outros companheiros. Esses homens sabem fazer seu trabalho. Todos dizem não ter nenhum interesse em política, e afi rmam não usar o túnel para transportar armas. Oh, claro que não!
Um caminhão de carga co-berto com uma lona traz um esquadrão de homens, que
começam a carregar veículos com frutas, vegetais e garra-fas de coca-cola egípcia. Mo-hsen me assegura que traba-lharia como engenheiro de construção se houvesse paz e reprime uma risada.
“Fugindo do inferno”Ele já conhecia esse tipo de
túneis antes de ver, há mui-to tempo, um fi lme em que prisioneiros de guerra cavam um para fugir de um campo de prisioneiros alemão. Cla-ro, Fugindo do inferno! Ri-chard Attenborough, James Garner e Steve McQueen, e as vias subterrâneas que os tiram de Stalag. Isso explica a qualidade profi ssional do túnel e de suas vias, embora eu prefi ra não lembrar Mo-hsen do que aconteceu com Attenborough.
Mas isso não é para rir. Al-gumas ONGs estimam que o Hamas cobra 15% dos ganhos que os homens dos túneis ob-têm, o que proporciona a essa augusta instituição, conside-rada escória por Israel, EUA e Europa desde que tiveram a temeridade de ganhar as elei-ções de 2006, um lucro anual de 225 milhões de dólares.
Assim, enquanto o mundo bloqueia Gaza e condena 1,5 milhão de almas à penúria e quase à inanição, o Hamas é abastecido de concreto, mate-riais de construção, ferro e ar-mas com seus recursos.
Enquanto a União Euro-peia, covardemente, impe-de que civis palestinos com-prem cimento para recons-truir seus lares depois dobanho de sangue ocorri-do em Gaza porque o Ha-mas pode usá-lo para cons-truir bunkers, o próprio Ha-mas obtém cimento sufi cien-te para construir uma cidadede bunkers e mesquitas, semmencionar os edifícios queerigiu bem em frente de tro-pas israelenses na Passagemde Erez.
Em outras palavras, os tú-neis são o que mantém Gaza com vida. Os palestinos po-bres têm que ser alimentados pela ONU. Portanto, as passa-gens subterrâneas represen-tam não apenas as artérias de Gaza, como também são sím-bolo da massiva hipocrisia in-ternacional.
EspecialistasAbu Wadieh, que tem 35
homens trabalhando dentro e sobre o túnel de Mohsen, está de pé junto à fogueira; seu ku-ffi ah envolve apertadamente sua cabeça como se fosse um capacete de operário. Esfre-ga as mãos por causa do frio de inverno que entra dentro da barraca, ao mesmo tempo em que o caminhão cheio de bens parte rumo à cidade de Gaza. “Tenho medo de que os homens vão embora se hou-ver outra guerra”, diz. “Mas são especialistas. Sabem o que têm que fazer”.
A apenas a 100 metros de distância, uma perfuradoraegípcia se ergue no horizonte,e se vê o começo de uma mu-ralha cinza. Atrás dela, tre-mula uma bandeira do Egi-to, sobre uma torre de obser-vação onde soldados árabesegípcios e seus irmãos árabespalestinos mantêm sitiado olixão que Gaza é hoje. (Texto elaborado especialmente pa-ra o jornal Página/12)
Tradução: Igor Ojeda
Os homens dos túneis de Gaza são bombardeados e morrem quando seus próprios canais subterrâneos desmoronam. Agora, enfrentam uma nova muralha egípcia e, inclusive, o medo de morrerem afogados
A polêmica da direita na França sobre a utilização da prenda ignora que ela está quase ausente das ruas
capa lembra as obras de Co-rín Tellado, com o título Pa-ra você, irmã muçulmana.O livro dá conselhos práti-cos às garotas sobre comoevitar a ejaculação precocedo jovem namorado quandoele volta estressado da fábri-ca. (Público)
Tradução: Igor Ojeda
Com o debate organizado pela direita acerca da identidade nacional francesa e sobre o véu integral islâmico, a França ofi cial tem vivido algo semelhante a um episódio de alucinação coletiva
Reprodução