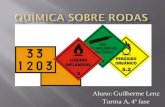SONHOS SOBRE RODAS
Transcript of SONHOS SOBRE RODAS
A SAGA DOS PIONEIROS DO TRANSPORTERODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO BRASIL
SONHOSSOBRERODAS
Edição ABRATI
Antônio Rúbio de Barros Gômara (in memoriam)
Nélio Lima
Copyright 2012 by Associação Brasileira das Empresas deTransporte Terrestre de Passageiros — ABRATI
Projeto gráfico e capa Edimilson Alves Pereira — Nélio Lima
Revisão Cecília Fujita — Joíra Coelho Furquim
Fotos1ª capa: Acervo Transporte e Turismo Ltda. — TTL2ª capa: Acervo Reunidas S. A. Transportes Coletivos3ª capa: Acervo Expresso Princesa dos Campos
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
________________________________________________L732 Lima, Nélio Sonhos sobre rodas: a saga dos pioneiros do transporte rodoviário de passageiros no Brasil / Nélio Lima, Antônio Rúbio de Barros Gômara (in memoriam) – Brasília: ABRATI, 2012
340 p. ; il. fotos; 16 x 23 cm. 1. Transporte rodoviário coletivo – Brasil – histórias de empresas de transporte rodoviário de passageiros e de seus fundadores. I. Gômara, Antônio Rúbio de Barros. II. Título
CDD 385
________________________________________________
Todos os direitos reservados à Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros — ABRATI SAUS Quadra 1, Bloco J, Edifício CNT, 8o andarFone: (61) 3322-4004 — Fax: (61) 3322-202270070-944 — Brasília — DFabrati.org.br
Ficha catalográFica
Sumário
Apresentação ......................................................................................... 7
Nota explicativa .................................................................................... 9
A representação do setor ..................................................................... 13
Introdução .......................................................................................... 17
Auto Viação Catarinense Ltda. ........................................................... 19
Empresa Auto Viação Progresso S. A. ................................................. 33
Empresa Unida Mansur & Filhos Ltda. .............................................. 37
Viação Garcia Ltda. ............................................................................ 45
Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda. .......................................... 53
Expresso Princesa dos Campos S. A. ................................................... 69
Viação Araguarina Ltda. ..................................................................... 75
Viação Ouro e Prata S. A. ................................................................... 83
Expresso Brasileiro Viação Ltda. ......................................................... 89
Empresa de Transportes Gontijo Ltda. .............................................. 105
Viação Salutaris e Turismo S. A. . ...................................................... 111
Viação Águia Branca S. A. ................................................................ 119
Auto Viação 1001 Ltda. ..................................................................... 135
Empresa Santo Anjo da Guarda Ltda. ............................................... 145
Planalto Transportes Ltda. ................................................................ 151
Expresso de Luxo Silva — Dimas José da Silva ................................. 161
Empresa de Transportes Andorinha S. A. .......................................... 169
Viação Cometa S. A. ......................................................................... 175
Companhia São Geraldo de Viação .................................................. 191
União Transporte Interestadual de Luxo S. A. — UTIL .................... 197
Reunidas S. A. — Transportes Coletivos ........................................... 203
Real Alagoas de Viação Ltda. ............................................................ 215
Viação Cidade do Aço Ltda. ............................................................. 221
Viação Progresso e Turismo S. A. ...................................................... 231
Viação Santa Cruz S. A. .................................................................... 237
Real Expresso Ltda. ........................................................................... 243
Empresa Sulamericana de Transportes em Ônibus ........................... 251
Viação Itapemirim S. A. .................................................................... 259
Grupo Guanabara — Jacob Barata ................................................... 271
Transporte e Turismo Ltda. — TTL .................................................. 279
Viação Minuano ................................................................................ 287
Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S. A. ........................... 293
Viação Sampaio Ltda. ....................................................................... 307
Unesul de Transportes Ltda. ............................................................. 313
Pluma Conforto e Turismo ............................................................... 323
Bibliografia/Fontes de consulta ......................................................... 333
Entrevistados .................................................................................... 335
Documentação/Fontes pesquisadas ................................................... 338
7
ENTRE SUAS TANTAS ATRIBUIÇÕES, a ABRATI sempre encarou com muita seriedade a missão de zelar para manter viva a memória dos pioneiros que há 60, 70 ou 80 anos, em meio a dificuldades quase insupe-ráveis, começaram a erguer o sistema brasileiro de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.
Passo importante no sentido de valorizar os feitos daqueles desbrava-dores foi dado por nossa Associação em 1999 ao lançar o livro O transporte interestadual e internacional de passageiros: um acrescentamento histórico, de autoria do advogado e especialista em transporte Antônio Rúbio de Barros Gômara.
Não menos importante é o lançamento do presente volume, em grande parte baseado nos levantamentos de caráter histórico realizados por Rúbio entre 1992 e 1994. Ao morrer, em 2000, ele deixou grande quantidade de entrevistas gravadas, depoimentos escritos, publicações, recortes e fotografias.
De posse de material tão rico, a ABRATI recorreu à colaboração do jornalista Nélio Lima para buscar mais informações ou complementações relacionadas à trajetória das empresas e dos empresários pioneiros retratados e encarregar-se da redação final do trabalho.
O resultado dessa soma de esforços é apresentado aqui com o pro-pósito de realçar a dimensão histórica e o extraordinário alcance da obra empreendida por aqueles homens incansáveis que, com fé, arrojo e coragem, levaram os serviços de suas “jardineiras”, “sopas” e “marinetes”, como no início os ônibus eram conhecidos, aos mais remotos pontos do País.
apreSentação
8
Com este novo trabalho propomo-nos ainda outro objetivo: estimu-lar os empresários e as empresas do setor a dar justa visibilidade aos que, com seus próprios recursos, sem depender de subsídios governamentais ou recursos públicos, levaram a cabo a portentosa tarefa de implantar uma das mais extensas e eficientes redes de transporte rodoviário de passageiros do mundo.
Graças àqueles homens e aos seus continuadores, nosso País tem muito do que se orgulhar, pois conta com um sistema de transporte único, de alta qualidade, reconhecido até no exterior — haja vista o número de executivos estrangeiros que aqui vêm para conhecer nossas empresas — e que se destaca por seu elevado nível de segurança, conforto, sustentabili-dade e confiabilidade, além do alto grau de satisfação dos seus usuários, refletido em pesquisas periódicas.
Renan ChieppePresidente da ABRATI
9
“A HISTÓRIA CONTADA POR QUEM A FEZ.” Assim Antônio Rúbio de Barros Gômara — advogado experiente que, como ele próprio gostava de dizer, por longos anos “arrazoou e contra-arrazoou pelo setor” — definia a segunda parte do extenso trabalho de pesquisa histórica e de tomada de depoimentos de empresários do transporte rodoviário de passageiros, que ele empreendeu em 1992 e estendeu-se até 1994.
Tendo lançado, em 1999, o primeiro dos dois volumes que projetava escrever com base no material pacientemente coletado, Rúbio não teve tempo para colocar o segundo no papel. Certamente ele o trazia por in-teiro na memória, tal o entusiasmo com que costumava se referir ao tema.
O senso de organização do pesquisador levou-o a registrar, em 13 de março de 1999, a maneira como desejava conduzir o trabalho: desen-volvendo no primeiro volume a citação comentada de leis e atos oficiais que tiveram influência no surgimento e desenvolvimento do transporte rodoviário nacional — o que ele fez no livro O transporte interestadual e internacional de passageiros: um acrescentamento histórico, e apresentando, no segundo, depoimentos de pioneiros e representantes das empresas cuja escolha havia submetido à Rodonal.
Rúbio pretendia ainda, com base na sua longa vivência do setor, acrescentar comentários pessoais sobre vários dos fatos narrados. A propó-sito disso ele esclareceu, em artigo para a edição no 54 da Revista Rodonal, em dezembro de 1994, que os fatos históricos recompostos eram “frutos de rememorações pessoais reavivadas ou reafirmadas pelos depoimentos colhidos”. Com toda a certeza, seus comentários enriqueceriam a obra.
nota explicativa
10
Para escrever este segundo volume, procurei reproduzir e ordenar com a maior fidelidade possível tudo aquilo que os empresários pioneiros disseram a Rúbio Gômara e ficou registrado nas gravações. Obviamente, está prejudicada a intenção que ele próprio declarou ao apresentar o primeiro volume, de inserir, vez em quando, fragmentos autobiográficos decorren-tes das situações em que figurou no elenco dos fatos históricos narrados.
Rúbio teve ainda o cuidado de não impor a última palavra quando in-cluiu informações ou afirmações não expressamente avalizadas pelas pessoas entrevistadas. Naquele mesmo artigo para a Revista Rodonal, referindo-se à história do ônibus no Brasil, ressalvou que estaria apresentando alguns aspectos dessa história, mas “todos abertos a questionamentos”.
A ressalva é ainda mais válida para este trabalho, pois, mesmo quando teve de definir qual teria sido a mais antiga empresa de transporte rodoviá-rio do País, Rúbio Gômara fez questão de deixar claro que se tratava da primeira a registrar-se formalmente. Tinha consciência do risco de afir-mar qual teria sido a primeira de todas, já que, no Brasil, a partir de certo momento da década de 1920, surgiram inúmeras empresas dedicadas ao transporte urbano de passageiros, sabendo-se que no princípio não havia distinção clara entre operações urbanas e eventuais operações rodoviá rias. Em seu meticuloso esforço de pesquisa, Rúbio Gômara não localizou nenhum documento válido que pudesse comprovar uma anterioridade sobre os registros legais de constituição, em 13 de abril de 1928, da em-presa Darius & Hann Ltda., futura Auto Viação Catarinense, na cidade de Blumenau, Santa Catarina.
Cabe ainda esclarecer que faltou tempo ao pesquisador para ouvir todos os empresários que pretendia, os quais havia relacionado no plano de trabalho elaborado em conjunto com a Rodonal. Ficou, porém, a certeza de que os que foram entrevistados representam plenamente o conjunto dos homens que construíram, desde o seu nascedouro, o sistema brasileiro de transporte rodoviário de passageiros.
Por encargo da ABRATI e com o apoio da família Gômara, coube-me tentar recuperar a maior parte do material deixado, proceder ao levanta-mento de todas as gravações, aprofundar as pesquisas e, em sintonia com os executivos e a área de Comunicação da entidade, buscar o que ainda faltava de material iconográfico para escrever e editar este volume.
11
Ao apresentar cada história, parti do princípio de que Rúbio se pro-punha registrar precipuamente trajetórias pioneiras. Não por outro motivo, sempre que possível ele ouviu diretamente as fontes primárias, ou seja, os fundadores. Sendo assim, em Sonhos sobre rodas cada história é interrom-pida no ponto em que o pesquisador encerrou seu trabalho de entrevistas. As poucas informações que acrescentei constituem apenas breves esboços de atualização dos registros referentes às empresas.
Falhas, lacunas e eventuais impropriedades, assim como a inevitável diferença de estilo, deverão ser-me atribuídas e por elas antecipadamente peço desculpas.
Nélio Lima
13
a repreSentação do Setor
EM MEADOS DOS ANOS 1970, depois de uma década de expressivo crescimento econômico, inclusive no setor de transportes, o Brasil vivia as dificuldades decorrentes da recessão mundial e do primeiro choque do petróleo. O País dependia fortemente das importações do óleo e nisso consumia quase metade de suas divisas.
O setor de transporte de passageiros atravessava um período de de-sencontros; era desorganizado e pouco unido; por isso mesmo, suas ações desenvolviam-se no plano puramente individual e não havia representantes que pudessem falar em seu nome, muito menos apresentar reivindicações, sugestões e reclamações ao poder concedente. Permaneciam sem enca-minhamento adequado problemas como baixas tarifas, transporte ilegal, recomposição da frota e outros que afetavam os interesses do setor.
O tamanho do desafio foi percebido pelo empresário Benito Porcaro, diretor da Companhia São Geraldo de Viação, que decidiu buscar a solução. Para tanto, procurou unir os empresários em torno de interesses comuns. Com a colaboração de Oscar Conte, da Pluma Conforto e Turismo, propôs um encontro de empresários interessados em debater essas e outras ques-tões. À reunião, realizada no Hotel Guanabara, no Rio de Janeiro, na noite do dia 20 de janeiro de 1976, compareceram representantes de mais seis empresas: Viação Nacional, Transcolin, Garcia, Andorinha, Real Expres-so, Rápido Federal e Única. Ao amanhecer do dia 21, depois de horas de discussão, os participantes haviam desenhado o formato de uma entidade que consideraram a mais adequada para cumprir o papel de representar o setor de transporte rodoviário de passageiros nos escalões do governo e
14
nas instâncias legislativa e judiciária. Nasceu assim a Associação Nacional de Intercâmbio das Empresas de Transportes Rodoviários Interestaduais e Internacionais de Passageiros, sob a sigla Rodonal. Os estatutos tinham sido esboçados; o presidente (Oscar Conte, da Pluma) e o vice-presidente (Cláudio Regina, da Única) haviam sido escolhidos por aclamação. Assim como eles, os outros dois diretores, Fernando Campinha Garcia Cid, da Viação Garcia, e José Augusto Pinheiro, da Real Expresso.
A sede da nova entidade foi localizada no Rio de Janeiro, onde estava o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER —, órgão do poder concedente. Algum tempo depois, a Rodonal passou a denominar-se Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros.
Oscar Conte esteve à frente da Associação por quatro anos. Montou sua estrutura inicial e, aos poucos, agregou a ela a maioria das empresas do setor. Quando concluiu o mandato, em 1979, cerca de 85% das em-presas estavam associadas à Rodonal, crescentemente reconhecida como qualificada interlocutora perante o governo.
Em poucos anos, ela já representava um setor que operava cerca de 10.000 ônibus, proporcionava mais de 50.000 empregos diretos e mais de 300 mil indiretos. Suas associadas transportavam pelo menos 90% dos 86 milhões de passageiros que utilizavam o transporte rodoviário interestadual e internacional no Brasil. O percentual de participação do setor continuou aumentando e chegou a 95%, o que lhe deu total representatividade para cumprir o seu papel de encaminhar e discutir as questões de interesse das transportadoras.
O segundo presidente, Fernando Campinha Garcia Cid, da Viação Garcia, foi presidente de 1980 a 1983, sendo sucedido por Bernardino Rios Pim, da Viação Itapemirim, que assumiu em 1984 e permaneceu até 1987.
Em 1988, um grupo de empresários representativos do setor, agrupados na Rodonal, que operavam os segmentos interestadual e intermunicipal, decidiu criar também a Associação Nacional das Empresas Rodoviárias de Transporte Intermunicipal e Interestadual — NTR —, com sede em Brasília, uma vez que a entidade mater estava mais focada no DNER, no Rio de Janeiro, onde orientava sua atuação na defesa do sistema interna-cional e interestadual.
15
A NTR, liderada por Aylmer Chieppe, da Viação Águia Branca, somando-se à Rodonal, desenvolveu intenso trabalho institucional na ca-pital federal, atravessando períodos turbulentos dos governos Sarney e Itamar Franco e logrando grandes avanços para a classe, entre eles um novo Regulamento do Transporte Rodoviário que mantivesse o equilíbrio do sistema como um todo e, ainda, o equacionamento de graves problemas de defasagem tarifária que assolaram o setor.
Na Rodonal, Heloísio Lopes, da Companhia São Geraldo de Viação, assumiu a presidência em 1988 e transferiu a sede da entidade do Rio de Janeiro para Brasília. Em 1991, Heloísio passou o cargo a José Augusto Pinheiro, que seria presidente até 1995.
Tendo a Rodonal se transferido para Brasília e uma vez resolvidos os problemas que preocupavam o setor, as lideranças empresariais, capitaneadas por Aylmer Chieppe, pela NTR, e por José Augusto Pinheiro, pela Rodonal, entenderam que era chegada a hora de buscar os pontos de convergência entre as duas entidades, eliminar possíveis divergências e partir para uma entidade fortalecida que agrupasse todas as empresas do setor rodoviário de passageiros: intermunicipais, interestaduais e internacionais.
Assim, em janeiro de 1995, no decurso de memorável reunião no au-ditório da CNT, em Brasília, presentes empresários de todo o País, inclusive os pioneiros e expoentes, chegou-se à decisão de extinguir a Rodonal e a NTR, criando-se, sob uma mesma bandeira de ideais, a Associação Brasi-leira das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e Internacional de Passageiros — ABRATI. O empresário Walter Lemes Soares, da Empresa de Transportes Andorinha, foi o primeiro presidente da ABRATI; assumiu em 1995 e permaneceu até 1999. Foi substituído nesse ano por Oscar Conte, que já havia sido o primeiro presidente da Rodonal. Mais tarde, a entidade passou a denominar-se Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, sendo mantida a sigla ABRATI, assim como as finalidades e os objetivos.
Em 2002, a presidência da ABRATI passou a ser exercida por Sérgio Augusto de Almeida Braga, da Companhia São Geraldo de Viação, que passou o cargo a Renan Chieppe, da Viação Águia Branca, em setembro de 2008.
Oscar Conte Pluma 1976 — 1979
Bernardino Rios Pim Itapemirim 1984 — 1987
Fernando Garcia Cid Viação Garcia 1980 — 1983
Oscar Conte Pluma 1999 — 2002
Sérgio Almeida Braga São Geraldo 2002 — 2008
Renan Chieppe Viação Águia Branca 2008 —
Foto
s: Ac
ervo
s Rod
onal
e A
BR
ATI
Heloísio Lopes São Geraldo 1988 — 1991
Walter Lemes Soares Andorinha 1995 — 1999
José Augusto Pinheiro Real Expresso 1992 — 1995
Aylmer ChieppeÁguia Branca1988 — 1995
17
NÃO É SIMPLES AVALIAR a extensão da influência e das consequências de um conflito das proporções da Segunda Guerra Mundial sobre o Brasil dos anos 1940 e das décadas seguintes.
Embora travado em teatro distante do território brasileiro — ainda que ao alcance dos submarinos dos países do Eixo, como ficou dramaticamente demonstrado com o afundamento de 34 navios mercantes de bandeira brasileira pelos nazistas —, não há dúvida que foram afetados de maneira profunda os costumes, a economia, a política, a cultura e o conjunto do processo de nosso desenvolvimento. Conquanto não seja objetivo deste livro, isso será naturalmente percebido a partir das diversas narrativas com as quais se busca registrar a trajetória dos pioneiros do transporte rodoviário de passageiros no País.
Por exemplo, é curioso que a ascensão de Adolf Hitler ao poder, na Alemanha, ainda no início da década de 1930, anos antes de desencadear--se a Hecatombe, possa ter despertado, em certo momento, premonitórias críticas e apreensões em um cidadão alemão que escolhera terras brasileiras para viver e trabalhar. Cidadão que, por sinal, fundou a primeira empresa de transporte rodoviário de passageiros registrada no Brasil.
Em outro caso, é quase inacreditável que, no fim dos anos 1930, na iminência do início da guerra, outro cidadão alemão, Willy Stobäus, tenha partido com sua família para a Alemanha exatamente para lutar ao lado das forças hitlerianas. Morto em combate, sua família retornou ao Brasil e um de seus filhos criou aqui a primeira empresa brasileira de transporte internacional de passageiros.
introdução
18
Não menos extraordinária é a história do jovem brasileiro que integrou, como voluntário, o contingente da FEB enviado à Itália, e que, logo ao voltar, fundou o que viria a ser um dos nossos maiores grupos empresariais da área de transporte rodoviário de passageiros.
Evidentemente, se às vezes a guerra e suas consequências aparecem relacionadas à história do sistema brasileiro de transporte rodoviário de passageiros, isso se deve ao fato de que a maioria dos empreendimentos surgiu nas décadas de 1930, 1940 e 1950.
E aqui, cabe destacar que muitas das empresas criadas, então, o foram por iniciativa de imigrantes. Em geral italianos, portugueses, espa-nhóis, alemães, que exerceram papel fundamental na implantação e no desenvolvimento da atividade.
O mais acertado, pois, é dizer que tais empreendimentos teriam surgido naquele momento com ou sem a guerra, pois o Brasil de então carecia desesperadamente de estradas e de interligação das suas várias regiões. Necessidade que as ferrovias e a navegação de cabotagem não conseguiam prover a contento.
Dessa forma, não é destituído de fundamento afirmar que cada um dos empreendedores pioneiros do transporte rodoviário de passageiros enfrentou e venceu a sua própria e prolongada guerra: contra as estradas ruins ou inexistentes, contra a carência de equipamento adequado, contra a ausência de regras claras para o exercício da atividade, enfim, contra todas as precariedades próprias de um país que, 60, 70 ou 80 anos atrás, ainda tentava encontrar um modelo de desenvolvimento.
São as histórias desses pioneiros, de seus sonhos e de suas guerras particulares que estão sendo contadas a partir da próxima página.
19
NENHUM DOCUMENTO CONHECIDO ilustra melhor o que foi a criação de uma das principais empresas brasileiras de transporte rodoviário de passageiros — a Auto Viação Catarinense — do que a carta que em breve se vai transcrever aqui. Trata-se de correspondência que o alemão Theodor Darius, um dos dois fundadores da empresa — sendo o outro o húngaro João Hahn —, enviou de Blumenau, Santa Catarina, a seus pais na Alemanha, em 1933.
Tendo chegado ao Brasil no ano de 1924, nos primeiros tempos Theodor pouco escreveu para dar notícias. Em compensação, a carta re-produzida a seguir, em sua íntegra, foi bastante longa e detalhada. Tra-duzida do alemão para o português pela família do fundador, ela dá uma ideia da enorme tenacidade do homem que decidiu vencer no ramo do transporte de pessoas em um país distante onde até a barreira da língua poderia mostrar-se intransponível.
A carta foi escrita em duas etapas: a primeira no dia 24 de agosto de 1933, e a segunda, três dias depois, no dia 27.
Com método e zelo, o imigrante historiou seus passos mais impor-tantes no Brasil, desde o desembarque no Rio de Janeiro, nove anos antes. Pouco depois de chegar seguiu para o estado de Santa Catarina, que então, ao lado do Rio Grande do Sul, era o destino preferencial dos cidadãos ger-mânicos que vinham viver e trabalhar no Brasil. Theodor Darius aportara com a disposição de começar vida nova longe de sua pátria. Derrotada na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava completamente exaurida e submetida a pesadíssimas exigências de reparação de guerra. No ano
auto viação catarinenSe ltda.
theodor dariuS
1928
20
anterior, 1923, havia registrado índices altíssimos de inflação. Milhares de comerciantes, camponeses e pequenos industriais tinham ido à ruína. As condições de sobrevivência dos assalariados haviam sido duramente afetadas. E a emigração, que já era expressiva, aumentara de volume, especialmente na direção de países da América do Sul. Alemães se deslocavam de forma contínua para o Brasil, o Chile, o Uruguai e a Argentina.
Muito cedo Theodor Darius percebeu que, também por aqui, iria enfrentar dificuldades. O Brasil, embora se mostrasse terra acolhedora, atravessava prolongado período de turbulência política. No momento de sua chegada, prevalecia o estado de sítio — que perdurou nos anos seguin-tes —, como consequência das contínuas agitações nos meios políticos e militares, descontentes com os rumos do governo central. Em 1922, ofi-ciais intermediários do Exército haviam se rebelado no Rio de Janeiro, no episódio conhecido como “Os 18 do Forte” de Copacabana. Agora mesmo, em 1924, haviam eclodido revoltas em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Amazonas e no Pará.
Tropas militares voltariam a se rebelar em 1925, mesmo sob o estado de sítio, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, unindo-se para formar a Coluna Prestes, igualmente de inspiração tenentista, que, até 1927, iria se deslocar por milhares de quilômetros Brasil adentro, travando e vencendo combates com forças federais, estaduais e até com jagunços e cangaceiros. Desmobilizou-se depois e se internou na Bolívia.
Enquanto isso, o imigrante Theodor Darius atirava-se ao trabalho em Blumenau e tratava de adaptar-se ao país que escolhera. Somente quase uma década depois, em 1933, ele se sentiria em condições de detalhar como haviam transcorrido os seus primeiros tempos de imigrante. A carta dizia:
Meus queridos pais,na querida Alemanha.
Voltando ontem à noite de viagem, encontrei sua última carta. Como hoje tenho plantão noturno na firma, disponho de tempo para fazer uma retrospectiva da minha permanência aqui no Brasil. Devem estar magoa-dos pela minha demora em escrever-lhes. Creiam, não foi falta de tempo, nem tampouco de reflexão, mas, sim, de certas inibições e dificuldades em
21
concentrar-me. Não sei o que Paula já escreveu, mas contarei desde o início. Assim ficarão sabendo de tudo e a mim fará bem recordar, já que o pior passou e estou progredindo.
Nove anos se passaram desde a nossa chegada ao Brasil, cheios de planos e fantasias, com programas estabelecidos e espírito empreendedor. Com a realidade aqui encontrada, tudo desvaneceu. Imaginem, eu, comer-ciante; como poderia negociar se nem ao menos conhecia a língua e a legislação da terra para escrever uma carta comercial? Como iria tratar com um freguês, sem conhecer o câmbio e o idioma? Aspectos que considero muito importantes, pois em qualquer firma saberia muito menos do que o mais simples dos empregados.
Se não fosse casado e minha mulher não estivesse esperando o primeiro filho, teria sido fácil conseguir um emprego que me desse casa e comida, e teria tempo para conhecer a realidade da terra e a língua do povo. Mas, diante da situação, tive que procurar um emprego que atendesse às neces-sidades básicas da família o mais rápido possível. Por esse motivo tantos outros emigrantes fracassaram. Mas deixemos esses assuntos para um dia comentá-los pessoalmente.
Devo alegrar-me em dizer-lhes que achei uma solução para essas pri-meiras dificuldades. Devo isto, primeiramente, à correta educação que recebi de vocês, da escola, nos moldes da disciplina prussiana, mas humana, que vivíamos em casa. Por tudo isso, agradeço-lhes profundamente, pois, devido ao alto grau de escolaridade, consigo conversar em todos os níveis e não te-nho quaisquer presunções, adaptando-me em qualquer ambiente. Com esse preparo recebido foi fácil o contato com todas as camadas sociais e consigo comunicar-me com todos.
Enfim, ao assunto. No Rio de Janeiro, como vocês devem saber, ficamos somente duas semanas. A vida lá era muito dispendiosa e, assim sendo, vie-mos a Blumenau. Mas também aqui não foi possível encontrar um ordenado compatível com meu grau de instrução.
Deixei, então, cair por terra toda e qualquer vaidade, pensando: “Tra-balhar não desonra”. Comprei um automóvel, aprendi a dirigir e me coloquei ao lado de outros carros de aluguel, esperando por fregueses... Digo-lhes, uma vida realmente amarga não poder aproveitar meus conhecimentos, mas, assim, conseguia tirar o pão de cada dia e o meu capital estava empatado
22
de maneira a poder reavê-lo a qualquer hora. Com esse serviço tive a opor-tunidade de aprender a língua do país, fato que me dava grande vantagem sobre muitos emigrantes que chegaram na mesma época e não tiveram essas facilidades, o que os condenou a serem simples empregados. Outra vantagem foi-me dada pelo automóvel. Com ele podia locomover-me a muitos lugares, conhecendo a terra, seu povo e seus costumes. Durante mais ou menos dois anos, levei esta vida, quando dei o primeiro passo. A um húngaro chamado João Hahn, juntei meu capital com o dele e compramos um ônibus. Com este, iniciamos uma linha regular de viagens à capital do Estado, Florianó-polis. A distância percorrida é de 160 quilômetros. Isto foi uma verdadeira revolução no transporte conhecido aqui. O preço de uma passagem de au-tomóvel era duzentos mil-réis e de ônibus cobramos trinta mil-réis. Todos se compadeciam de mim e de nosso pequeno capital. Mas mostramos a eles que uma vontade férrea consegue vencer. Sim, também aqui os amigos me chamam de “teimoso”. Sem me querer envaidecer, acho que os amigos usam esse apelido como elogio e os inimigos com um certo receio. O povo aqui se admirava de transportarmos pacotes e encomendas sem extraviá-las ou roubá-las. No início fazíamos o trajeto duas vezes por semana, passando logo a seguir para três vezes semanais. O banco daqui nos deu crédito, sem maiores exigências, para comprarmos um segundo ônibus. Logo surgiu a concorrência, provocada pela inveja. Começou então uma luta renhida. Mas como nos mantivemos corretos e pontuais nos nossos compromissos, vencemos após alguns anos. Estendemos nosso trajeto. Passados cinco anos, somos os únicos a percorrer as principais rodovias através de nosso Estado. Traba-lhamos com dezessete funcionários, possuímos onze carros que perfazem um capital de mais ou menos duzentos mil marcos. Como aqui ainda não existe concessão para esse tipo de transporte, só a nossa garra, sem trégua, garante o nosso êxito. Isso não é fácil. O nosso horário de serviço: de manhã, às 7 horas, estou na firma, onde fico até às 12 ou 13 horas e muitas vezes até as 14. Faço uma pausa de dez minutos. Entenderam? Dez minutos! Nesse breve intervalo vou de carro até em casa, almoço, beijo mulher e filhos e volto ao escritório. Continuo a trabalhar até as 18 horas. Uma hora de mesa cativa (Stammtisch-Hotel Seifert), onde tomo um chope e em seguida janto em casa. Se tudo der certo, passo meia hora em casa e volto ao serviço até às 22 horas ou mais, dependendo da chegada do último carro.
23
AQUI, THEODOR DARIUS INTERROMPEU a escrita, quem sabe devido ao horário avançado. Retomou-a três dias depois, novamente em seu escritó-rio na empresa. Teve o cuidado de datar também a segunda e última parte:
Dia 27 de agostoSomente hoje tenho um tempo para prosseguir. É domingo à tarde e Paula
fez um lanche em casa (aniversário). Como não sou amigo dessas reuniões, estou aqui no escritório para terminar esta carta. Um domingo por mês, passo a tarde no clube local dos atiradores (Schuetzenverein — hoje Tabajara) ou assisto a um jogo de futebol. Mas muitos dos domingos exigem serviços na firma. O que é trabalhar, aprendi aqui no Brasil. O trabalho intenso e responsável que conhecemos na Alemanha ou nos Estados Unidos aqui não existe. É isso que dificulta muito a organização de uma firma. Com pessoal não qualificado é difícil trabalhar. Agora, depois de anos, temos uma equipe razoável, e nessa equipe um funcionário que nos acompanha desde o início. Compromisso com o dever e a responsabilidade é difícil encontrar, o que dificulta a organização das respectivas firmas. Com os elementos que temos agora, é possível pensar em expandir as linhas e ampliar a nossa frota. Desde a fundação da empresa nós, os chefes, não tivemos um dia de férias, pois, com o nosso afastamento, tudo poderia desandar em pouco tempo. Só com uma férrea energia conseguimos que tudo funcionasse satisfatoriamente. Talvez vocês consigam compreender melhor o que quero dizer, informando-lhes a nacionalidade de nossos funcio-nários: três alemães, seis teuto-brasileiros, um luso-brasileiro, dois italianos, três húngaros e dois afro-brasileiros. Nem todos falam o vernáculo, e outros, nem o alemão. Imaginem como é difícil a comunicação entre eles, e de um sistema patronal entre chefe e empregado, nem se fala.
E a nossa vida particular? Bem, levamos uma vida bastante simples. Casa alugada, mobiliário simples, porque o dinheiro que entra é aplicado na firma. Nestes primeiros anos, todo o capital foi absorvido pela empresa. Nós, sócios, temos uma retirada mensal e um extra para tratamento de saúde. Talvez dentro de um ano eu possa comprar um terreno para, futuramente, construir uma casa.
24
Gostaríamos muito de voltar à pátria, mas, nas atuais condições rei-nantes na Alemanha, nem penso nisso. Receio que para nós uma volta seria de difícil adaptação. Aqui se vive em quase total liberdade pessoal, os impostos são razoáveis, diferenças sociais não aparecem, a não ser nas firmas. Nas horas vagas reunimo-nos com cidadãos de todos os níveis. É no esporte, no teatro, no clube de ginástica etc.; não se pergunta pelo status, todos são benquistos e têm os mesmos direitos.
As mudanças na Alemanha, o tanto que me alegram, também me preocupam. A censura da imprensa, tanto da notícia bem como da (...), me leva a pensar que se cria novamente uma obediência cega do povo, como o era na época do Kaiser Wilhelm. Isto, ao meu ver e ao dos meus conterrâneos aqui, é o maior perigo da política de Hitler.
Mas deixemos de política. Conosco, no momento, em matéria de saúde está tudo bem. Malária, ninguém da família pegou. Mas Paula teve menos sorte e já foi operada duas vezes este ano. Agora se recupera bem. As crianças são fortes, sadias e bem inteligentes. Heinz é muito esquentado, e se alguém o ofende, não perde tempo, avança sem olhar tamanho. Ele não teme castigo, pois sabe que o pai, que era assim também, o defenderá. Heinz entra na escola após o Natal. Ele já conta até duzentos, tanto em alemão como em português. Em matéria de automóveis, não há quem possa com ele. Reconhece a marca dos carros pelo barulho do motor, seja Ford, Chevrolet ou Dodge.
Aqui termino e peço que me respondam em breve. Sinceras recomen-dações nossas a todos de casa e aos amigos.
Theo
Documento raro, representativo de um momento histórico importan-te, a carta nos permite saber que aquele imigrante era um alemão educado “nos moldes da disciplina prussiana, mas humana”, e com alto grau de escolaridade. Ela também nos dá um indicativo da condição financeira daquele imigrante em particular, que, pelo menos, trouxe dinheiro bas-tante para adquirir um automóvel com que trabalhar, enquanto muitos de seus compatriotas aqui aportavam em situação de quase penúria. Mais adiante, registra a ausência de um modelo de concessão para o transporte de passageiros em nosso país, o qual, como sabemos, só surgiu anos depois.
25
Na segunda parte da carta, Theodor Darius refere-se ao “clube local” dos atiradores, que no início se chamara Schuetzenverein e depois mudara o nome para Tabajara. Não é segredo que o dispositivo nazista, alcançando âmbito mundial, tinha forte infiltração nas colônias alemãs do Brasil e in-centivava a criação desses clubes. Há quem sustente que podia ser a etapa anterior a uma tentativa de cooptar cidadãos alemães para organizações paramilitares de apoio à Alemanha. Quanto à mudança do nome do clube, o governo brasileiro imporia mais tarde essa forma de “nacionalização”, que valeu também para associações, agremiações e outras entidades.
Porém, são os últimos parágrafos da carta que revelam o pensamento de Theodor Darius sobre a Alemanha após a chegada de Hitler ao poder. É quando ele afirma que gostaria de voltar à mãe-pátria, mas não nas condições então predominantes. Como em contraponto, destaca a “quase total liberdade pessoal” e qualifica de “razoáveis” os impostos cobrados no Brasil. Também anota que as diferenças sociais “não aparecem”.
Por fim, de modo talvez temerário, critica a censura à imprensa im-posta pelo regime nazista e — premonitoriamente — teme a possibilidade de que se crie de novo uma situação de obediência cega, “como o era na época do Kaiser Wilhelm” — risco que ele atribui à política adotada por Hitler, e ainda fecha a carta com a revelação de que muitos de seus com-patriotas, em Blumenau, também pensavam como ele.
Acima de tudo, no entanto, o que mais transparece é a vontade férrea do missivista, desde sua chegada. O “primeiro passo”, como ele definiu, havia sido formalizado no dia 13 de abril de 1928, com o registro da Empreza Auto-Viação Hahn & Darius. Ele estava com 31 anos e seu sócio tinha 32. De acordo com anúncio publicado em 14 de abril de 1928 no jornal A Cidade, semanário de Blumenau, a empresa atendia também às cidades de Itajaí, Tijucas e Florianópolis. O ônibus utilizado era um Rugby de 6 cilindros.
Em 15 de fevereiro de 1933, foi formalizada uma nova denomina-ção, Empreza Auto-Viação Catharinense. Theodoro Darius tinha 36 anos; João Hahn, 37. Haviam sido admitidos mais dois sócios, Adolfo Hass, de 26 anos, e Ricardo Jensen, de 32 anos. Naquela altura, os ônibus da com-panhia já chegavam também às cidades de Laguna, Tubarão e Curitiba. A frota era de 11 carros e a Catharinense mantinha 17 funcionários. Sua
26
transformação em sociedade anônima ocorreu em 1937, com Hahn, Da-rius e Hass detendo a maioria das ações, porém admitindo o ingresso de mais cinco sócios com número diminuto de ações. Ainda na década de 1940, ela estenderia as operações ao litoral e, pela praia, já que não havia estradas, chegaria a Porto Alegre.
SESSENTA E UM ANOS DEPOIS da carta de Theodor Darius, numa tarde fria de junho de 1994, em Blumenau, o brasileiro Raul Darius, então com 54 anos de idade, narrou a Rúbio Gômara mais algumas passagens da vida do imigrante — seu pai —, não sem ressalvar que praticamente tudo o que sabia baseava-se em relatos da mãe. Ela ainda vivia, mas não estava em condições de ser entrevistada.
Raul tinha apenas 6 anos quando Darius morreu. Segundo disse, quando seu pai veio para Blumenau chegou a estabelecer-se como repre-sentante comercial de algumas empresas. Na Alemanha, trabalhara em uma firma de comércio em geral, após ter sido desmobilizado do Exército alemão no fim da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, essa atividade foi inviável, já que não sabia falar português. Como o próprio Theodor Darius explicou naquela carta, a ocupação de motorista de praça lhe propiciou o aprendizado necessário, além de despertar nele o gosto pelo transporte de passageiros.
A primeira linha da Catharinense ligou Blumenau a Florianópolis. Na época, ainda não existia nenhum contato regular direto entre as duas cidades, como explicou Raul Darius:
Segundo me consta, quem pretendia viajar à capital e não dispunha de condução própria tinha de pegar o vapor até o porto de Itajaí e de lá tomar outra condução para seguir até Florianópolis.
Convém lembrar que naquele tempo pouquíssimas pessoas dispunham da chamada condução própria. Na região já existia uma estrada precária, mas percorrê-la de automóvel exigia boa dose de audácia. Assim mesmo Theodor e seu sócio João Hahn compraram um automóvel e montaram
27
sobre ele um pequeno ônibus, com entradas laterais para cada fileira de bancos. Sanefas de lona protegiam contra a chuva, mas não contra a po-eira. A bagagem ia na parte de trás do veículo. Faziam duas viagens por semana, com saída de Blumenau às três horas da madrugada e chegada a Florianópolis às 5 da tarde, se tudo corresse normalmente.
Minha mãe me contou que muitas vezes, quando chovia, eles tinham
de improvisar pontilhões em determinados trechos da estrada para poderem passar com o veículo. Depois de cada transposição, o pontilhão era desman-chado e a jardineira prosseguia viagem. As vigas de madeira iam amarradas no teto, para serem usadas sempre que preciso.
A mãe de Raul também se lembrava de que às vezes Theodor Darius chegava em casa com as costas e o peito cheios de picadas de formigas. Sempre que os riachos do caminho aumentavam muito de volume por causa das chuvas ele precisava entrar na água só de calção para sondar a profundidade e a possibilidade de travessia. As águas arrastavam grande quantidade de folhas e, com elas, traziam as formigas.
Na carta, como se viu, Theodor Darius se refere a problemas de saúde de sua esposa, Paula, e a duas cirurgias a que ela foi submetida. Apesar do otimismo inicial, ela não se recuperou. Morreu em 1936. Três anos mais tarde Darius voltou a casar-se — e são as recordações da sua segunda esposa que o filho Raul Darius comentou com Rúbio Gômara.
Vieram novas linhas e o serviço de encomendas foi incrementado. Os dois sócios se orgulhavam de contar com a total confiança dos comer-ciantes e pequenos industriais de Blumenau. Muitas vezes, recebiam im-portâncias consideráveis em dinheiro para o acerto de negócios na capital, principalmente pagamentos a órgãos de governo.
Rúbio Gômara perguntou a Raul Darius o que teria levado seu pai a vir tentar a vida no Brasil. Ele respondeu que não sabia ao certo:
Contam uns que em 1924 ele veio por livre e espontânea vontade. Contam outros que veio um tanto foragido. Na época, como consequência da Primeira Guerra, a região onde ele vivia ainda estava sob ocupação francesa. Houve um atrito entre um oficial francês e uma cunhada de meu
28
pai. Ele teve que enfrentar fisicamente esse oficial e parece que chegou a feri-lo. Houve represália pelos da ocupação e ele teve que fugir para o Brasil.
A total dedicação de Theodor Darius à empresa transparece de for-ma inequívoca naquela sua carta. Por isso, seu desligamento da Cathari-nense, em 1943, ainda durante a Segunda Guerra, é difícil de entender. Inicialmente, o filho Raul Darius declarou que o afastamento se deveu a divergências com os outros sócios. Segundo ele, naquela altura também faziam parte da empresa um irmão de João Hahn, Adolfo, e mais um ou dois sócios. De uma coisa Raul disse ter certeza: seu pai não queria sair:
Inclusive, existe uma versão não oficial, não posso confirmar se é rea-
lidade ou não, mas conta-se que os problemas começaram quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, em 1942. Como era de colonização alemã, a região de Blumenau tornou-se alvo da atenção dos órgãos de segurança do governo Getúlio Vargas. Conta-se que houve uma certa pressão para que os cidadãos alemães se desfizessem de seus bens. Como a empresa já era grande e meu pai estava diretamente envolvido na sua administração, contam que houve pressão para que ele saísse. Aí, praticamente, ele foi obrigado a sair.
A vigilância do governo federal sobre a colônia alemã era ostensiva e fato conhecido. O próprio Getúlio Vargas, ao visitar Blumenau em março de 1940, aproveitou para mandar um recado aos estrangeiros que viviam no Brasil naquela época. Referindo-se a dois dos países envolvidos na guerra, advertiu que o Brasil não era inglês nem alemão.
O fato é que Theodor Darius não viveu muito tempo depois de deixar a empresa. Sua morte ocorreu em 1946. Além de estar fora da Catharinense, ele ainda amargava a incerteza sobre o destino de muitos dos seus familiares, tragados pelo inferno da Alemanha nazista derrotada.
NO MESMO ANO EM QUE Theodor Darius se afastou da Catharinense, nasceu Lourival Friedler. O pai de Lourival era músico. Veio morar em Blumenau para tocar em um conjunto musical e resolveu ficar. Casou-se
29
com uma moça da cidade e se dedicou a várias ocupações: padeiro, mascate, dono de loteamento, motorista de táxi. Além da música, sua grande paixão eram os automóveis, como Lourival Friedler contou a Rúbio Gômara:
Meu pai me transmitiu aquele seu amor pelo automóvel, tanto que hoje
ele e eu temos uma coleção de carros antigos. Uma homenagem à memória do passado, que acho importante preservar. Não é só o carro; cada carro daqueles tem uma história; houve fatos, pessoas ligadas a ele. Em 1948 ou 1949, por aí, meu pai tinha um Perfect na praça; temos esse carrinho até hoje. E com 5 anos de idade, eu já ligava o carro de meu pai de manhã, para esquentar, enquanto ele fazia a barba.
No começo de 1959, o pai de Lourival Friedler vendeu seu negócio de terras e alguns caminhões. Com o dinheiro, comprou a primeira em-presa de ônibus, a Transporte Coletivo Friedler Ltda., com frota de cinco veículos de transporte urbano. Lourival ainda não tinha completado 16 anos e fazia o curso ginasial. Passou a estudar à noite para poder ajudar o pai. Durante o dia, trabalhava como cobrador em alguns horários. Mais tarde, foi motorista e também passou a responder pela área de manutenção. Em 1965, para enorme consternação de Lourival, o pai vendeu a empresa.
Na primeira oportunidade Lourival convidou alguns amigos para se associarem na compra de outra, a Transportadora Timboense, que fazia a linha intermunicipal Blumenau–Indaial–Timbó–Benedito Gomes. Poucos meses depois seu pai voltou a se interessar pela atividade de transporte de passageiros. Comprou uma concorrente, chamada Empresa de Transportes Indaial, e propôs ao filho a fusão das duas. Compraram uma terceira, a Expresso São Benedito, e criaram a Empresa Auto Viação Rainha. Esta se mostrou um bom investimento, e trabalharam com ela até fins de 1969, quando os sócios se separaram e Lourival ficou outra vez sem ter o que fazer.
NESTE PONTO, VOLTAMOS a falar daquela empresa fundada em 1928 por Theodor Darius — a Auto Viação Catarinense. Ela foi comprada em janeiro de 1970 por Lourival Friedler, seu pai e mais três amigos. Na época,
30
pertencia a Martim Piccoli e Percy Schwind, da Empresa Nossa Senhora da Penha, de Curitiba. Os restantes 16% pertenciam a dois outros sócios.
A velha Catarinense ganharia grande impulso após mudar de mãos. Em apenas cinco anos, a idade média da frota de 52 ônibus foi reduzida para dois anos e meio. Com a incorporação de outras cinco companhias, entre elas a Brusquense, e a aquisição de novas linhas, a companhia dobrou de tamanho e levou seus serviços a todo o estado de Santa Catarina. A frota ultrapassou as 100 unidades. A empresa foi modernizada e racionalizada, ficou mais enxuta, ágil e rentável.
Em 1978, foi criada a Catarinense Cargas e iniciado o processo de diversificação, com a fundação da Distribuidora Catarinense de Veículos — Dicave. Por fim, o grupo passou a atuar no ramo da construção civil. Em 1983, a empresa estendeu suas operações à região serrana, ligando o planalto central de Santa Catarina ao litoral em Itajaí e Camboriú. Em junho de 1994, quando Rúbio Gômara entrevistou Lourival Friedler, o grupo continuava em franca expansão, e o empresário brincou:
Somos a mais antiga do Brasil, mas continuamos com o coração bas-tante jovem.
Friedler ainda contou que, em 1968, ele e seu pai já haviam feito uma tentativa de comprar a Catarinense, mas o negócio esbarrou no preço. Ao ser consumada em 1970, a transação teve certo simbolismo, especial-mente para a população catarinense. A empresa voltava ao controle de um grupo de Blumenau.
Mas a história não se encerrava ali. Anos antes, Lourival tivera entre seus colegas, em um curso de
Contabilidade, um jovem chamado Raul Darius. Tão logo concretizou a aquisição da Catarinense, Lourival levou-o para trabalhar na empresa. Um Darius voltava ao negócio criado por seu pai 42 anos antes.
Em 1985, o controle da Auto Viação Catarinense passou para o Grupo JCA, do empresário Jelson da Costa Antunes, e a sede da empresa foi transferida para Florianópolis.
Com frota maior e ônibus mais confortáveis, as linhas foram sendo estendidas a mais cidades.
Em pouco tempo foram adotados uma logomarca e o nome Auto-Viação Catharinense. Aqui, na beira do caminho, uma pausa para descanso dos passageiros.
Theodor Darius e o primeiro veículo. O elegante motorista não hesitava em enfrentar a poeira, a chuva, a lama e a água dos rios.
Recorte de jornal da cidade de Blumenau com anúncio da Catharinense.
Auto
Via
ção
Cat
arin
ense
Foto
s: Ac
ervo
Rau
l Dar
ius
Jardineira de média capacidade, da década de 1930.
No pátio da sede da empresa, em Florianópolis,
perfeitamente reconstituída, a primeira jardineira da
Catarinense.
Ônibus Eliziário que a Catarinense utilizava na década de 1960.
Foto
s: Au
to V
iaçã
o C
atar
inen
se
33
JOÃO TUDE DE MELO nasceu em 27 de dezembro de 1896 na Fazenda Mata do Diogo, em Garanhuns, Pernambuco. Viveu nessa cidade por 34 anos, antes de se transferir para o Recife.
De origem humilde, aos 12 anos de idade João Tude ganhava algum dinheiro como carregador de malas e agenciador de hospedarias. Aos 15, já trabalhava como mecânico e entusiasmava-se com o ronco dos moto-res dos poucos veículos que apareciam na cidade rodando aos trancos e soltando fumaça. Aos 18, tornou-se motorista de caminhão, atividade que lhe permitiu conhecer a maior parte das estradas de terra daquela parte do Estado. Em seguida, abriu uma oficina mecânica e, assim que juntou dinheiro, comprou seu primeiro caminhão. Com o passar do tempo, já tinha uma frota e tornara-se o principal transportador de cargas de Gara-nhuns e das redondezas.
Para transportar gente dentro dos limites da cidade, em 1932 João Tude criou a Auto Viação Progresso. Quatro anos depois, estabeleceu o primeiro serviço regular de transporte de passageiros ligando Garanhuns ao Recife. O próprio João ia ao volante no trajeto de quatorze horas e 230 quilômetros, difícil e cheio de peripécias. A ideia deu tão certo que, em 1940, com 44 anos, João Tude de Melo projetou e construiu o primeiro ônibus da América do Sul com motor embutido na carroceria. Com ele a Auto Viação Progresso abriu a primeira linha do Recife para o Rio de Janeiro e São Paulo — uma viagem que durava mais de quarenta horas.
João Tude era sobretudo criativo. Estava sempre pensando em inova-ções que pudessem aumentar a produtividade de sua empresa e melhorar
empreSa auto viação progreSSo S. a.
João tude de melo
1932
34
as condições de conforto e segurança para os passageiros. Recém-instaladas no Brasil, montadoras de caminhões e de chassis de ônibus costumavam procurá-lo no Recife para sondar a sua opinião sobre determinadas solu-ções tecnológicas que pretendiam adotar, ou para observar modificações e adaptações que ele costumava fazer nos ônibus de sua empresa. Dessa forma, a Auto Viação Progresso acabou dando contribuições importantes para o crescimento e desenvolvimento do setor de transporte rodoviário de passageiros.
A empresa continuou crescendo. Nas décadas de 1940 e 1950, o nome Tude já estava fortemente associado ao transporte urbano de passageiros na capital pernambucana, mas o empresário decidiu que a vocação maior seria a estrada. Vendeu as linhas municipais e passou a operar exclusivamente nos segmentos intermunicipal e interestadual.
João Tude lançou o primeiro serviço leito do Nordeste, na linha Recife–Rio de Janeiro. Também projetou o primeiro chassi para ônibus construído em Pernambuco, batizado justamente de chassi João Tude. Muitos anos depois, a Auto Viação Progresso também seria a primeira a operar ônibus Double Decker na região.
Embora tenha mantido por vários anos linhas para o Rio de Janeiro e São Paulo, mais tarde a Progresso preferiu concentrar-se exclusivamente na Região Nordeste, estendendo sua atuação aos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Piauí e Bahia, sempre instalando pontos de apoio a intervalos de 400 quilômetros. As rotas para o Rio de Janeiro e São Paulo foram transferidas a terceiros.
A companhia já entrou na terceira geração da família Tude, tendo Bruno Tude como diretor superintendente. Francisco Tude, pai de Bruno, é um dos diretores. O Grupo Tude controla empresas de transporte rodoviá-rio de passageiros e mantém concessionárias de automóveis, caminhões e ônibus. Também opera um moderno Terminal Central de Cargas, no Recife.
Raridade histórica: o primeiro ônibus da América do Sul com motor embutido na carroceria. Foi construído por João Tude de Melo em 1940.
Com pouco mais de 20 anos de atividades, a Auto Viação Progresso percorria com seus ônibus a maior parte das estradas de terra de Pernambuco.
O fundador, de terno branco e com o chapéu na mão, fotografado entre os motoristas que faziam a pioneira linha do Recife para o Rio de Janeiro.
Foto
s: Ac
ervo
s Rod
onal
e A
BR
ATI
Ônibus Busscar com chassi Scania. Em cada época, os veículos mais avançados rodaram nas dezenas de linhas da empresa.
Ônibus leito Nielson Diplomata com
chassi Scania, um dos pioneirismos da Auto Viação Progresso para
cobrir a longa rota Recife–Rio de Janeiro.
A carroceria Tude, produzida no Recife, outra ousadia do criador da Auto Viação Progresso.
Foto
s: Ac
ervo
s Rod
onal
e A
BR
ATI
37
O MINEIRO JOÃO MANSUR sempre teve um respeito quase religioso pelos papéis — especialmente aqueles que levavam a sua assinatura. Gra-ças a esse seu jeito de ser, os descendentes de João Mansur podem, hoje, reconstituir boa parte da trajetória profissional e de vida desse pioneiro do transporte rodoviário de passageiros.
Por exemplo: entre os papéis zelosamente guardados por ele durante muitos anos encontra-se até mesmo um atestado de mérito escolar, datado de 29 de abril de 1932 e assinado pela diretora do Grupo Escolar Barão do Retiro, professora Nair Alves Ribeiro, na localidade de Chácara, município de Juiz de Fora, Minas Gerais. E com firma devidamente reconhecida!
Em Juiz de Fora, lá pelos idos de 1938, havia uma entidade que supria a inexistência dos órgãos de habilitação de motoristas. Chamava-se Centro dos Chauffers. A respectiva carteira de contribuinte, datada daquele ano, foi cuidadosamente guardada por João Mansur.
São exemplos de documentos preciosos que se juntam, por exemplo, à nota fiscal datada de 4 de setembro de 1939, correspondente à compra de um automóvel Ford usado, ano de fabricação 1937, que ele transfor-mou em ônibus, e pelo qual pagou a importância de 15 contos de réis. Existem outras notas, recibos e declarações estampilhadas de 1940, 1942, notas promissórias de 1944 e 1945 (que ele guardou como comprovantes dos créditos que lhe eram concedidos), autorizações do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais no ano de 1948 — e por aí vai.
Até mesmo uma proposta da antiga encarroçadora CIRB, do Rio de Janeiro, com data de 30 de março de 1948, apresenta saborosa descrição
empreSa unida manSur & FilhoS ltda.
João miguel manSur
1934
38
das três carrocerias que João Miguel Mansur acabara de encomendar, e que se destinavam a operar na região de Juiz de Fora:
... fabricaremos treis carrosserias tipo Vasco, para transporte coletivo e com acomodações para transportar 16 passageiros confortavelmente assen-tados. (...) na fabricação serão sòmente empregados materiais de 1ª quali-dade, o této será equipado com bagageira externa tendo acesso por meio de escada, o compartimento trazeiro será para bagagens pequenas e terá acesso exteriormente por traz. Os vidros serão de segurança e funcionarão por meio de aparelhos estabilizadores. O piso será recoberto com linóleo vermelho, a instalação elétrica interna será de iluminação difusa, será instalado um par de setas de direção e uma cigarra para sinal de parada.
João Mansur pagaria 80 mil cruzeiros por carroceria e o lote de três seria entregue num prazo entre 120 e 150 dias.
O mesmo cuidado com que costumava guardar papéis, João Mansur tinha ao dirigir seus primeiros ônibus. No caso, todo cuidado era realmente necessário, por se tratar de veículos bastante usados, que ele precisava levar com muita cautela para evitar eventuais quebras que iriam interromper a prestação do serviço. Nos intervalos entre uma viagem e outra, metia-se embaixo dos veículos para a criteriosa inspeção de determinadas partes ou componentes. Também tinha o hábito de sempre carregar pelo menos um litro de óleo para completar o nível do motor, já prevendo a queima excessiva.
O comerciante Nestor Vasconcellos, dono da Vasconcellos Auto-Peças Ltda., de Juiz de Fora, rememorou em 1979, cinquenta anos depois, os tem-pos em que João Miguel Mansur, com apenas 18 anos de idade, apareceu em Juiz de Fora dirigindo um velho ônibus Chevrolet Ramona, ano 1929, com freios mecânicos e capacidade para transportar 18 passageiros. Estava iniciando a linha Juiz de Fora–Rio Novo. Aquele se tornaria, provavelmente, o seu ônibus mais conhecido na região. De vez em quando, pela manhã, João Miguel comprava, a crédito, o inevitável litro de óleo para o motor. À tarde, concluída a viagem de volta, comparecia pontualmente à loja de Nestor para pagar o produto. Vasconcellos também acompanhou a evolução da frota usada por João Miguel. O ônibus seguinte foi um International
39
C 30, adquirido da viúva de José Novelino; depois, veio um Ford 1937. A compra do primeiro ônibus foi sugerida pelo pai, Miguel José Mansur.
Mas até chegar a esse momento que definiria seu futuro, João Man-sur, menino ainda, fez de tudo no ramo do pequeno comércio ambulante. Aos 10 anos de idade já havia se iniciado em mecânica de automóveis e estava aprendendo a dirigir caminhão. Também exercitava a habilidade de comprar e vender, negociando pães, ovos, galinhas e até novilhas. Em 1934, tendo acumulado algum dinheiro com essas atividades, engraçou--se com a ideia de comprar um ônibus. Era um veículo aberto, igual aos bondes da época, com estribo, bancos corridos e entrada individual para cada banco — um Chevrolet quatro cilindros, comprado em Juiz de Fora. Com ele, iniciou a primeira linha intermunicipal, ligando Chácara a Juiz de Fora. O negócio rendeu e o jovem empresário decidiu comprar um segundo veículo, já aí um Chevrolet Ramona.
Seria um período de aprendizado e de sobressaltos, mas o adolescente João Miguel revelaria, entre outras qualidades, a flexibilidade e rapidez de raciocínio dos bons negociantes. Certa vez apareceu um concorrente disposto a entrar no negócio e com a intenção de comprar um ônibus mais novo. Mansur procurou-o e conseguiu vender-lhe o seu próprio veículo. Com o dinheiro, foi ele quem comprou um ônibus mais novo. O concor-rente anunciou que ia fazer a mesma linha que Mansur. Este então propôs um acordo: ambos operariam a mesma linha, mas em dias alternados. Por alguma razão que deixava o concorrente intrigado, naquela linha o ônibus de Mansur andava sempre cheio. O dele, não.
João decidiu fazer também a linha Carandaí–Barbacena, onde a estrada era boa, havia passageiros e, aparentemente, perspectiva de lucro. Porém, o trajeto também era servido por trem, com tarifa 50% menor. O ônibus de João Miguel andava praticamente vazio e ele acabou perdendo um Ford 1929 na penhora. Tinha apenas 17 anos de idade.
Com o ônibus restante, tentou operar a linha Friburgo–Além Paraí-ba. Na primeira e única viagem, o ônibus quebrou no meio do caminho. Mandou rebocar o veículo para Juiz de Fora, mas faltou dinheiro para o conserto e o jovem foi obrigado a dormir dentro do ônibus durante um mês até arranjar recursos para os reparos. Escolheu então novo roteiro (Rio Novo–Juiz de Fora), mesmo sabendo que novamente teria o trem
40
como principal concorrente. Só que havia aprendido a lição. Colocou seu ônibus na Praça da Estação, caminho por onde passavam os passagei-ros, e marcou a saída para 15 minutos antes da partida do trem. Também fixou um preço 30 centavos menor que o valor do bilhete por via férrea. Para completar, ele mesmo distribuiu os panfletos de propaganda na rua principal, nas barbearias, bares, sapatarias. Já no primeiro dia, o ônibus saiu lotado. Era o ano de 1936.
Três anos mais tarde, em 1939, ele prolongou a linha de Rio Novo até São João Nepomuceno. Estava ganhando dinheiro e comprou mais um ônibus, pago à vista. Passados mais três anos a frota já tinha cinco ônibus; foi quando o negócio desandou outra vez. Ele precisou vender algumas linhas, mas como não lhe faltava crédito, conseguiu sanear rapidamente a má situação financeira do negócio. As dívidas foram eliminadas em um ano.
Um dos seus melhores negócios na época foi a aquisição da linha Juiz de Fora–Barbacena, posteriormente prolongada até São João Del Rei. Era operada com um Chevrolet Tigre 1938, ainda com carroceria de madeira, cinco bancos transversais e porta individual para cada banco.
O ano de 1939 seria também o do início da Segunda Guerra Mun-dial e trouxe dificuldades, principalmente a partir de 1942, quando veio o racionamento de combustível. Felizmente, obteve as cotas de combustível de que necessitava para continuar rodando e, mais tarde, para dar início à expansão da empresa. O crescimento foi lentamente consolidado no pós-guerra, com a compra de mais ônibus e de linhas de concorrentes. A linha Juiz de Fora–Santos Dumont foi incorporada em 1949, permitindo a criação e o registro oficial da Empresa Unida Mansur & Filhos Ltda., na qual eram seus sócios o pai, Miguel José Mansur, e o irmão mais jovem, José Miguel Mansur Filho.
O GOVERNO ESTAVA iniciando o processo de estruturação do setor de transporte rodoviário de passageiros. A empresa obteve a concessão da linha Juiz de Fora–Belo Horizonte e, a partir daí, acumulou uma sucessão de êxitos. Estava sempre atenta à abertura de novas linhas e às obras de asfaltamento de ligações entre cidades com potencial econômico. Houve
41
ocasiões em que o próprio João Mansur colaborou diretamente na melhoria de trechos. Foi o caso, por exemplo, da linha Juiz de Fora–Valença (RJ). Ao solicitar a autorização do DNER para operá-la, a Empresa Unida foi informada de que a autorização seria concedida, mas que a estrada não oferecia condições de uso. A resposta de João Miguel: “Não tem problema, eu abro a estrada”. E abriu mesmo, como fez também quando adquiriu a linha Viçosa–Muriaé, onde a estrada era tão estreita que só podia ser ope-rada por micro-ônibus. A Empresa Unida fez o alargamento, em parceria com o DER-MG, removendo toneladas e toneladas de pedras.
Encarando de frente todos os desafios, João Miguel Mansur seguiu construindo a empresa destinada a integrar dezenas de cidades da Zona da Mata mineira a Belo Horizonte e ao Rio de Janeiro. Passaram a ser atendidas cidades como Ubá, Cataguases, Leopoldina, Visconde do Rio Branco, Viçosa, Ponte Nova, Ipatinga, Santos Dumont, Barbacena e São João Del Rei.
Em 1980, ele e seu irmão José optaram por uma cisão da socieda-de, com o intuito de abrir espaço para o ingresso dos filhos já adultos. A Empresa Unida foi mantida sob administração familiar.
João Miguel Mansur continuou guardando papéis. Já mais entrado em anos, ali por 1979 e 1980, não se acanhou em procurar amigos e conhe-cidos para que dessem testemunhos escritos sobre seus primeiros tempos. Pessoas simples que nunca quiseram deixar a região, gente que, 50 anos antes, havia acompanhado de perto sua luta para construir uma empresa forte. Com tais depoimentos, ele quis deixar para seus descendentes alguns exemplos das coisas que considerava mais importantes para se receber na vida: o crédito e a confiança das pessoas.
Além do citado Nestor Vasconcellos, outros recordaram os primeiros anos da saga de João Miguel Mansur. Um deles foi Oscar Casali, de Goianá, localidade incluída na linha com que João Miguel ligava Juiz de Fora a Rio Novo. Casali referiu-se à visita do candidato a empresário ao seu esta-belecimento comercial, em certa manhã de 1936. Chegou no Chevrolet Ramona, desceu, puxou conversa e comunicou que estava iniciando a linha naquele dia. A partir dali, prometeu, passaria todas as manhãs por volta das nove e meia. A promessa foi cumprida com pontualidade. Para muitos, ao longo da estrada, a passagem do velho ônibus servia como referência
42
de horário. Oscar Casali também acentuou que o motorista era pessoa alegre e sempre pronta para servir a qualquer pessoa. Às vezes chegava a deslocar-se para além do ponto final do ônibus para entregar em domicílio alguma carta ou encomenda que lhe haviam confiado.
José Geraldo Ladeira, velho amigo de Rio Novo, foi outro que co-mentou sobre o Chevrolet Ramona e recordou a admiração das pessoas pelo fato de João Miguel trabalhar sozinho, dirigindo e ao mesmo tempo fazendo as vezes de cobrador. Ladeira chegou a ser sócio de João Miguel na compra de uma perua International para 12 passageiros, destinada a fazer a linha Rio Grande–Juiz de Fora, via Rochedo e Goianá. O negócio não deu certo porque o movimento de passageiros era pequeno. Tantos anos depois, Ladeira ainda lamentava a perda da possibilidade de manter sociedade com um empreendedor competente como João Miguel.
Por sua vez, Octacílio da Silva Ramalho, que nas décadas de 1930 e 1940 era guarda-livros, responsável pela escrita contábil da firma de Nes-tor Vasconcellos, recordou um detalhe: os pneus do Chevrolet Ramona eram enchidos com bomba manual e o carro não tinha amortecedores. O proprietário se encarregava da limpeza, da lavagem e lubrificação do veículo. De vez em quando até aplicava uma mão de tinta nas partes mais descascadas da carroceria, usando uma daquelas bombas manuais de “flit” usadas com inseticidas. Octacílio também contou que, depois de aposen-tado, costumava ficar à janela de sua casa apreciando o movimento na rua e se impressionando com a quantidade de ônibus da Empresa Unida que todo dia passavam por ali.
A implementação de processos voltados à qualidade total começou a ser feita na Empresa Unida em 1994. Mais tarde, foi introduzido o sistema japonês 5S. A empresa conquistou vários prêmios na área da qualidade.
O carro já era bem usado e, por precaução, ao dirigi-lo João Mansur levava sempre um litro de óleo.
Amigos, parentes... e até passageiros: o jovem João Mansur gostava de dividir com todo mundo o seu orgulho de pequeno empreendedor.
O dono ao volante de um chassi recém-
adquirido, ainda à espera de encarroçamento.
Foto
s: Ac
ervo
Em
pres
a U
nida
Estender a linha Juiz de Fora–Barbacena até São João Del Rey foi um marco importante na trajetória da Empresa Unida Mansur & Filhos.
Antigos veículos Chevrolet foram carinhosamente preservados pelo empresário.
Foto
s: Ac
ervo
Em
pres
a U
nida
45
CELSO GARCIA CID ERA ESPANHOL. Chegara ao Brasil com 19 anos de idade, procedente da Galícia. Na mesma cidade onde desembarcou na nova terra — Santos — arranjou seu primeiro emprego, como garçom. Trabalhou depois nas obras de extensão dos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana até a divisa com o Paraná, na localidade de Jataizinho, onde o Rio Tibagi impedia a continuação da ferrovia. Ali mesmo Celso tam-bém trabalhou uns tempos como pedreiro. Economizando cada centavo, comprou um pequeno caminhão Ford 1933 e com ele passou a transportar produtos e mercadorias entre Jataizinho e o nascente povoado de Londrina, distante 45 quilômetros.
Mathias Heim era alemão e também viera tentar a sorte no Brasil. Mecânico competente, não teve dificuldade para arranjar colocação nas oficinas da Companhia de Terras Norte do Paraná, em Londrina — em-preendimento agrícola de 1 milhão e 200 mil hectares lançado pouco antes por investidores ingleses. O projeto estava orientado para o cultivo de algodão, em escala suficiente para suprir parte considerável da demanda mundial pelo produto. A área, toda de terra virgem e coberta de densas matas, havia sido dividida em grandes lotes que passaram a ser vendidos a colonos, mediante pagamento a prazo.
O terceiro personagem desta história, José Garcia Villar, também era espanhol. Emigrara para o Brasil duas décadas antes e trabalhara em fazendas de café do estado de São Paulo. Tornara-se cerealista e, hábil negociante, conseguira economizar e guardar dinheiro com o propósito de iniciar um novo negócio. Ainda não sabia qual.
viação garcia ltda.
celSo garcia cid — JoSé garcia villar
1934
46
Londrina e a Companhia de Terras Norte do Paraná praticamente não se diferenciavam uma da outra. A localidade crescia de forma muito rápida, mas não oferecia praticamente nenhuma estrutura para receber os forasteiros. A primeira clareira para marcar o nascimento da futura cidade tinha sido aberta em agosto de 1929, em um lugar que passara a ser chama-do de Patrimônio Três Bocas, devido às três minas de água que havia por ali. Os materiais usados nas primeiras construções foram transportados em lombo de burro. Em 1930, começariam a chegar os colonos, inicialmente japoneses, transportados em carros da Companhia de Terras.
Nos primeiros tempos, algumas das instalações da empresa chega-vam a abrigar as dezenas de famílias que vinham em busca do seu lote de terra. Não esquentavam lugar, porém: tão logo conseguiam fechar ne-gócio e assumiam o compromisso de começar a pagar em dois anos os 30 e poucos hectares da sua gleba, apressavam-se a ir tomar posse dela — o que significava abater a floresta a machado, construir a pequena casa de madeira e limpar o chão para receber as primeiras sementes ou mudas.
A Companhia tinha dois problemas. O primeiro era que, quando derrubavam a mata e deixavam tudo preparado para o plantio, os colonos dificilmente preservavam a vocação original do projeto, cultivar algodão. Com a excelente situação do café no mercado internacional, optavam por essa alternativa de plantio, ignorando solenemente a diretriz traçada nos gabinetes ingleses responsáveis pelo empreendimento. A cafeicultura predominava no território paulista tal como já havia ocorrido no território mineiro, e agora ia invadir o norte paranaense. Sob esse aspecto, não havia muito o que fazer.
O segundo problema é que os colonos não paravam de chegar. De-sembarcavam em Jataizinho, utilizavam a balsa para atravessar o Tibagi e então precisavam de transporte até Londrina. Tornavam a precisar depois para ir tomar posse dos seus lotes.
Corria o ano de 1932 e a solução encontrada para o segundo proble-ma foi encarregar Mathias Heim do transporte dos colonos, usando duas jardineiras de propriedade da companhia.
Quanto a Celso Garcia Cid, seu pequeno caminhão Ford 1933 era muito demandado para o transporte de cargas em toda aquela área. O imigrante recolhia as mercadorias em Jataizinho, atravessava o rio na balsa
47
e penosamente vencia 45 quilômetros de picadas até o povoado de Londri-na. Rodava todos os dias da manhã à noite. Com isso, tornou-se bastante conhecido no lugar.
Mathias Heim não teve dificuldade em encontrar o sócio de que pre-cisava quando a Companhia de Terras lhe propôs assumir, por concessão, a montagem de uma empresa de ônibus independente para transportar os colonos. Celso Garcia Cid aceitou na hora o convite e entrou no novo negócio com seu Ford 1933. Confiado à oficina da família Ziober, foi transformado em jardineira, posta para rodar assim que ficou pronta e logo apelidada de Catita pelos colonos. Foi o primeiro veículo da Companhia Rodoviária Heim & Garcia, fundada no dia 15 de janeiro de 1934. Celso dirigia e Mathias cuidava da manutenção, o que não era fácil, conside-rando a falta de peças, as subidas íngremes, os atoleiros, buracos e tocos de árvores dos caminhos.
Seriedade e responsabilidade foram os dois comprometimentos prin-cipais dos dois sócios naquele início de história. O contrato da Heim & Garcia com a Companhia de Terras era rigoroso e, bem ao estilo dos ingleses, estabelecia multas por atraso e previa a imediata rescisão do contrato em caso de interrupção do serviço. Os colonos pagavam a passagem com vales fornecidos pela companhia, que depois eram trocados por dinheiro pelos dois sócios. O contrato sempre foi cumprido à risca por Mathias e Celso.
Embora a linha inicial fosse Londrina–Jataizinho, eles tinham li-berdade para cobrir outras rotas à medida que iam sendo abertas novas picadas entre os lotes. E os colonos exigiam cada vez mais deles. Em 1936 já eram três Catitas rodando sem parar durante o dia e parando à noite para a reparação dos estragos provocados pelas condições hostis.
O terceiro personagem apareceu quando o alemão decidiu retirar--se do negócio e Celso precisou buscar novo sócio. Pôs anúncio em um jornal de São Paulo e, em resposta, apresentou-se um seu patrício, dono de 110 contos de réis e aparentemente disposto a investi-los no negócio. Celso não sabia, mas depois de ler o anúncio José Garcia Villar passara a acompanhar a distância o vaivem da frota da empresa. Tomara infor-mações, fizera cálculos e só então decidira negociar. Em 1938, surgiu a Empreza Rodoviária Garcia & Garcia, cuja frota foi logo reforçada com mais alguns veículos.
48
As compras de novos carros não se interromperam nem mesmo diante das dificuldades trazidas pela Segunda Guerra Mundial. Em 1940, a Garcia & Garcia já contava com 18 ônibus. O maior problema surgiu quando o governo decretou o racionamento de combustível. Todos os ônibus eram movidos a gasolina, e a cota concedida à Garcia & Garcia mal dava para abastecer metade da frota. Celso decidiu usar o sistema de gasogênio. Comprou em São Paulo um equipamento, instalou-o em um ônibus GMC e fez os testes. Uma vez aprovado, o sistema foi copiado pelos mecânicos da empresa, que produziram outros 12 exatamente iguais. Instalados nos ônibus GMC, possibilitaram que os veículos rodassem durante todo o tempo do racionamento.
Em 1950, as estradas do norte do Paraná, com pouquíssimas exceções, ainda não estavam asfaltadas. Mas já eram de terra batida, mais largas e com razoáveis condições de tráfego quando não chovia. A frota da Garcia & Garcia chegava a 50 ônibus, e agora todos tinham o motor embutido na carroceria. Novas cidades continuavam surgindo, muitas delas em lugares por onde já passavam linhas da empresa.
Cinco anos depois, em 1955, um grande drama se abateu sobre quase todo o norte do Paraná: geadas muito fortes arrasaram a cultura ca-feeira e levaram à ruína os agricultores da região. Milhões de pés de café tiveram de ser erradicados e substituídos por outras culturas. Até que fosse completado o redirecionamento do seu perfil produtivo, aquela parte do Estado enfrentaria dificuldades, que, naturalmente, afetaram também a Garcia. Mas sem interromper de todo o seu desenvolvimento: ela estava bem-estruturada, consolidada, e teve condições de suportar o impacto da crise. Seu maior compromisso seguiu sendo o de garantir que os passageiros efetivamente chegassem ao destino, com chuva ou com sol, e sempre com pontualidade. Não se permitia falhar.
Durante todos aqueles anos, a empresa aprendera a expandir seus negócios no mesmo ritmo da colonização e do desenvolvimento da região. Habituara-se a chegar na frente. Sabia que para continuar no mesmo cami-nho deveria inovar permanentemente, modernizar sempre o equipamento, renovar pelo menos a décima parte da frota a cada ano, ajustar continu-amente a rede de filiais e agências, criar novos serviços — enfim, operar com a capacidade e agilidade exigidas em cada época ou circunstância.
49
Naquele mesmo ano, ela assumiu a denominação Viação Garcia Ltda. Celso Garcia Cid e José Garcia Villar eram incansáveis, estavam sempre orientando, administrando, ensinando, mostrando como se devia fazer para cativar os usuários. O treinamento de pessoal, a segurança, a manutenção deveriam merecer mais atenção ainda. Era importante que as comunidades se sentissem tão próximas da empresa como nos primeiros tempos. A companhia devia seguir tratando cada passageiro como se fosse um daqueles pioneiros ansiosos e sonhadores dos primeiros tempos. Tam-bém visionários, os dois apostavam sua garra e enorme força de vontade no empreendimento, afrontando lama, poeira, falta de infraestrutura e de recursos técnicos, arriscadas travessias de balsa, enormes extensões de mata fechada. Nada disso foi capaz de fazê-los esmorecer.
Em 1961, Londrina passou a ter sua ligação com a capital do Estado, Curitiba, totalmente asfaltada. Viajar de ônibus começava a deixar de ser uma aventura e as pessoas iam descobrindo o prazer de deslocar-se com conforto — mas descobrindo aos poucos, já que muitas outras estradas ainda continuavam precárias, enquanto mais e mais cidades brotavam no meio do sertão. Ônibus novos e mais resistentes eram acrescentados à frota e até estações rodoviárias a empresa construía. Na verdade, fez até estradas nessa época, ainda como nos primeiros tempos.
José Garcia Villar morreria em 1962. Dez anos mais tarde, também se iria Celso Garcia Cid. De maneira firme e harmoniosa, haviam levado a Viação Garcia à condição de grande empresa. Do mesmo modo, as ge-rações seguintes de seus descendentes seguiriam tocando a companhia.
EM 1994, ANO EM QUE Rúbio de Barros Gômara interrompeu os levan-tamentos e entrevistas para este livro, a Viação Garcia estava completando 60 anos de existência. O marco foi comemorado de diversas maneiras, uma delas a edição de uma publicação de 64 páginas, tipo brochura, com o título Aqui tem história. Contava toda a fantástica trajetória da companhia, desde os tempos da jardineira Catita, nos idos de 1934. Dessa publicação, Rúbio selecionou parte considerável do material que ele pretendia utilizar para escrever este capítulo reservado à Viação Garcia.
50
Em 2003, a editora Geração Editorial, de São Paulo, lançou o livro Terra Vermelha, romance épico que retrata o processo de colonização do norte do Paraná e a formação da cidade de Londrina. Na trama, o escritor londrinense Domingos Pellegrini refere-se com frequência a uma fictícia Viação Gracia. Mas mesmo que no livro ela se ocultasse sob a denomina-ção de, digamos, Viação Transiberiana, seria imediatamente reconhecida. Estão ali, descritos com maestria, alguns dos muitos lances de pioneirismo, força de vontade, garra, coragem, criatividade e dedicação ao trabalho que marcaram o surgimento e a consolidação da Viação Garcia. Além, é claro, daqueles sitiantes que, quando não dispunham dos vales da Companhia de Terras dos primeiros tempos, às vezes pagavam com frangos o preço da passagem.
Os ônibus da Garcia cruzam todos os caminhos não mais apenas do Paraná, mas de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Aqueles 15 ou 20 pioneiros que todo dia desembar-cavam na nascente Londrina transformaram-se em milhões de passageiros transportados todos os anos.
Celso Garcia Cid (em primeiro plano) na oficina da família Ziober, onde foram fabricadas as carrocerias das primeiras jardineiras da Companhia Rodoviária Heim & Garcia.
A lama não intimidava ninguém.A Catita, a primeira de todas, foi reconstruída.
Motorista, cobrador e mecânico em frente à garagem da Garcia, em Londrina. Sem eles, a cidade talvez nem tivesse saído das pranchetas dos ingleses.
Foto
s: Ac
ervo
Via
ção
Gar
cia
Na primeira estação rodoviária de Londrina, construída pelos dois sócios da Heim & Garcia, Celso Garcia Cid (o primeiro à esquerda) aguarda a chegada de mais passageiros antes de partir.
Na década de 1940, parte dos carros da frota foi adaptada para funcionar com equipamento de gasogênio.
Na década seguinte, a empresa passou a encarroçar seus próprios ônibus. Cerca de 40 operários eram empregados nessa atividade.
Foto
s: Ac
ervo
Via
ção
Gar
cia
53
A PÁSSARO MARRON NASCEU de um tropeço. Em 1935, para evitar que seu irmão João da Assunção Teixeira fosse à falência, o comerciante Affonso José Teixeira viu-se obrigado a receber dele, como pagamento de uma dívida de 100 contos de réis, a pequena empresa de ônibus chamada Pássaro Azul. Quatro veículos já bastante rodados compunham toda a frota, usada para transportar passageiros entre São Paulo e Aparecida do Norte, pela antiga estrada de terra São Paulo–Rio, que antecedeu a Via Dutra.
A origem da crise da empresa teria sido um acidente. Trafegando entre Aparecida e Guaratinguetá, um dos velhos e pesados ônibus Diamond da Pássaro Azul envolveu-se em uma colisão que causou a morte de um delegado de polícia muito estimado na região. A partir daí, problemas e dificuldades se sucederam. João da Assunção recorreu seguidas vezes à ajuda financeira de Affonso José, até o dia em percebeu a impossibilidade de pagar o que devia. Entregou ao irmão os ônibus e as linhas.
Não se pode dizer que Affonso José Teixeira ficou feliz em se tornar empresário de ônibus. Possuía uma casa comercial rentável em São Paulo e nada entendia de transporte rodoviário de passageiros. É verdade que seu irmão talvez pouco entendesse também, uma vez que a Pássaro Azul, apesar do nome, nunca saía do vermelho.
Affonso José Teixeira era português. Nascido em 1889, ao emigrar para o Brasil escolhera como destino uma fazenda no Rio Grande do Sul, onde trabalhou algum tempo como barbeiro. Depois, foi morar em São Paulo e passou a trabalhar no comércio, como vendedor. Assim que reuniu dinheiro suficiente, alugou uma loja na Rua Paula Souza, onde se
empreSa de ÔnibuS páSSaro marron ltda.
aFFonSo JoSé teixeira
1935
54
concentravam os principais importadores atacadistas da cidade. Em socie-dade com um irmão, entrou no ramo de importação de vinhos e de outros produtos estrangeiros. A razão social do estabelecimento era “A. Teixeira”. Quando mais alguns irmãos se juntaram a ele, o nome foi mudado para “A. Teixeira & Irmãos”.
A importadora prosperou e propiciou a Affonso José, tempos depois, a oportunidade de ajudar João da Assunção. Mas não deu certo, e eis o comerciante envolvido em situação complicada que, de todo modo, lhe competia resolver. Não perdeu tempo com lamentações e pediu a ajuda de seu cunhado Germano de Carvalho. Germano tomaria conta da empresa de ônibus e Affonso José tentaria dividir seu tempo entre os dois negócios. No dia 16 de novembro de 1935, foi legalmente constituída a Empresa Pássaro Marron, com a formalização dos registros na Junta Comercial de São Paulo.
De Pássaro Azul para Pássaro Marron, a mudança de nome foi feita por uma questão prática. No tempo em que a empresa ainda estava sob a administração do irmão, Affonso José sempre via os ônibus voltarem das viagens completamente cobertos de pó ou sujos de barro, pois não havia um metro sequer de asfalto em todos os percursos. O pássaro azul da pin-tura simplesmente desaparecia. Forçado a ingressar no ramo, Affonso José começou por corrigir aquela aparente impropriedade. Seria Marron, com N no final, por influência do francês, idioma estrangeiro dominante na época. E se já costumava observar detalhes como esse antes de se tornar o proprietário, com muito mais razão Affonso José passou a prestar atenção no desempenho da empresa nas mãos de Germano. O que viu, com o passar do tempo, agradou-o por um lado e deixou-o preocupado por outro. O negócio ia bem, mas tomava-lhe cada vez mais tempo. O transporte de passageiros era uma atividade absorvente e podia ser rentável; mas pedia muita dedicação. Agora, quem estava precisando de ajuda era o cunhado Germano.
Foi uma decisão difícil afastar-se do estabelecimento da Rua Paula Souza, mas não havia outro jeito. Entregou aos irmãos a responsabilidade pela importadora. Por outro lado, dispondo de tempo integral, Affonso José pôde implantar diretrizes mais permanentes no negócio de ônibus. Focado exclusivamente no transporte de passageiros, decidiu que, a partir
55
daquele momento, todo o capital que viesse a ser acumulado seria reinves-tido sistematicamente na aquisição de novos ônibus e em infraestrutura de operação. Embora complexas, as tarefas administrativas seriam facilitadas pela equipe deixada pelo irmão e burilada por Germano. Muitas daquelas pessoas chegariam a completar 40 anos “de casa” na Pássaro Marron.
Ouvido em 1992 por Rúbio Gômara, o engenheiro José Luiz Teixeira, filho de Affonso José, que em 1955, aos 25 anos, se tornara Superintendente da empresa, tinha boas lembranças da época:
Éramos oito filhos e nada faltava em casa, mas levávamos vida modes-ta, com todos os gastos domésticos muito bem controlados por minha mãe, dona Alexandrina. Assim ela ajudava meu pai a manter o objetivo de investir o dinheiro na sociedade, ou seja, na frota, na construção de garagens etc.
Com essa determinação, Affonso José tratara de desenvolver o negó-
cio, melhorando a frota, criando novas linhas e atendendo a um número cada vez maior de cidades, não só do Vale do Paraíba: São Paulo, Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamo-nhangaba, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista, Queluz, Engenheiro Passos, Itatiaia, Rezende, Barra Mansa, Piraí. De São José dos Campos a Pássaro Marron mantinha linha para Campos do Jordão; de Lorena, partia uma linha para Piquete e Itajubá, Minas Gerais; e de Cachoeira Paulista, uma linha para Cruzeiro. A empresa já transportava pouco mais de 200 mil pessoas por mês e a frota chegara a 94 ônibus.
Faltava entretanto enfrentar um grande desafio. Até então, não exis-tia linha regular de ônibus entre São Paulo e Rio de Janeiro. Os que se aventuravam a enfrentar o estreito caminho de terra estavam expostos aos buracos, atolamentos, desmoronamentos e quedas de barreiras. Nos dias de sol, o problema era a poeira, que obrigava os passageiros a viajar de botas e guarda-pó (!). O percurso não era completado em menos de dezoito horas.
Esta a situação em janeiro de 1939, quando a Pássaro Marron, equi-pada com veículos mais modernos e de motores mais potentes, conseguiu estabelecer a pioneira rota regular entre as duas capitais, ainda pela estrada de terra, e com cinco jardineiras de 24 lugares cada. A bagagem era aco-modada no bagageiro, em cima do veículo, e coberta com lona.
56
Meu pai foi um pioneiro nessa linha. A viagem era feita em doze horas,
ou mais, e era uma guerra; os motoristas faziam muita questão de chegar ao Rio dentro do horário, era uma paixão deles, mesmo com ônibus cujos motores ainda eram de pouca potência, todos importados. As carrocerias eram de madeira, pesadíssimas e de uma diversidade imensa. Mesmo assim, com estradas difíceis e veículos excessivamente pesados, eles se empenhavam em ser pontuais — recordou José Luiz Teixeira.
Todo aquele esforço era, também, para marcar terreno e preparar o negócio para quando a Via Dutra — então em construção — ficasse pronta. A inauguração do primeiro trecho asfaltado, em 1951, abriu uma nova era na comunicação entre as capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Parti-ciparam da festa diretores do DNER e o presidente Eurico Gaspar Dutra, que foi homenageado dando-se à estrada o nome de Rodovia Presidente Dutra. O trecho inaugural ia do Rio de Janeiro até Viúva Graça. Affonso José Teixeira participou da solenidade. Como a rodovia não ficou pronta de uma vez, a Pássaro Marron alternava o trecho de asfalto com longos estirões de terra. De qualquer modo, a correção do traçado e o rodar macio sobre os trechos asfaltados encurtaram a distância e o tempo de viagem, além de aliviar um pouco as tarefas de manutenção nas oficinas.
Em compensação apareceram novas concorrentes, todas de olho na rentabilidade do negócio, que atingia novo patamar com a maior afluência de passageiros e o desgaste menor das frotas.
NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO do escritório Orosimbo de Almeida Rego, do Rio de Janeiro, Rúbio Gômara teve participação num episódio em que a Pássaro Marron, sentindo-se lesada pela agressividade de algumas concorrentes recém-chegadas à Via Dutra, buscou na Justiça a defesa de seus interesses. O caso foi contado em detalhes pelo próprio Rúbio, no livro O transporte rodoviário de passageiros: um acrescentamento histórico. Os advogados buscaram e conseguiram um mandado de segurança que garantiu à Pássaro Marron o direito de fazer as linhas que já eram suas há
57
vários anos, sem que, antes do advento do asfalto, tivessem sido objeto de eventuais outros interessados. O mandado de segurança garantiu à Pássaro, inclusive, a linha São Paulo–Rio de Janeiro, embora mais tarde o mercado acabasse sendo dividido com outras empresas.
Uma das preocupações da companhia, enquanto empenhada no processo de expansão, era manter garagens em todas as cidades a que atendia ao longo do eixo São Paulo–Rio de Janeiro. Essa era também uma maneira de mostrar a cara à população, fixar a marca Pássaro Marron e fazer com que as pessoas sentissem que a empresa era “local”, embora com sede em São Paulo.
Em 1955, quando José Luiz Teixeira assumiu a Superintendência, Affonso José Teixeira já havia começado a se afastar do dia a dia da em-presa. Mesmo assim, comparecia com frequência ao escritório da garagem central, em São Paulo. Prestava muita atenção às estatísticas, isto é, aos números da relação entre o faturamento e a lotação dos ônibus. Seus filhos adotavam a estratégia de manter um índice de aproveitamento mais baixo para os carros, um modo de garantir que nunca o passageiro deixasse de embarcar por falta de lugar ou de horário. Eles entendiam que, para o passageiro, o índice baixo significaria a certeza de ter lugar.
Desejávamos manter um índice de ocupação de 50% porque, assim, assegurávamos para a empresa uma situação de quase isolamento no Vale do Paraíba: não havia concorrência. Entendíamos que o coeficiente baixo era o preço da concorrência que não tínhamos. Sempre nos esforçamos para oferecer abundância de horários e frequência constante. Queríamos que o passageiro tivesse a liberdade de viajar na hora que desejasse, e que sempre encontrasse lugar, fosse pela manhã, à tarde ou à noite. Achávamos que isso motivava o passageiro, despertava sua vontade de viajar, já que tinha a tranquilidade dos horários e a certeza de viajar em ônibus de qualidade.
A qualidade dos serviços, valorizada por estratégias como essa, possi-
bilitou à Pássaro Marron manter razoável hegemonia no Vale do Paraíba. Ela continuou crescendo, gerando empregos e se modernizando. Instalou um sistema completo de rádio, assegurando eficiente rede de comunicação instantânea entre todas as unidades. Tão logo apareceram no mercado os
58
primeiros equipamentos de informática, passou a utilizar a ferramenta, inclusive com criação de um sistema de revisão controlada por computa-dor. O número de garagens e de oficinas também foi ampliado. Em São Paulo, a nova garagem, construída na Vila Maria, ocupava área de quase 40 mil metros quadrados. Só a parte coberta tinha 8 mil metros quadrados e incluía soluções técnicas inéditas, como sistema de drenagem de óleo lubrificante em valetas próprias, serviço de oxigênio e acetileno canalizado para pronta aplicação, e outras.
Outra preocupação, levada à empresa por José Luiz Teixeira, dizia respeito à padronização da frota. Até então, as compras de novos carros não obedeciam a um planejamento rigoroso. Havia nada menos que nove diferentes marcas de veículos e carrocerias. Atentando para as vantagens de mudar essa política, a Pássaro Marron deu início a um processo de padronização.
É ÓBVIO QUE O CRESCIMENTO não se fez exclusivamente de vitórias. Também houve tropeços, e alguns muito sérios, como aquele que ficou sendo conhecido dentro da empresa como “a aventura da Eva” — tantos foram os problemas que ocasionou para a Pássaro Marron. Em constante expansão, ela havia estendido suas atividades para localidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, como Cruzeiro e Itajubá. Na época, havia no estado do Rio uma empresa chamada Eva, de propriedade de um português chamado João de Oliveira. A braços com problemas familiares, ele ofereceu a empresa à Pássaro Marron. Affonso José fez o negócio e deslocou para o Rio um filho e um irmão. A Eva tinha mais ou menos o mesmo porte da Pássaro Marron e operava várias linhas importantes, como as que serviam Juiz de Fora, Muriaé, Caratinga, Governador Valadares, Barra Mansa, Angra dos Reis e outras localidades, geralmente próximas da cidade do Rio de Janeiro.
A operação, contudo, não deu certo. A frota da empresa estava muito desgastada, o que ocasionava seguidos problemas. Chefes de oficina da Marron foram deslocados para lá e constataram que a mão de obra era muito dispersiva, por culpa da superestrutura criada com o passar dos
59
anos. A certa altura, até pela falta de retorno financeiro, ficou bem claro que a Pássaro Marron estava alimentando a outra empresa. Carros, pneus, combustível, praticamente tudo o que a Eva adquiria era bancado pela Pássaro Marron, por causa da baixa rentabilidade da Eva.
Aos poucos, o problema ganhou contornos de novela policial, con-forme revelou José Luiz Teixeira:
Mandava-se a nossa fiscalização para lá. Quando um dos nossos fis-
cais entrava no ônibus, o motorista olhava feio para ele. O fiscal constatava que metade da lotação não tinha passagem. Quando ia descer do ônibus, o motorista o ameaçava até com revólver, mandava que ficasse quieto. O fiscal chegava no escritório, pedia as contas e ia embora. E a Marron perdia um bom funcionário.
Por causa de aberrações assim, a renda da empresa não era suficiente para saldar seus compromissos, inclusive com os funcionários — caminho aberto para que, nas oficinas, e até nos escritórios, ocorressem desvios de todo tipo. A Pássaro Marron chegou à conclusão de que não poderia conti-nuar suportando as despesas e muito menos devia expor bons funcionários a riscos que sequer era possível avaliar corretamente:
Para que não perdêssemos as duas empresas, meu pai tomou a decisão de dispor da Eva do jeito que fosse possível. Devolveram-se ao DNER todas as permissões, já que não foi possível negociar nenhuma linha. E assim se encerrou o capítulo Eva, de triste memória para nós. Posteriormente, o DNER dividiu as linhas e entregou a quem entendeu que devia. Mas é importante reconhecer que houve também muita ajuda, na época, de gente muito boa, como a de seu Geraldo Osório, da Cidade do Aço, excelente amigo nosso. Ele nos deu muita força naquela hora. Insistiu para que meu pai continuasse, para que não perdesse as linhas. Mas não foi possível e a Marron decidiu voltar para o lado paulista.
Até mesmo episódios como esse, somados à forma de operar e à presença constante da marca Pássaro Marron nas estradas do eixo Rio de Janeiro–São Paulo, ajudaram a construir uma imagem de eficiência,
60
competência e seriedade, transformando a empresa em referência no setor. Muitas de suas inovações e procedimentos acabaram sendo adotados por outras transportadoras de passageiros. Por exemplo, a política de seleção e treinamento de pessoal. Tanto os que estavam dentro da companhia como aqueles que buscavam trabalhar nela encaravam o assunto com extrema seriedade. As provas — teóricas e práticas — eram rigorosas. No caso dos candidatos a motorista aprovados, havia um período de treinamento, além de muita doutrinação, antes que o profissional fosse considerado em con-dições de dirigir na estrada. A fiscalização do trabalho dele também era rigorosa. Um dos empregados mais antigos, Armando Gaia, chegava a fazer fiscalização aérea. Como era piloto, pegava um teco-teco e ia fiscalizar os ônibus do ar, voando ao longo das linhas.
HOUVE UM PERÍODO, na década de 1950, em que a decisão do governo Juscelino Kubitschek de nacionalizar a produção automobilística brasileira trouxe problemas para algumas empresas de porte. Foram os casos da Viação Cometa, do Expresso Brasileiro e também da Pássaro Marron — todas as três rodando na Rodovia Presidente Dutra e fazendo a linha entre as capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro. A principal dificuldade foi que, para forçar a utilização do equipamento nacional e assegurar mercado às multinacionais automobilísticas que estavam se estabelecendo aqui, o governo proibiu a importação de chassis, ônibus completos, implementos e equipamentos indispensáveis à atividade de transporte rodoviário de passageiros. Pior, houve momentos de indefinição, nos quais as companhias do setor não conseguiam saber ao certo o que era ou não permitido importar. O que havia de certo — por ser prática já sedimentada — é que, para importar, era necessário primeiro obter a competente Licença de Importação.
Dessa forma, quando a Pássaro Marron viu surgir a oportunidade de solicitar uma licença para importar 50 modernos ônibus ACF Brill e GM dos Estados Unidos, destinados justamente a rodar na linha São Paulo–Rio de Janeiro, tratou de aproveitá-la.
Antes, porém, de prosseguirmos com a história, uma explicação do próprio Rúbio sobre como funcionava então o sistema de importação:
61
Naquela época, o governo dava licenças de importação vinculadas à colocação de determinados produtos brasileiros no exterior. Eram produtos considerados gravosos. O governo exigia a importação conjugada à exportação.
A já citada oportunidade de viabilizar uma licença de importação de ônibus devia-se precisamente ao fato de que, naquela ocasião, o Instituto Riograndense do Arroz — IRGA — estava exportando uma grande partida do cereal. O valor em divisas resultante da transação seria mais do que suficiente para cobrir a compra dos 50 ônibus, numa operação triangular, ou casada. De acordo com as anotações de Rúbio Gômara, a licença de importação foi concedida à Pássaro Marron e ela formalizou o pedido dos 50 ônibus junto a dois fabricantes dos Estados Unidos, sendo 20 ônibus ACF Brill e 30 GM. Mas logo surgiram problemas com a operação de financiamento. Daí para a frente, aconteceu o seguinte, segundo Rúbio:
Fui convidado pela Marron para acompanhar o Raul Ferreira da Costa,
diretor da empresa, aos Estados Unidos. Lá, tentamos, junto com um advo-gado local, salvar o financiamento para a compra, que seria do Eximbank. Ao que parece, houve determinadas interferências que nos impediram de ter sucesso. Depois, quando os ônibus estavam para chegar ao Brasil, percebeu-se que aquele era um compromisso muito vultoso, que, na ocasião, a Pássaro Marron não estava em condições de suportar. Pelo que sei, a intenção de Affonso José Teixeira era destinar os 30 ônibus GM ao Expresso Brasileiro. Tive inclusive um encontro com Manoel Diegues, do Expresso Brasileiro, para ver se ele concordava em ficar com os ônibus. Porém, Diegues estava muito animado com uma promessa de licença de importação que lhe tinham feito, de uma compensação de divisas por conta daquela mesma exportação de arroz do IRGA. Com a licença, ele poderia importar ônibus em condições muito melhores. Então o seu Affonso José Teixeira levou a oferta ao major Tito Mascioli, da Viação Cometa. Acompanhei tudo isso de perto, em vários contatos com o Raul Ferreira da Costa.
Ouvido em 1992, José Luiz Teixeira declarou não ter tido envolvi-mento no assunto, pois, na época, ainda era estudante universitário:
62
O que sei é que, infelizmente, esses ônibus chegaram, mas não houve condições de se concluir o financiamento. Foi preciso repassar uma parte para o Manoel Diegues, do Expresso Brasileiro; foram 20 ônibus Brill, se não me engano; e outra parte para o seu Tito Mascioli, da Cometa, que ficou com os 30 ônibus GM. Esses ônibus deram um avanço imenso ao transporte coletivo no Brasil, postos em serviço por esses dois excelentes amigos de meu pai e meus, que, como ele, foram desbravadores do transporte no Brasil. Fo-ram pioneiros, homens de força de vontade, homens excepcionais. A gente até chora ao falar deles.
ENTREVISTADO POR RÚBIO GÔMARA no dia 22 de março de 1993, em São Paulo, o antigo diretor do Departamento Jurídico da Pássaro Mar-ron, Raul Ferreira da Costa, genro de Affonso José Teixeira, demonstrou ter boa memória. Lembrou-se de que, 40 anos antes, exatamente no mês de março de 1953, ele e Rúbio haviam estado juntos nos Estados Unidos para tentar obter, junto ao Eximbank, o financiamento com que seriam pagos os ônibus em processo de importação. Como já vimos, não foram bem-sucedidos.
Porém, a versão de Raul para o episódio foi divergente do relato de José Luiz Teixeira. Como diretor do Departamento Jurídico, havia lidado diretamente com o assunto, que, inclusive, motivou sua viagem aos Esta-dos Unidos em companhia de Rúbio. Estava na empresa, por convite do sogro, desde que concluíra o curso de Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo.
Ele começou por explicar que a Pássaro Marron foi levada a impor-tar ônibus norte-americanos pela necessidade de concorrer em igualdade de condições com a Viação Cometa e o Expresso Brasileiro na linha São Paulo–Rio de Janeiro:
Mas a empresa teve dificuldades financeiras para se adaptar aos no-vos tempos. Os ônibus que deveriam servir ao transporte de passageiros não eram mais aqueles feitos na Grassi, nem na Caio, deveriam ser efetivamente
63
rodoviários. E quem fazia ônibus rodoviários no Brasil? Ninguém. Não havia firmas especializadas, teve-se que buscar esses ônibus nos Estados Unidos, onde havia fábricas como a da General Motors e outras. Mas isso lhe custou a entrada em uma fase financeira difícil, pois, além da novidade, havia o investimento alto que precisava ser feito.
Segundo Raul Ferreira da Costa, a Pássaro Marrom acabou conse-guindo importar os 50 ônibus, de dois fabricantes, todos rodoviários, mas quando eles chegaram não ficou com eles por falta de recursos:
No fim, quem ficou com os ônibus foi a Cometa. Eu me lembro até de uma frase de Tito Mascioli, que disse: “Quem ficou com os 30 ônibus fica naturalmente com a Rio–São Paulo”. Efetivamente, o grande salto da Cometa foi a Rio–São Paulo com os ônibus GM, que se tornaram os famosos Morubixaba.
Os 30 GM cedidos à Cometa operaram por 18 anos seguidos na linha São Paulo–Rio de Janeiro. Quanto aos 20 ônibus ACF Brill, Raul Ferreira da Costa garantiu que a Pássaro Marron operou com eles “por um bom período”, embora não na linha Rio de Janeiro–São Paulo. Eram ônibus muito bonitos, que ficaram conhecidos como clippers e atenderam à rota Rio de Janeiro–São José dos Campos. Rúbio Gômara, por sua vez, lembrou que, inicialmente, Ma noel Diegues, dono do Expresso Brasileiro, não aceitou o oferecimento desses ônibus pela Pássaro Marron. Depois, devido às dificuldades com a operação casada, acabou adquirindo os 20 ACF Brill que a Pássaro começara a usar na linha Rio–São José dos Campos.
A venda foi confirmada em depoimento por escrito do ex-diretor Affonso C. Teixeira, filho de Affonso José Teixeira, encaminhado a Rúbio Gômara em 12 de janeiro de 1995. Naquela altura, Affonso filho estava perto de completar 84 anos de idade.
Pelo fato de não dispor do equipamento considerado adequado e competitivo para a operação, a Pássaro Marron havia renunciado à linha Rio–São Paulo. Na análise de Raul Ferreira da Costa, naquela conjuntura a empresa não tinha suporte financeiro para resistir à concorrência das outras duas empresas.
64
Além de causar o abalo que precipitou a Pássaro Marron numa fase difícil, o episódio dos rodoviários GM e Brill deixaria sequelas, pondo a descoberto divergências profundas entre alguns integrantes de sua cúpula. O diretor Mário João Nigro deixou a empresa assim que foi inteirado da decisão de vender os 30 ônibus GM à Viação Cometa.
Em carta dirigida a Rúbio Gômara, também em 1995, Nigro historiou os acontecimentos que o levaram a tomar a drástica decisão:
Passei meses lutando por um financiamento para atingir o objetivo de conseguir uma frota moderna e, não fosse a lamentável influência di-reta e desagradável tanto do Raul como do Antônio, genros do Sr. Affonso Teixeira, por certo a história do transporte por ônibus teria hoje uma outra apresentação. Confirmo o meu retorno de New York a São Paulo no dia 31 de agosto de 1952 — um domingo! — e no Aeroporto de Congonhas um funcionário da Pássaro Marron, que me recebia, comunicou-me que eu fora enganado, e que a Pássaro Marron havia vendido a frota ao Tito Mascioli. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, no escritório da Pássaro Marron, na Rua José Bonifácio, retirei os meus pertences pessoais, me despedi do Sr. Affonso Teixeira e nunca mais voltei ao escritório.
Apesar de citado expressamente na carta, Raul Ferreira da Costa preferiu não polemizar. E justificou:
Não gostaria de fazer referência ao Dr. Mário Nigro, dar-lhe destaque na conversa. Constrange-me pontuar esse nome quando a minha memória recorda muitos outros com muito mais presença na vida da Marron. Máxime na fase de grande dificuldade por que passou a empresa.
Além das divergências entre os dois diretores, também Afonso C. Tei-xeira, um dos filhos de Affonso José Teixeira, tinha suas queixas. Ligara-se à empresa em 1946, quando começou a trabalhar ali. Em 1950, deixara a Pássaro Marron para se associar a Floriano Lucchiaro na Empresas Reu-nidas São Paulo–Paraná (origem da Empresa Nossa Senhora da Penha). Voltara à Pássaro Marron em 1952, quando a empresa atravessava situação difícil, causada em parte pela compra mal-sucedida da Eva.
65
Mas havia outras causas. A empresa tinha crescido rápida e des-controladamente; as tarifas eram baixíssimas e a inflação atingia índices mensais impossíveis de ser acompanhados. Affonso C. Teixeira passou a se desdobrar, ao lado do irmão Luiz Affonso, para conseguir um reajuste tarifário e para desfazer o nó representado pelo desastroso desempenho da Eva. Conforme já registramos, medidas amargas foram tomadas:
Devolvemos a garagem do Rio de Janeiro, não achei compradores para as linhas, e vendi os ônibus sem linha por preços mais altos. Demos baixa das linhas e voltamos ao tempo antigo de operação de São Paulo até Cruzeiro, sob a administração do 8o Distrito.
Depois de longa fase de desenvolvimento, a Pássaro Marron havia encolhido. As dificuldades de caixa foram agravadas mais tarde pela im-portação dos ônibus norte-americanos, cuja solução Affonso C. Teixeira também ajudou a viabilizar com a venda deles à Cometa e ao EBVL:
Em fins de 1954, a empresa tinha acertado quase todos os seus com-
promissos, e nessas alturas [na Pássaro Marron] todos eram peritos em em-presas de ônibus, e me colocaram numa posição em que fui obrigado a sair da empresa pela segunda vez.
Seria exagero dizer que a estagnação da Pássaro Marron a partir daí deveu-se somente a esses problemas. Os tempos mudavam rapidamente e exigiam esforços de adaptação cada vez maiores. O país continuava crescendo e construindo estradas, a indústria automobilística sustentava bom nível de produção e o transporte rodoviário de passageiros afirmava-se como solução ideal para um país que tinha pressa. A concorrência entre as empresas se acirrava, e talvez a Pássaro Marron não estivesse preparada.
Enquanto tentava recuperar o terreno perdido, a companhia ainda construiu a sua garagem da Vila Maria, em São Paulo, por muito tempo considerada modelo para o setor. A essa altura, ela já se encontrava na fase de reestruturação, conduzida por José Luiz Teixeira, considerado por Raul Ferreira da Costa “o restaurador” da companhia, ao lado do irmão Sérgio, e o próprio Affonso José Teixeira:
66
Graças a essa “restauração”, a empresa se firmou e manteve aquelas linhas que sempre havia tido ao longo da Via Dutra. Assim, pôde assistir ao desenvolvimento industrial do Vale do Paraíba, principalmente das cidades de São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá e Cruzeiro. Todas tiveram grande desenvolvimento com as indústrias que foram se instalando à margem da Via Dutra. Ainda hoje, é possível ver como o Vale se modificou. Deixou de ser o Vale do café, do gado e do leite para se tornar o Vale industrial.
Essa era a fase em que a Pássaro Marron se encontrava quando os herdeiros decidiram vendê-la, em 1977, diante de uma atraente oferta feita pelo empresário Pelerson Soares Penido, da Empresa de Ônibus São Jor-ge, que fazia a linha Guaratinguetá-Escola de Aeronáutica, e da Expresso Padroeira, que operava em Aparecida. Soares havia sido anteriormente dono da Pedreira Itaguassu, também em Aparecida. Para administrar a pedreira, criara a empresa Serveng Serviços de Engenharia S. A., que se tornou uma conhecida e sólida empresa construtora.
Ao ser negociada, a Marron tinha frota de 312 ônibus, com média de idade superior a 15 anos. Após mudar de mãos, foi reestruturada e recebeu forte injeção de recursos, dando início a um processo acelerado de substituição da frota. Aos poucos, suas linhas foram sendo novamente estendidas e ela passou a ligar a cidade de São Paulo a todas as cidades do Vale do Paraíba e do Sul de Minas. Também assumiu serviços urbanos nas cidades de Aparecida, Guaratinguetá e Pindamonhangaba. Em 1983, iniciou operações na região de Mogi das Cruzes, com as linhas Mogi–São Paulo, Suzano–São Paulo e Mogi–Arujá–SãoPaulo. Em seguida, os ser-viços foram levados aos municípios de Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos. Diversificando ainda mais suas áreas de atuação, alguns anos depois a Pássaro Marron também passou a operar linhas alimentadoras do metrô e o transporte de passageiros em aeroportos, realizando ainda serviços especiais e fretamento.
O controvertido interventor paulista é informado sobre detalhes da operação da linha pela Pássaro Marron.
O interventor federal em São Paulo, Adhemar de Barros,
é cumprimentado pelo presidente da Pássaro Marron,
Affonso José Teixeira. Na ocasião, foi-lhe apresentada
a frota de cinco ônibus Volvo com que, dias antes, a empresa iniciara a pioneira
operação da linha São Paulo–Rio de Janeiro.
Foto
s: Ac
ervo
AB
RAT
I
O silêncio e o rodar macio do ônibus Mercedes-Benz O 321 foram oferecidos pela Pássaro Marron aos seus passageiros do Vale
do Paraíba logo depois de o veículo ter sido lançado no mercado brasileiro, em 1958.
Anúncio da Pássaro Marron em jornal do Vale do Paraíba, ainda no tempo em que suas na região iam só até Cruzeiro.
Acer
vo A
BR
ATI
Acer
vo T
ony
Bel
viso
69
A DÉCADA DE 1930 CHEGAVA à metade e o Brasil buscava um rumo, depois de anos de dificuldades, inconformismo e muita agitação política. Nos últimos tempos, o País passara sucessivamente por uma série de acon-tecimentos: o impacto do assassinato do presidente da província da Paraíba, João Pessoa; a Revolução de 1930, com a deposição e exílio do presidente Washington Luís; o governo provisório exercido por militares e entregue em seguida a Getúlio Vargas; a Revolução Constitucionalista dos paulistas em 1932; a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte em 1933 e o subsequente ato de força da promulgação de nova Constituição em 1934, quando Vargas fora “eleito”, pelos próprios constituintes, presidente constitucional do Brasil.
Nesse ambiente de tensões e incertezas, em 1935 o mecânico Pedro Mezzomo, estabelecido em Guarapuava, Paraná, decidiu se aventurar na atividade de transporte de passageiros. Dono de oficina mecânica, Pedro gostava de sua profissão, mas achava que poderia tirar melhor proveito dos seus conhecimentos na área. Assim, abriu uma linha de jardineiras entre as cidades de Ponta Grossa e Guarapuava. Trabalhava com apenas dois carros, um Ford 1931 e outro 1934. Os veículos se revezavam entre as duas cidades e, como era normal, faltavam recursos. Principalmente, faltava infraestrutura.
Não era uma situação desconhecida para Pedro Mezzomo. Um ano antes, ele havia comprado um caminhão com carroceria de madeira, nele instalara uns bancos de tábuas e, assim aprontado, o veículo foi logo ape-lidado de “Diligência”.
expreSSo princeSa doS campoS S. a.
pedro mezzomo
1935
70
Com ele, duas vezes por semana, Pedro transportava passageiros e malas postais dos correios entre sua cidade e Ponta Grossa. Uma tarefa difícil, principalmente por causa das estradas: não existia nem cascalho, quanto mais pavimentação. Sua habilidade de mecânico se revelaria de enorme utilidade para vencer aqueles caminhos esburacados por entre os quais o veículo ia sacolejando de um ponto a outro. O caminhão só resistia porque contava com manutenção permanente.
Mas uma coisa foi fácil perceber já de início: havia mercado. Graças a isso, foi se firmando na atividade. Os passos seguintes — a compra das duas jardineiras Ford e a formalização da Empresa Mezzomo — haviam sido motivados pelo contínuo aumento do volume de passageiros.
A Empresa Mezzomo estendeu seu raio de atuação. Em 1940, incor-porou a Pássaro Azul, dos irmãos Iurki e Chiderski, criando a Mezzomo & Cia. e assumindo a linha Ponta Grossa–Curitiba. Quando os irmãos Iurki e Chiderski se retiraram da sociedade, a sede da empresa foi transferida para Ponta Grossa. Estava-se na Segunda Guerra Mundial e o cenário, mais uma vez, era de recessão e incertezas. Mas as linhas da Mezzomo & Cia. já ligavam Ponta Grossa, Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Foz do Iguaçu à capital paranaense. Foi a primeira operadora paranaense a obter seu número de registro no Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná (Reg. DSTC/PR no 1).
Naquele início de década, uma viagem de ônibus entre Curitiba e Foz do Iguaçu durava seis dias. Pois bem: uma vez por mês, um ônibus da Mezzomo & Cia. cumpria o trajeto e era recebido com festa ao chegar. Afinal de contas, cobrir aqueles 700 quilômetros de chão representava sempre uma proeza. Em seguida, retomava o trajeto no sentido inverso, e sempre com a mesma determinação.
A guerra terminou em 1945. Com a nova Constituição (1946) foi criado o Território do Iguaçu. A linha da Princesa dos Campos passaria a ser interestadual, mas o governador nomeado do Território, Ovídio Garcez, fez exigências consideradas inaceitáveis pela empresa. E assim ela desistiu da linha de Foz.
Em 1956, para operar exclusivamente a linha entre Ponta Grossa e Guarapuava, foi criada a Expresso Princesa do Oeste. Em 1957, surgiu a Expresso Princesa dos Campos, do mesmo grupo, para operar as linhas
71
Curitiba–Ponta Grossa e Curitiba–Guarapuava. E logo uma terceira em-presa — a Expresso Princesa Norparaná — seria constituída para responder pela linha Ponta Grossa–Itaiacoca.
As três transportadoras operaram dessa forma até outubro de 1962, quando o controle acionário passou para o grupo formado pelas famílias Gulin, Alberti, Baron e Manfron. As três empresas já tinham uma frota de 45 veículos, mas, de todas as suas linhas, a única a ser feita sobre piso pavimentado era a Ponta Grossa–Curitiba.
Os novos controladores fizeram várias aquisições. Entre 1963 e 1964, as linhas foram estendidas até Monte Alegre (Telêmaco Borba), Castro, Piraí do Sul, Tibagi e Reserva. Ainda em 1964, foi incorporado o Expresso Tibagi.
Uma das aquisições mais importantes no período foi a da Empresa Rio Paraná, que permitiu ao grupo atingir novamente o oeste e o sudo-este paranaenses e chegar outra vez a Foz do Iguaçu, com a operação de diversas linhas entre Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Cascavel, Toledo, Marechal Rondon, Guairá, Palotina, Terra Roxa do Oeste, Porto Britânia e Pato Branco. Mais tarde seriam obtidas várias concessões de linhas di-retas, todas muito importantes para o desenvolvimento dos negócios. São exemplos disso as linhas Curitiba–Guaíra, Curitiba–Toledo, Curitiba–Pato Branco, Ponta Grossa–Foz do Iguaçu e Curitiba–Assis Chateaubriand. Vie-ram depois a Curitiba–Segredo e a Guarapuava–Pato Branco. Uma outra aquisição, ainda em 1965, incorporou a empresa São Cristóvão e marcou o início das operações de linhas interestaduais, como Curitiba–Registro e Curitiba–Iguape.
Em 1966, foi agregada a linha entre Palmeira e São Mateus do Sul. Um ano depois, veio a compra da Empresa Nossa Senhora das Brotas, com linhas entre Ponta Grossa e Piraí do Sul, Ponta Grossa–Monte Alegre e Piraí do Sul–Sapopema.
O próprio crescimento das empresas e a multiplicação de suas li-nhas tornaram aconselhável a fusão da Expresso Princesa do Oeste com a Expresso Princesa dos Campos, em 1969, unificando-se assim todas as atividades de transporte de passageiros e de encomendas. Quanto à Ex-presso Princesa Norparaná, teve a sua denominação social mudada para Princetur Passagens e Turismo, passando a se dedicar às suas agências de
72
vendas de passagens e ao turismo em geral. Ainda nesse ano, a Expresso Princesa dos Campos incorporou a Expresso Ivaí.
Dois anos depois, comprou a Expresso Arrisul e chegou a União da Vitória. Em 1975, a empresa obteve em concorrência pública a linha interestadual Francisco Beltrão (PR)–São Paulo (SP), que depois se tor-nou Barracão (PR)–São Paulo (SP). Em 1990, passou a fazer a linha São Miguel do Oeste (PR)–São Paulo (SP).
Alternando aquisições e a obtenção de concessões, a empresa es-tendeu outras linhas à capital do estado de São Paulo, ingressando ainda, em 1988, na operação de linhas suburbanas no Vale do Ribeira, também em território paulista.
A Expresso Princesa dos Campos tornou-se exemplo de empresa familiar que deu certo. Desde sua fundação, como se viu, atuou sob os mais diversos cenários políticos e econômicos. Desenvolveu uma política de trabalho voltada à valorização do ser humano e teve inúmeras atitudes de ousadia e pioneirismo, que lhe valeram importantes conquistas e uma posição de destaque no ranking das maiores empresas do setor.
A Expresso Princesa do Oeste foi um desmembramento da Expresso Princesa dos Campos e operou na segunda metade da década de 1950. Mais tarde, as empresas foram reunificadas.
Mais que previsíveis, os atolamentos eram inevitáveis quando chovia.
Apesar do pouco movimento nas estradas de então, de vez em quando ocorriam colisões.
Às vezes, os ônibus precisavam andar tão bem na água como na terra.
Foto
s: Ac
ervo
Prin
cesa
dos
Cam
pos
Para que o serviço não fosse interrompido, no tempo da guerra a solução foi o gasogênio.
Ônibus importado entre 1947 e 1948, provavelmente um GM Parlor Coach com motor de dois tempos e quatro cilindros. Tinha capacidade para 29 passageiros.
Transporte improvisado, solidariedade e estradas difíceis, sempre presentes no dia a dia dos viajantes.
No início da década de 1970, a frota contava com carrocerias Diplomata e motorização FNM.
Foto
s: Ac
ervo
Prin
cesa
dos
Cam
pos
75
NA HORA CERTA, O HOMEM certo estava no lugar certo. Essa conju-gação, ocorrida num dos últimos dias do ano de 1956, criou as condições para uma pequena empresa de ônibus da cidade mineira de Araguari re-ceber o mais formidável impulso de sua existência e nunca mais parar de crescer. E não somente crescer como transformar-se em um dos maiores conglomerados empresariais do Centro-Oeste brasileiro.
Naquele dia, por motivos ligados ao seu trabalho, o modesto empre-sário mineiro Odilon Santos encontrava-se em Goiânia, Goiás. Um dos motivos era tratar de negócios com seu primo Osvaldo Vieira, o Sancho, que ele foi encontrar no novo aeroporto da cidade. Era o tempo em que começava a construção de Brasília e o recém-inaugurado aeroporto Santa Genoveva, na capital goiana, apresentava movimento cada vez mais in-tenso. Ali embarcavam ou desembarcavam técnicos, engenheiros, chefes de equipe e mesmo curiosos dispostos a enfrentar mais de 200 quilôme-tros por caminhos de terra, difíceis e quase desconhecidos, que levavam ao sítio escolhido pelo então presidente Juscelino para implantar a nova capital do Brasil.
Os brasileiros, de modo geral, e os mineiros e goianos, em particu-lar, andavam curiosos para saber no que iria dar essa ideia de transferir a capital do País para dentro de um quadrilátero imaginário que subtraía porções do território goiano e mineiro no Planalto Central. A demarcação da área era coisa antiga, feita ainda durante o governo de Getúlio Vargas.
No princípio daquele ano, 1956, ao assumir a Presidência da Re-pública, Juscelino Kubitschek tinha transformado a ideia em meta do seu
viação araguarina ltda.
odilon SantoS
1938
76
plano de governo. A transferência estava prevista na Constituição de julho de 1946, e a ideia já constara na Constituição de 1891. Depois, havia figu-rado, perfeitamente inócua, na Carta Magna de 1934, sendo excluída na de 1937. Por isso mesmo, muita gente não levou a sério quando, em abril, Juscelino voou até a cidade de Anápolis (impedido de descer em Goiânia, devido ao mau tempo) e ali assinou o ato que previa a criação da empresa Novacap, à qual foi atribuído um único encargo: construir Brasília.
Em outubro, goianos e mineiros acompanharam atentos e incrédulos as notícias sobre a visita que Juscelino, acompanhado de Israel Pinheiro, escolhido para presidir a Novacap, e do arquiteto Oscar Niemeyer, fez ao Planalto Central para conhecer a área demarcada. O avião desceu em pista de dois quilômetros aberta no cerrado e, ali mesmo, no meio do mato e da solidão ensolarada, JK prometeu: a nova cidade seria erguida a tempo de testemunhar a passagem da faixa presidencial a seu sucessor, em 1960, portanto dali a menos de quatro anos.
Imediatamente após a visita de inspeção, Israel Pinheiro e Oscar Nie-meyer tinham dado início às obras. Sua primeira providência foi levantar a “residência oficial do presidente”, a casa de madeira que ele usaria quando viesse do Rio de Janeiro visitar as obras de construção da nova capital. O futuro Catetinho ficou pronto em dez dias. Ao mesmo tempo, a Novacap tratou de implantar, a uns dez ou quinze quilômetros de distância da área reservada ao Plano Piloto, a chamada Cidade Livre, destinada a abrigar os peões que, em busca de trabalho, já começavam a acorrer em grande número de todos os pontos do País. O curioso é que nem mesmo o projeto da futura da cidade havia sido escolhido ainda.
As coisas estavam exatamente nesse pé naquele dia em que Odilon Santos chegou ao aeroporto Santa Genoveva para encontrar-se com Sancho. Recentemente, o primo passara a trabalhar com o engenheiro agrônomo Bernardo Sayão (até pouco antes vice-governador do estado de Goiás) e o doutor Israel Pinheiro, presidente da Novacap. Sayão, diretor da Novacap, respondia pela implantação das estradas, da estrutura de comunicação e das obras. Pinheiro tinha a seu cargo tudo quanto se relacionasse aos aspectos de urbanismo, arquitetura e compras. Eram ambos homens de confiança do presidente e dizia-se que, no universo do grande empreendimento em perspectiva, a palavra de cada um deles era a palavra do próprio JK.
77
No aeroporto, Sancho estava justamente à espera dos dois. Quando chegaram, Odilon acabou sendo apresentado pelo primo. Anos depois, recordaria a conversa. “Doutor Sayão, este aqui é o meu primo Odilon, ele é dono de uma empresa de ônibus”. Foi como se Sancho houvesse pronunciado palavras mágicas: o engenheiro olhou bem para ele e, com um gesto, chamou Israel Pinheiro. Mal o presidente da Novacap se apro-ximou, Sayão, certo de que haviam acabado de encontrar solução para mais um problema, disparou: “Israel, este rapaz aqui tem uma empresa de ônibus, contrata ele para levar os ônibus para Brasília”. Seguiu-se um breve diálogo entre o mineiro Israel e o carioca Sayão. Em seguida, tendo respondido a duas ou três perguntas sumárias, o atordoado Odilon ouviu dos doutores o convite quase inacreditável: botar uma linha de ônibus entre Goiânia e Brasília. Quando? Agora! Talvez estivessem brincando, talvez não soubessem direito o que estavam falando. Brasília nem existia ainda, as obras mal haviam começado. Tratou de sondar o terreno: “Ainda é cedo, doutor. Por enquanto, não dá”. Eles insistiram: “Não é cedo, não. Tem que ser agora, não vamos poder esperar”. Odilon, ainda desconfiado: “Mas não tem passageiro!” A resposta de Sayão veio rápida, teimosa, reveladora: “Seu Odilon, nós vamos levar muita gente para lá. Nós vamos fazer Brasília!”
Sempre mostrando pressa, Pinheiro e Sayão sugeriram a Odilon que desse um pulo à área de Brasília, fosse ver com seus próprios olhos. Ele teve de admitir que sequer conhecia o caminho, nunca tinha andado por aquelas bandas, mas Sayão tinha jeito para tudo. Pegou lápis e papel e rabiscou um mapa sumário com os principais pontos de referência, que ia indicando: “Vai por aqui até Anápolis, depois pega esse caminho para Luziânia. Lá, não tem quem não lhe ensine como chegar”. Odilon pro-meteu ir no domingo seguinte.
Levou com ele seu irmão Tubal e outras duas pessoas, uma chamada Maltez, jornalista, e outra de nome Adolfo de Souza Filho, identificado como diretor de Trânsito. Foi uma viagem de quase dois dias, feita numa jardineira de seis lugares. Saíram de Goiânia no sábado, seguindo por caminhos acidentados e atingindo Luziâ nia no fim da tarde. Dormiram, tomaram informações e, logo cedo, partiram novamente. Mais algumas horas até chegar ao acampamento levantado junto a uma bica — a Cidade Livre. Odilon não havia marcado encontro com Sayão e Pinheiro, mas não
78
precisou esperar muito por eles, dali a pouco os chefes chegavam de jipe. Décadas mais tarde, Odilon ainda recordava perfeitamente esse encontro:
Eu queria conversar, mas o Dr. Israel Pinheiro disse que ali não, que fôssemos para o Catetinho, onde era a casa do presidente. Expliquei a ele que não sabia o caminho; pediu que o acompanhasse. Quando chegamos ao Catetinho, me convidou para o almoço. Eram 13 horas de domingo. No almoço eles já foram perguntando quando é que eu ia colocar os ônibus para correr.
A primeira viagem da Viação Araguarina entre Goiânia e Brasília foi realizada também num domingo, 1o de novembro de 1956. Desde então, seus ônibus nunca mais pararam de transitar entre as duas capitais.
SEM DÚVIDA, ERA UM ANO em que só coisas boas estavam aconte-cendo para Odilon Santos, nos seus recém-completados 41 anos de idade. Pensando bem, vinha sendo assim desde que ele trocara o nome da empresa de Expresso Planeta para Viação Araguarina, em homenagem à cidade de Araguari, onde tinha se instalado com a família, vindo de Uberlândia (nascera nesta última cidade em 4 de setembro de 1915). Não demorou muito, estava fazendo a linha para Goiânia. E agora, essa outra linha, para Brasília.
Para chegar até ali, porém, havia rodado muito. Ao se iniciar na atividade de transporte de passageiros, em 1938, rodando com uma única jardineira, sua pequena empresa chamava-se Expresso Pontal, ou Expresso do Pontal, em referência à região do Pontal, no Triângulo Mineiro. Fazia a ligação Uberlândia–Araguari. O motorista era ele próprio, Odilon. Sua esposa, Maria José dos Santos, Dona Zezica, cuidava das contas e controlava o dinheiro. Dia após dia, a jardineira enfrentava os caminhos de terra da região, deixando uma certeza ao passar: aquelas pequenas localidades não estavam mais condenadas ao isolamento. Quando surgiu a possibilidade de alcançar Caldas Novas, passando por Corumbaíba, lá estava Odilon Santos com a jardineira, desafiando a serra entre Araguari e Corumbaíba.
79
Em Caldas, a parada era no hotel da Marieta. Havia lá boa comida. Le-gumes, verduras, frutas e até o pãozinho francês vinham pela jardineira. Por isso, o horário das 14 horas era sagrado; era quando encostava a jar-dineira trazendo gente e pão gostoso. Quanto a Caldas Novas, ainda nem sonhava em tornar-se o balneário conhecido internacionalmente. Porém, os passageiros do Expresso Pontal sabiam que a parada em frente ao Hotel Avenida era o melhor momento da viagem. Comida gostosa, cuja fama corria a região, estava à espera deles.
Por tudo isso, a pequena empresa de Odilon começou a crescer. A frota aumentou para duas, depois para três jardineiras. A qualidade dos veículos foi aos poucos melhorando e chegou o dia em que não eram mais usadas jardineiras, e sim ônibus, muito mais confortáveis.
Dona Zezica era o braço direito de Odilon e continuou a ajudá-lo mesmo depois da chegada do asfalto, pronta a ligação de Araguari com Goiânia, para onde, naquele ano de 1956, passaram a correr os ônibus da empresa, já como Viação Araguarina. Dois irmãos de Odilon, Tubal e Valtinho, também ajudavam e os negócios iam tomando vulto. O único filho, Odilon Walter, chegou à adolescência e também assumiu funções na empresa. Foi incluído como sócio em 1953.
PORTANTO, NAQUELE ANO de 1956, Odilon Santos já podia acredi-tar que caminhava firmemente para se tornar um médio empresário de transporte de passageiros.
Lançar a linha para a futura capital brasileira, em novembro de 1956, não foi tão difícil. As obras seguiam cada vez mais aceleradas e o movimento de passageiros, podia-se dizer, era assombroso. A Araguarina passou a criar novos horários para atender à demanda. Com mais horários, apareceram alguns problemas, especialmente na viagem das 6 horas da manhã, por causa da forte cerração no trecho conhecido por Sete Curvas. Era preciso trafegar com muita cautela, e mesmo assim, de vez em quando, algum motorista acabava entrando num grande buraco ou dando com o para-choque em algum barranco. Susto para os passageiros, prejuízo para a empresa, mas, apesar disso, ela estava sempre se modernizando e crescendo.
80
Brasília requeria mais agências, por isso Valtinho se transferiu para lá. Quando a cidade se tornou oficialmente a capital do País, a já famosa avenida W3 Sul ganhou escritório da Araguarina. Na mesma época, 1960, Odilon, Dona Zezica e Tubal se mudaram para Goiânia. No ano seguinte a companhia saiu vencedora da concorrência pública para fazer a linha entre Brasília e Belo Horizonte, passando, assim, a interligar as três grandes capitais brasileiras projetadas e construídas sob planejamento — Goiânia, Belo Horizonte e Brasília.
Cinco anos depois, Odilon Santos criou a Rápido Araguaia, para fazer transporte coletivo urbano em Goiânia. A seguir, voltou suas vistas para as oportunidades de operação de novas linhas no estado de Goiás. Em 1969, iniciou serviços intermunicipais regulares entre a capital e o norte do estado de Goiás (depois estado do Tocantins), com linhas que percorriam extensões superiores a 1.300 quilômetros e chegavam a locais bem próximos do Pará e do Maranhão.
A partir de 1971, a atuação foi ampliada para os estados do Pará e Maranhão, sendo iniciados os primeiros serviços regulares sobre a rodovia Transamazônica, com a ligação entre Araguaína (Goiás) e Marabá (Pará). No ano seguinte Brasília foi ligada a Teresina e a Parnaíba, no estado do Piauí. Quase ao mesmo tempo, a Araguarina expandiu suas rotas no Pará e no Maranhão, chegando à capital, São Luís, e também a Altamira, Itaituba e Santarém, cidades paraenses até então inatingidas por via rodoviária.
Veio a seguir a criação da Transbrasiliana Transportes e Turismo, para atuar nos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. A ligação regular entre Belém e o Rio de Janeiro data de 1975 e figura entre as mais longas do mundo, com 3.250 quilômetros.
Todos esses feitos constituíram marcas indeléveis na trajetória da pequena empresa Araguarina, que se transformou no Grupo Odilon Santos. O fundador morreu em 28 de novembro de 1996, em Goiânia.
Quando Brasília foi inaugurada, em 1960, os ônibus da Araguarina já rodavam para a nova Capital havia mais de três anos.
Nos primeiros tempos, a Araguarina também utilizou furgões.
Ao fundo, à direita, a jardineira trazia passageiros para um acampamento armado nas imediações da futura Capital.
Foto
s: Ac
ervo
Rod
onal
Acer
vo A
BR
ATI
Odilon Walter Santos (à direita), filho do fundador e presidente da Araguarina, é homenageado em Goiânia.
A frota acompanhou de perto a evolução dos ônibus brasileiros.
Na linha Goiânia–Brasília, as jardineiras da Araguarina rodavam sempre lotadas. A capital do estado de Goiás era a maior cidade da região.
Odilon Santos
Foto
s: Ac
ervo
Rod
onal
Acer
vo A
BR
ATI
83
FOI UM DIA PARA NÃO SE ESQUECER JAMAIS. Naquele 1o de se-tembro de 1939, na pequena cidade de Crisciumal, no interior do Rio Grande do Sul, os irmãos gaúchos Willy Eugênio Fleck e Raimundo Fleck inauguraram seu novo negócio: uma empresa de transporte de passageiros e cargas chamada justamente Empresa Crisciumal. Enquanto isso, a mi-lhares de quilômetros dali, na Europa dos ascendentes de Willy, tropas da Wehrmacht da Alemanha de Adolf Hitler invadiram a Polônia. Começara a Segunda Guerra Mundial.
Em Crisciumal, os três veículos que formavam a frota da nova em-presa passaram a rodar. O principal deles era um caminhão de passageiros ano 1939, da marca Ford. Isto mesmo: um caminhão de passageiros — as-sim denominado porque tinha, ao mesmo tempo, lugares para viajantes e também, na parte traseira, bom espaço para o transporte de cargas. Além desse exemplar híbrido, estranho mas até certo ponto comum na região, havia dois outros caminhões Ford ano 1937 só para transporte de cargas.
Distantes até mesmo dos ecos do conflito mundial, os três veículos da Empresa Crisciumal transitavam constantemente entre as cidades de Ijuí, Três Passos e Santa Rosa. Sua primeira rota a funcionar com regularidade foi entre Crisciumal e Ijuí, por sinal a segunda linha do Alto Uruguai a ser registrada junto ao Departamento Autônomo das Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul — DAER. A primeira linha registrada (por outra empresa) ligava Ijuí e Cruz Alta e utilizava uma jardineira e três cami-nhões, usados principalmente no transporte de fumo, produzido em larga escala na região de Cruz Alta. Quando a linha da Crisciumal começou a
viação ouro e prata S. a.
Willy eugênio Fleck
1939
84
funcionar, no início de 1940, ainda nem existia transporte regulamentado. No mesmo ano, a empresa comprou o primeiro ônibus fechado de toda a região centro do Estado, de colonização recente e com uma economia que começava a deslanchar.
Como ocorria em outras partes, o grande problema para a execução dos serviços eram as estradas. Com tempo seco, até que eram bem tran-sitáveis, mas quando chovia, a terra vermelha transformava-se em barro e lama quase invencíveis. Muitas vezes, os veículos lotados partiam de Cris-siumal às 4 horas da manhã e, por volta das nove, lá vinham os motoristas de volta... para tomar café! Chegavam a pé, enquanto os caminhões ou ônibus estavam atolados, depois de terem percorrido apenas dois ou três quilômetros. No esforço para desencalhar os veículos, as cargas tinham de ser aliviadas; os passageiros desciam e ainda ajudavam a empurrar.
Embora com algum atraso, os efeitos da Segunda Guerra Mundial acabariam chegando àquelas paragens. Entre as coisas que começaram a faltar estava a gasolina. Em condições normais, o combustível, acondicio-nado em tambores, era trazido de Porto Alegre, pois na época ainda não havia postos de abastecimento. De uma hora para outra, porém, os tambores já não chegavam e foi preciso apelar para a solução adotada na capital e nas cidades de maior porte. Numa oficina de Porto Alegre, um caminhão Ford 1942 da Empresa Crissiumal foi adaptado para queimar carvão. O propelente assim obtido — o chamado gasogênio — permitiu garantir um precário mas indispensável transporte de cargas e pessoas na região.
Tantos anos depois, é difícil avaliar a importância dos serviços que eram prestados por essas nascentes empresas de transporte. Os motoristas, que quase sempre eram os donos do veículos, não se ocupavam apenas de guiar. Completada a viagem até a cidade mais desenvolvida, onde o comércio era mais bem sortido, transformavam-se em grandes comprado-res. Levando nos bolsos listas preparadas pelos comerciantes das pequenas localidades servidas pela empresa, iam de loja em loja, sempre festejados pelos vendedores. Comandavam pedidos, reuniam mercadorias, carregavam sacos, fardos, pacotes de fumo, farinha, farinha de milho, farinha de trigo, feijão, arroz, além de enxadas, foices, facões, correntes, selas de montaria, arreios, cortes de tecidos. Pelo caminho de volta, iam descarregando aquilo tudo, entregando aos comerciantes que tinham encomendado cada compra.
85
Em setembro de 1993, o empresário Hugo Eugênio Fleck, filho de Willy Fleck, falou a Rúbio Gômara da sua convicção de que, nesse pro-cesso, surgiu o termo “encomenda”, usado até hoje para designar objetos e produtos transportados pelas empresas de ônibus.
Por volta de 1944 ou 1945, as próprias empresas de ônibus utilizavam o sistema, preparando as listas de “encomendas” que deveriam ser trazidas pelos motoristas. Hugo Eugênio Fleck lembrou-se de que na região de Três Passos, onde havia morado ao tempo em que era uma cidade nova, recém--formada, os moradores se abasteciam em Ijuí. As listas de “encomendas” de remédios e mercadorias eram confiadas aos motoristas e, na volta da viagem, os comerciantes ficavam esperando por eles no ponto de parada.
Com o tempo, a Crisciumal passou a atender mais cidades e teve seu nome mudado para Empresa Pioneira. As ligações foram sendo estendidas a toda a região noroeste do Rio Grande do Sul. Em 1952, num grande passo, começou a fazer a primeira linha de Ijuí para Porto Alegre, ainda em estrada de terra.
Às vezes, uma viagem demorava dois ou três dias. Na verdade, nem frequências diárias havia, o ônibus saía e chegava quando possível, a depen-der das condições do tempo e da estrada. Mesmo assim, seis anos depois, em 1958, a modernidade bateu à porta da Pioneira com os assim chama-dos “ônibus de frente”, no dizer local, nos quais o motor estava colocado ao lado do motorista. Até então, os coletivos, feitos a partir de caminhões Ford F-8 e Chevrolet, tinham o motor projetado, ou seja, fora do salão de passageiros, e por isso, durante muitos anos, foram conhecidos como “pes-coções”. Quanto aos novos carros, logo foram apelidados de “gostosões”. Também se dizia “pullman”, porque na lateral das carrocerias, produzidas pela Elisiário, aparecia escrita essa palavra. Bem mais confortáveis, esses ônibus representaram também o começo do fim das linhas do tipo “pinga--pinga”, abreviando em algumas horas a longa viagem até Porto Alegre.
À medida que a empresa foi expandindo seu raio de atuação no setor de passageiros, Willy Fleck entendeu que devia enveredar também por outras atividades. Criou então algumas novas empresas, com ramificações nos ramos de indústria, comércio e agricultura. Percebeu ainda que, para expandir-se de modo mais consistente no transporte de passageiros, deveria aproveitar eventuais oportunidades de compra de outras empresas. Foi assim
86
que, em 1962, adquiriu a empresa Rainha da Fronteira. A Rainha cobria toda a fronteira na zona de Bagé e Livramento, mas estava abandonando alguns serviços devido à precariedade da operação. Acabou não conseguindo se manter e o controle foi assumido por Willy Fleck. Com isso, a Empresa Pioneira passou a atuar também na região da fronteira com o Uruguai.
Um novo passo estendeu-se pelos anos de 1970 a 1973, quando a empresa passou a fazer suas primeiras linhas para a Argentina. Essa nova vocação se fortaleceu nos anos seguintes e, entre 1977 e 1978, ela também passou a fazer algumas ligações com o Uruguai. Na prática, foi o início das linhas internacionais na região sul do Rio Grande do Sul, que depois se revelaram de baixa demanda, sendo o maior movimento apenas no verão. E assim a Pioneira tornou a concentrar-se no transporte regional, basica-mente no estado do Rio Grande do Sul, exatamente quando começava o que muitos empresários relembrariam como sendo a época de ouro da atividade, que durou aproximadamente de 1975 a 1988.
A empresa registrou nesse período excepcional crescimento e de-senvolvimento, firmando-se entre as principais organizações do transporte rodoviário de passageiros do Rio Grande do Sul. Dotado de forte carisma e capacidade de liderança, Willy Fleck não se limitava a comandar sua vitoriosa companhia; desenvolvia um trabalho incansável de aglutinação do setor. Durante muitos anos, de 1964 a 1980, Willy Fleck foi presidente da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do estado do Rio Grande do Sul. Seu filho Hugo Fleck contou que ele tinha uma relação muito boa com os políticos, dada sua facilidade em estreitar contatos.
Através da classe, à qual dedicou muitas horas de sua vida, ele fez uma coisa que muito me orgulha: amizades. Geralmente, quem trabalha ocupando cargos em entidades acaba com muitos inimigos. Mas ele foi uma pessoa que cativou muito.
Em 1989, a área de encomendas foi desmembrada da Ouro e Prata. O serviço havia crescido muito no interior do Estado, e também em Santa Catarina e no Paraná, o que tornou necessário separar as atividades. Foi criada uma segunda sociedade anônima, integrada pelos mesmos acionis-tas. As atividades fora da área do transporte também tiveram incremento,
87
principalmente no ramo da pecuária e da agropecuária (soja e boi), com a implantação de empreendimentos no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso. Uma empresa de armazenagem e outra de fertilizantes foram agregadas ao grupo.
WILLY EUGÊNIO FLECK FALECEU em 1989. O Grupo Ouro e Prata passou a ser conduzido por seus filhos Hugo Eugênio Fleck e Carlos Roberto Fleck. Dois primos, Sérgio e Jorge Fleck, também assumiram cargos no grupo. Os demais cargos foram preenchidos por executivos profissionais.
Na época em que Hugo Eugênio Fleck falou a Rúbio Gômara, a Ouro e Prata apresentava os índices mais elevados de rentabilidade no ranking das empresas gaúchas. Sua frota oscilava de 190 a 210 ônibus e ela estava partindo para implementar um programa de renovação, com o objetivo de alcançar a idade média de três anos. Com a compra dos novos ônibus, esperava baixar ainda mais seus custos operacionais. Hugo Eugênio Fleck preceituava:
Temos que nos preocupar em oferecer um serviço eficiente, rápido e de baixo custo. Para isso, será necessário um trabalho, dentro da empresa, na área de qualidade e produtividade, tentando-se minimizar ao máximo as perdas. O nosso setor, até por ter uma legislação muito rígida, atrofiou-se em função dos mercados.
Ele também se queixava do excesso de burocracia por parte dos poderes concedentes e visualizava um sistema de estrutura mais flexível.
A verdade é a seguinte: as pessoas não esperam pelos regulamentos para ir a algum lugar. Quem quer partir de nossa região, como acontece com muitos agricultores, não vai esperar que em Brasília alguém se sente a uma mesa para escrever isto ou aquilo. Essas pessoas querem saber se vão viajar: por excursão, por fretamento ou até por um ônibus clandestino. Não há legislação que faça as pessoas abrirem mão do direito de ir e vir para os lugares que desejam. As pessoas querem ir de uma forma ou de outra, elas
88
criam a necessidade e vão. Portanto, quando surge uma dessas linhas que até há pouco não existiam, alguém falhou ao ignorar o mercado e não colocar o serviço adequado. A necessidade das pessoas deve correr junto com o Regu-lamento. Não podemos ter um Regulamento que diga: “Se em determinado lugar não existe nenhuma empresa, as pessoas não podem ir para lá”. Isso não existe — finalizou Willy Eugênio Fleck.
Porto Alegre, 17 de setembro de 1993: Hugo Eugênio Fleck (dir.)recebe Rúbio de Barros Gômara na sede da Viação Ouro e Prata, para gravar seu depoimento.
Acer
vo R
úbio
Gôm
ara
89
NÃO HÁ REGISTRO DE quando o espanhol Manoel Diegues — desde 1933 empresário no ramo de transporte rodoviário de cargas, baseado em Santos, São Paulo — começou a arquitetar o que parecia ser um arriscado empreendimento no ramo de transporte rodoviário de passageiros.
O que se sabe é que, em outubro de 1941, Diegues vendeu sua frota de caminhões e, com os recursos apurados, lançou-se à tarefa de implan-tar a empresa Expresso Brasileiro Viação Ltda. Propunha-se transportar passageiros entre as cidades de São Paulo e Santos, isso num tempo em que as duas cidades ainda eram ligadas por trem e pela tortuosa Estrada Velha, concretada em uns poucos trechos mais difíceis da Serra do Mar e, nos demais, calçada de paralelepípedo ou de pedras de maior formato. Enfim, quase a mesma estrada que, mais de um século antes, D. Pedro I percorrera para visitar a famosa Marquesa de Santos. O concreto em pontos localizados ficou por conta da passagem do rodoviarista e político Washington Luís pelo governo do estado de São Paulo, entre 1920 e 1924.
Quanto à rota escolhida, era fácil de entender. Santos já era, na época, cidade bastante importante, e seu porto, o mais movimentado da América do Sul. Ali, os paulistas de renda mais alta costumavam embarcar, de viagem para a Europa ou Buenos Aires, ou desembarcar retornando desses destinos. A ferrovia ainda era o transporte preferido entre São Paulo e Santos. A estrada, pelo desconforto e pelo risco que representava para os viajantes, ainda era pouco utilizada. De qualquer forma, a condição do Brasil de então — maior exportador mundial de café — fazia da cidade, segunda maior em população no estado de São Paulo, um centro comer-
expreSSo braSileiro viação ltda.
manoel diegueS
1941
90
cial forte e de intenso movimento. Além disso, era pelo porto de Santos que chegavam, em boa parte, as mercadorias importadas, cujo volume aumentava de mês para mês.
Por causa da estrada, estreita, tortuosa e íngreme, as jornadas eram extremamente penosas para o Expresso Brasileiro. Mesmo assim, de quatro em quatro horas, pequenos ônibus Chevrolet ostentando a sigla EBVL cruzavam nos dois sentidos a Serra do Mar. E Diegues enchia o peito para acentuar: “De quatro em quatro horas!” Intervalo que, dois anos depois de aberta a linha, ele já havia reduzido para 30 minutos.
Manoel Diegues tinha enorme orgulho da empresa que estava er-guendo e do trabalho que vinha realizando. Dizia sempre que o EBVL “desempenhava uma tarefa meritória no processo de implantação do trans-porte rodoviário e em favor dos transportes coletivos do País, ocupando a posição de precursora em importante ramo dos serviços públicos”. Diga-se de passagem, precursora quando se tratava de operar em estradas asfalta-das. Fugia das estradas não pavimentadas, tão comuns na época, e a ele é atribuída a frase: “Quem gosta de terra é pé de couve”. Do mesmo modo, sempre se referia ao asfalto como “civilizador”.
Diegues sustentava, ainda, com perdoável exagero, que o Expres-so Brasileiro operava com um padrão que lhe permitiria tranquilamente competir com o que de melhor existia naquele tempo nos Estados Unidos.
Tamanha autoconfiança tinha suas vantagens. Quando o interventor do governo federal em São Paulo, Fernando Costa, decidiu organizar os serviços de ônibus urbanos da cidade de Santos, onde a população não dis-punha de transporte público adequado, o Expresso Brasileiro foi chamado e só teve o trabalho de entrar com o pedido de concessão. Obteve-a, mas logo em seguida foi obrigado a engolir a negativa de um escalão mais alto — irrecorrível, segundo se dizia —, capaz de fazer desistir um competidor menos arrojado. Havia falta de gasolina e óleo diesel.
O racionamento fora implantado pelo governo federal em 1942, por causa das dificuldades da guerra. O sistema era de cotas e as prefeituras municipais estavam encarregadas de emitir cupons de racionamento. Sem eles, nenhum revendedor de combustível poderia fornecer o produto.
No dia 18 de maio de 1943, na vigência do racionamento, um oti-mista Manoel Diegues, depois de ter montado a frota de ônibus urbanos
91
que iria operar na cidade, dirigiu ao “Excelentíssimo Senhor Delegado da Comissão de Racionamento em Santos”, autoridade responsável pela atri-buição de cotas de combustível a órgãos públicos e a empresas operadoras de transporte, um ofício caprichosamente datilografado. Dizia:
O Expresso Brasileiro Viação Limitada, por seu diretor gerente, tendo obtido parecer favorável e aproximação do Exmo. Dr. Delegado Regional o pedido de concessão de linhas de ônibus municipais, entre diversos pontos desta cidade, nas quais serão empregados quarenta (40) ônibus, conforme tudo consta da inclusa certidão, por pública forma transcrita, vem mui res-peitosamente requerer lhe seja fornecida a necessária quota de óleo diesel.
Ducha fria no amor-próprio do requerente. No mesmo papel do ofício, como era praxe, e de próprio punho, a excelentíssima autoridade exarou o frio e lacônico despacho com que fulminava a solicitação:
Dentro da quota atribuída a este Município torna-se impossível aten-der o solicitado. Santos, 20 de maio de 1943. a) Hernani Sotto de Ramos
E assim o Expresso Brasileiro teve de rapidamente correr atrás de outras alternativas — entre elas o gasogênio, ou gás pobre, o que exigiu a custosa adaptação da frota — para cumprir, com sacrifício maior do que o previsto e provavelmente não com a mesma qualidade, o compromisso assumido com a administração do município de assegurar transporte a grande parte da população local.
Seguiram-se dois anos muito difíceis, ao fim dos quais o serviço estava normalizado e o Expresso Brasileiro iniciava o processo de expansão de suas linhas urbanas. Primeiro chegou à vizinha São Vicente; mais tarde, ao distrito industrial de Cubatão, às usinas hidrelétricas da Light e à zona fabril da raiz da Serra.
Quando a guerra terminou, Manoel Diegues tinha a cabeça cheia de novos planos. O primeiro deles era renovar a frota do EBVL, que nos anos do conflito, tanto pelas dificuldades com o combustível como pela quase absoluta falta de peças de reposição, estava bastante desgastada e reclamava urgente substituição. Além dessa necessidade palpável, Diegues
92
deixava-se impulsionar pelo anseio de paz que envolvia as pessoas, muito motivadas pela vitória aliada sobre o nazifascismo. Além disso, aproximava--se a data da inauguração da nova estrada entre Santos e São Paulo — a Via Anchieta —, obra estadual projetada e construída de acordo com a mais avançada técnica rodoviária então disponível no País, e que, por isso mesmo, demandava um novo padrão de veículos de transporte. Diegues sabia exatamente o que queria pôr para rodar naquela estrada, algo que podia ser sintetizado na palavra “Coach”. Ela identificava os mais moder-nos ônibus rodoviários norte-americanos da época e o empresário queria vê-los subindo e descendo a Serra do Mar a intervalos de cinco minutos. Ainda antes de adquiri-los, já pensava no treinamento que seria preciso proporcionar aos seus motoristas. Pensava mais: na nova cultura operacional e técnica que teria de introduzir no próprio EBVL.
O que dizer do vultoso aporte financeiro que a compra exigiria? Embalado pelas perspectivas do mercado, o empresário preferia fixar-se no que esse novo passo deveria significar para o transporte rodoviário no País. Talvez tenha sido isso que mais o motivou a levar adiante o empre-endimento.
A pista ascendente da Via Anchieta, com 74 quilômetros de extensão, foi inaugurada em 1947. Seis anos depois, concluída a fantástica rodovia, com suas ousadas obras de arte, arrojadas correções de nível e traçado muito mais seguro, os “Coach” do Expresso Brasileiro, importados dos Estados Unidos e recebidos com entusiasmo pelos usuários, estavam de tal modo integrados àquele mundo futurista, que passaram a ser, eles próprios, atração turística para muitos viajantes. Em pouco tempo os novos ônibus já alcançavam marcas superiores a 300 mil passageiros transportados por mês, realizando nesse período mais de 3 mil viagens.
Enquanto os números iam sendo suplantados, Manoel Diegues vis-lumbrava voos ainda mais ousados. As obras de construção de outra moder-níssima rodovia, a Via Anhanguera, avançavam com celeridade no rumo da outra grande cidade do interior paulista — Campinas. A primeira pista ficou pronta em 1948 e sua inauguração encontrou o Expresso Brasileiro pronto para reeditar, em nova linha de mais ou menos 100 quilômetros de extensão, o mesmo padrão de serviços oferecido na linha São Paulo–Santos, e prestado com o mesmo modelo de ônibus.
93
Em 1953 foi inaugurada a segunda pista e, também aí, não foi difícil para o Expresso Brasileiro atingir, em tempo relativamente curto, a marca dos 200 mil passageiros transportados mensalmente, enquanto Manoel Diegues cuidava de preparar os próximos passos: primeiro, a abertura da linha São Paulo–Jundiaí; depois, o início da linha São Paulo–Ribeirão Preto. Vieram mais tarde São Paulo–Lindoia, São Paulo–Poços de Caldas e São Paulo–Sorocaba, rotas que permitiram à empresa atender também a todas as localidades intermediárias.
Já o governo federal preparava-se para inaugurar o trecho inicial da maior obra rodoviária da primeira metade do Século XX no Brasil, a Via Dutra, nova ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo. Fazendo-se conhe-cer como a maior organização rodoviária da América do Sul, o Expresso Brasileiro foi chamado a participar da prestação do serviço de transporte de passageiros entre as duas capitais, no que poderia ser considerado o maior salto de sua existência. Não só pela operação de uma linha de longa distân-cia, mas porque, em boa medida, suas outras rotas passariam a funcionar como alimentadoras da São Paulo–Rio. Acrescente-se o componente de desafio que a operação representava, conforme a avaliação dos principais técnicos rodoviários da época, e ter-se-á uma ideia do entusiasmo com que Manoel Diegues se atirou ao trabalho naqueles dias. Jamais desanimou em face de dificuldades. E mais uma vez seu esforço foi recompensado, com a superação de todos os obstáculos e com a fama do Expresso Brasi-leiro chegando cada vez mais longe: a melhor entre as melhores e mais conhecidas empresas de transporte do País, com mais de quatro milhões de passageiros transportados por mês. Todos queriam viajar pelo Expresso Brasileiro. Todos procuravam entender como a empresa dos ônibus verde e amarelos conseguira crescer tão rapidamente, e qual a razão do seu sucesso.
A revista de bordo do EBVL — a Viajando... —, novidade e pionei-rismo que só Manoel Diegues poderia bancar, transpirava aquele sucesso. Com 24 páginas, era impressa pelo sistema de rotogravura na melhor gráfica da capital paulista de então, a Lanzara. Tirava 20.000 exempla-res e tinha circulação bimestral. O número 2, por exemplo, dava grande destaque à inauguração, no dia 1o de agosto de 1951, da “melhor e mais completa agência rodoviária do Continente”, naturalmente montada pelo Expresso Brasileiro. Localizava-se no no 885 da Av. Ipiranga, quase esquina
94
com a Av. São João, na cidade de São Paulo. Contava com charutaria, bombonière, salões de barbeiro e cabeleireiro, livraria, banca de revistas e jornais, guichê para venda de passagens, agência de turismo com serviço de reserva de passagens aéreas, ferroviárias e marítimas, loja de lembranças e artigos de praia e montanha, bar e restaurante, além de amplo “recanto de estar”. No subsolo, uma sala de televisão — novidade recém-chegada ao Brasil — e uma de cinema, com projeções contínuas e gratuitas. Os ônibus permaneciam estacionados junto ao meio-fio da pista esquerda da Av. Ipiranga, onde ocorriam as operações de embarque e desembarque. Note-se, sem nenhum transtorno para o trânsito, já que naquele tempo praticamente não havia congestionamentos na cidade.
Como empresa de prestígio, o Expresso Brasileiro também patrocinava espetáculos artísticos e colocava seus modernos GM Coach à disposição para transportar artistas de cinema e de rádio (este último, o veículo de comunicação mais popular e de maior penetração da época). Em maio de 1951, por exemplo, num projeto desenvolvido em parceria com uma das emissoras líderes de audiência em São Paulo — a PRA-6, Rádio Gazeta —, foram patrocinados pela empresa shows com a atriz argentina Carmen Del Moral, a cantora italiana Silvana Fioresi, o cantor espanhol Angelillo e as cantoras brasileiras Wilma Bentivegna e Juanita Cavalcanti. Com um pouco de sorte, passageiros puderam viajar ao lado dessas celebridades que, sempre transportadas pelo Expresso Brasileiro, apresentaram-se nas três principais cidades servidas por suas linhas, São Paulo, Santos e Cam-pinas. A renda dos espetáculos foi destinada a instituições assistenciais e de benemerência, como orfanatos e sanatórios. A tuberculose ainda era um grave problema de saúde pública.
NÃO É DE ADMIRAR, portanto, que o sinal amarelo demorasse a se acender. O primeiro momento verdadeiramente de preocupação para Ma-noel Diegues ocorreu quando, aproximando-se a conclusão da ligação rodoviária entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o Expresso Brasileiro iniciou o detalhamento do projeto de levar seus serviços à nova rodovia. Compromisso nesse sentido havia sido confiantemente firmado com o
95
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. A presença do EBVL era reclamada.
Talvez os últimos anos houvessem sido vertiginosos demais para o criador da empresa. Excessivamente envolvido com suas múltiplas ope-rações, é possível que ele não se desse conta de que ultimamente seus pedidos de importação de novos ônibus não vinham sendo atendidos. As negativas eram sistematicamente atribuídas a dificuldades cambiais, que aliás realmente existiam, mas, ao lado disso, o ex-ditador Getúlio Vargas, tendo voltado ao poder pelo voto direto, decidira dar ênfase a uma política de substituição das importações, como caminho para o desenvolvimento da indústria brasileira. As compras externas iam sendo fortemente restringidas. Em 1953, Getúlio criaria a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil — Cacex —, com a missão de analisar caso a caso os pedidos de importação.
No caso da operação da linha Rio de Janeiro–Belo Horizonte, e mesmo na manutenção dos serviços de alto nível da Rio–São Paulo, onde a frota do Expresso Brasileiro envelhecia a olhos vistos, a importação de ônibus GM Coach aparecia como única alternativa. Só eles eram realmente adequados aos serviços rodoviários de longo percurso, pela resistência dos veículos e pela segurança e rapidez que proporcionavam. Além do mais, Manoel Diegues não abria mão de oferecer o maior conforto possível aos passageiros.
O Expresso Brasileiro até admitia a ideia de se adaptar progressiva-mente ao uso de ônibus “nacionais”, ou seja, com encarroçamento feito no Brasil sobre chassis de caminhões importados. Mas, na sua concepção, tais veículos serviriam somente para cobrir as linhas urbanas e intermunicipais da empresa — e não, definitivamente não, segundo Manoel Diegues, a Rio–São Paulo. Menos ainda, a futura Rio–Belo Horizonte.
Os meses se passaram, a Rio–Belo Horizonte foi inaugurada e já se falava na futura rodovia São Paulo–Belo Horizonte, porém os pedidos de Licença de Importação do EBVL continuaram encalhados na burocracia oficial. Diegues tentou várias alternativas: importação com ágio cambial especial (já que os veículos se destinavam a prestar serviços públicos com tarifas controladas); importação financiada pelos próprios fabricantes norte--americanos; importação com financiamento por investidores particulares
96
externos. Embora nunca houvesse qualquer negativa formal, nenhuma das alternativas foi aceita.
Em determinado momento, o dono do Expresso Brasileiro pareceu encontrar a solução. O Instituto Riograndense do Arroz — IRGA — estava exportando uma grande partida do produto. Em certos casos, o governo até podia conceder licenças de importação, quando vinculadas à colocação de produtos brasileiros no exterior. Ou seja, as compras externas deviam ser pagas com as mesmas divisas adquiridas com as exportações. Mas ulti-mamente, esse tipo de operação havia sido sustado. Assim mesmo Manoel Diegues entrou com novo pedido de Licença de Importação.
Advogado dedicado aos assuntos do transporte rodoviário de passa-geiros, Rúbio de Barros Gômara marca presença neste ponto da história. A pedido do dono da Pássaro Marron, sua cliente, Rúbio procurou Mano-el Diegues para oferecer-lhe uma possível solução para seus problemas. Naquele instante, explicou Rúbio, a Pássaro Marron estava concluindo a importação de um lote de 50 ônibus norte-americanos, sendo 30 GM (que no Brasil viriam a ser conhecidos como Morubixaba) e 20 ACF Brill. Com dificuldades de caixa, a empresa não tinha como pagar os ônibus e estava disposta a vendê-los. Manoel Diegues avaliou a proposta e cometeu o erro de descartar o negócio; confiava em que seria autorizado a fazer sua própria importação, exatamente naquele sistema casado que incluía o arroz exportado pelo IRGA.
Diante disso, o presidente da Pássaro Marron, Affonso José Teixeira, procurou Tito Mascioli, dono da Viação Cometa — maior concorrente do Expresso Brasileiro —, com quem negociou os 30 ônibus GM. Quando eles foram postos para rodar na Via Dutra, Manoel Diegues, que conti-nuava utilizando na rota ônibus cada vez mais desgastados, entrou em desespero. Para piorar, os tempos andavam agitados. A política incendiava os ânimos, deixava os empresários desconfiados em relação à estabilidade institucional do País.
DEVIA HAVER ALGUMA COISA MAIS... — cismava Manoel Diegues, consciente de que sua concorrente na linha Rio–São Paulo estava se bene-
97
ficiando do envelhecimento da frota do EBVL. Tratou, pois, de procurar a Pássaro Marron, mesmo sabendo que os 30 GM não estavam mais disponí-veis, e comprou os 20 ACF-Brill, que passaram a ser utilizados em linhas mais curtas da companhia. Ainda naquela altura seguia acreditando que, mais cedo ou mais tarde, receberia licença para importar os “Coach” que pretendia usar na linha São Paulo–Rio.
Então, em agosto de 1954, o presidente Getúlio Vargas cometeu suicídio, agravando ainda mais a crise institucional e política. No lugar dele, assumiu o vice Café Filho, que ficou no poder até novembro de 1955, quando alegou um problema cardíaco e deu o lugar a Carlos Luz, presi-dente da Câmara dos Deputados. Este logo foi substituído pelo presidente do Senado, Nereu Ramos, no quadro de um golpe militar “preventivo” desfechado pelo ministro da Guerra, general Lott. Ramos foi mantido como Presidente da República até a posse do novo presidente eleito, Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 31 de janeiro de 1956. Essa sucessão de acon-tecimentos contribuiu para retardar ainda mais o processo de importação dos ônibus do Expresso Brasileiro. É verdade que, logo depois, a posse de Juscelino fez reacenderem-se as esperanças em relação à paz política. No mesmo passo, renovou-se a confiança do empresário Manoel Diegues em uma solução para seus problemas.
Diegues estava, provavelmente, fazendo uma análise equivocada dos propósitos do novo governante, pois Juscelino assumiu e anunciou seu Plano de Metas que priorizava cinco setores, entre eles o de transportes. Ainda em 1956, criou vários Grupos Executivos encarregados de supervisionar os investimentos privados nos diversos setores que pretendia estimular, entre eles a indústria automobilística, cuja implantação seria supervisionada pelo Grupo Executivo da Indústria Automobilística — GEIA. Tudo apontava, portanto, para um esforço dirigido à produção de veículos automotores no País, o que significava uma guinada de 180 graus na política de importação de veículos.
Prestigiadíssimo por Juscelino, o GEIA se dedicaria à tarefa de atrair, com empréstimos, benefícios fiscais e outros mecanismos, empresas au-tomobilísticas estrangeiras que desejassem se instalar no Brasil. Para mos-trar aos investidores o grande potencial do mercado brasileiro, o governo determinou-se a implantar várias novas rodovias.
98
Se é que fez a leitura correta de todos esses sinais, Manoel Diegues não deu mostras de ter mudado sua opinião sobre a necessidade de ree-quipar suas linhas unicamente com ônibus “Coach” importados. Muito bem-relacionado com o PSD, partido de Juscelino Kubitschek, o empresário tinha entre seus amigos pessoais o deputado pessedista Antonio Feliciano, considerado o político mais influente da Baixada Santista. Além do que, na condição de dono “da maior organização rodoviária da América Latina”, transitava com desenvoltura nos bastidores da política paulista. Acreditava, portanto, ter motivos para confiar em que seu pleito seria atendido.
Esperou dez meses, contados da posse de JK, antes de resolver-se a apelar diretamente ao presidente da República. Escudado, como sempre, na dimensão do Expresso Brasileiro e no papel que a empresa desempenhava no cenário do transporte rodoviário de passageiros do País, entendeu que devia levar ao supremo mandatário informações que, conforme suspeitava, lhe estariam sendo sonegadas. Em ofício que enviou ao presidente da Re-pública, datado de 1o de outubro de 1956, começou dizendo que se sentia compelido a recorrer ao supremo magistrado da Nação para que, “com sua percuciente visão, ampare a maior organização rodoviária do conti-nente sul-americano, posta hoje em situação difícil, face ao injustificado rigor com que vem sendo tratada pelos órgãos encarregados do controle de importação de unidades automotivas e que a persistir comprometerá toda uma obra de pioneirismo com acentuados malefícios para o grande público beneficiado”.
Nas cinco laudas seguintes, historiou com detalhes a trajetória de sua empresa e o problema que, conforme alegou, lhe estava ameaçando a sobrevivência. Problema que, acentuou, respondia pelo nome de Car-teira de Comércio Exterior do Banco do Brasil — Cacex. Destacou ainda o papel que, naquela ocasião, o poder concedente estava atribuindo ao EBVL na operação dos serviços de transporte rodoviário de passageiros entre Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, São Paulo e Belo Horizonte. Por fim, para não deixar dúvidas sobre o potencial econômico do Expresso Brasileiro, traçou um perfil completo da com-panhia, relacionando minuciosamente sua frota por lotes de marcas, o capital, o patrimônio imobiliário etc. Ao se compulsar o alentado ofício, fica-se sabendo que, na época, para operar os seus serviços intermunici-
99
pais e interestaduais, o Expresso Brasileiro contava com frota total de 163 ônibus, todos importados. Eram 54 Volvo do modelo B-638, 20 ACF-Brill e 89 GM Coach, estes últimos dos modelos PDA 2903, PDA 3703, PDA 4101, PDA 4102 e PDA 4103.
Segundo uma versão não confirmada, o ofício teria sido entregue pessoalmente por Manoel Diegues ao presidente Juscelino, em audiência no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, na presença de parlamentares do PSD. Mas não produziu o resultado esperado. No livro Jogo duro, de 2007, no qual biografa o dirigente esportivo João Havelange, o jornalista e escritor Ernesto Rodrigues sustenta que naquela audiência, para satisfazer os políticos pessedistas, Juscelino formalmente determinou ao então ministro da Fazenda, José Maria Alckmin, que autorizasse a importação dos ônibus. Só que, tão logo seus satisfeitos correligionários se retiraram do Catete, o presidente meteu o documento numa gaveta, presenteando-o depois ao advogado da Viação Cometa, que não era outro senão Havelange, com quem mantinha laços de amizade desde os tempos em que eram estudantes.
Também é possível que Juscelino, naquela hora, simplesmente não tivesse cabeça para questões alheias à construção da nova capital e à im-plantação da indústria automobilística. O fato é que o assunto continuou se arrastando interminavelmente, até que um dia Manoel Diegues, no limite da exasperação, resolveu usar o telégrafo. Como quem dá a última cartada, já agora ameaçando interromper operações e empregando termos duros que denotavam impaciência e bem poderiam ser recebidos como impertinentes por Juscelino, dirigiu-se novamente ao presidente:
Exmo. Sr. Dr. Juscelino KubitschekDD Presidente da RepúblicaPalácio do Catete
Expresso Brasileiro Viação Ltda., após detido exame das condições do material rodante de suas linhas de ônibus, que tornarão impraticável a operação dos serviços de transportes de passageiros intermunicipais e inte-restaduais com eficiência e segurança do grande público servido, em razão de haver excedido em muito tempo sua vida útil, e em face das contínuas negativas da Carteira de Importação em conceder as licenças solicitadas para
100
renovação da frota e peças vitais, tomou a grave deliberação, ditada pelas circunstâncias, de suprimir a totalidade de ditas linhas de ônibus. E isso o fará com fundo pesar, desencanto e mágoa, pois, como empresa pioneira dos modernos meios de transportes rodoviários, vem ela lutando há mais de três lustros em prol da causa que abraçou, conquistando a posição de uma das maiores organizações rodoviárias sul-americanas. Em verdade, tem a empresa responsabilidade pelo transporte de 500.000 pessoas mensalmente, cobrindo seus veículos (...) quilômetros de estradas por mês. Tudo quanto fez o foi sem qualquer ajuda governamental e com recursos particulares próprios. Não goza de subvenção nem de isenção tributária, pagando à União, Estado e município os mais pesados tributos. Manda a lealdade que se diga que a política mantida para o transporte rodoviário só poderia conduzir à presente situação catastrófica, porque de um lado as tarifas, asso-ladas pela compressão demagógica eleitoreira, não são reajustadas segundo o real custo da operação dos serviços, impedindo que se criem fundos para renovação dos equipamentos, de outro lado, se fossem reajustadas em base real, tornar-se-iam proibitivas para a bolsa dos usuários, impossibilitados de enfrentar preços altos, em razão da sobrecarga do custo de aquisição de veículos, peças e sobressalentes afetados pelo ágio cambial e pelo crescente aumento dos combustíveis e acessórios em geral e ainda a elevação contínua da mão de obra, como decorrência da inflação. As perspectivas da política cambial e as tarifas alfandegárias tornam ainda mais sombria a situação futura das empresas rodoviárias, em face da desigualdade de tratamento em comparação com outros ramos de transportes, como o aéreo, o ferroviário e o marítimo. E se estes outros ramos de transportes, gozando de subvenção, isenção tributária e de direitos alfandegários e importando pelo ágio oficial, apresentam acentuados déficits, há que reconhecer o governo que só por verdadeiro milagre, fruto da abnegação e sacrifício, lograram as empresas rodoviárias manterem-se, milagre porém agora impossível de perdurar ante o regime de asfixia a que vêm sendo submetidas com se lhe negar direito à importação de material só possível ágio quinta categoria e sem esperança de salvação, porquanto projeto regime tarifário cambial obediente à política de proteção à indústria automobilística ainda não nasceu e nem produzirá ônibus manterá essa onerosa e arrasadora desigualdade de tratamento. Para acelerar funerais das empresas rodoviárias, os departamentos controladores
101
lhes negam reajustes de tarifas ou os concedem em subníveis iníquos. Só resta lastimar que o governo de V. Exa., fundado no binômio Transporte e Energia, tenha que assistir ao colapso dos transportes rodoviários, cujas empresas que os operam têm, até aqui, sustentado os serviços comendo sua própria carne, tanto vale dizer, cobrindo déficits com o consumo das frotas de veículos, sem meios financeiros para renová-las.
Manoel DieguesGerente Diretor
A resposta do presidente a esse longo desabafo nunca veio. Os guichês da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil
continuaram se abrindo gentilmente para o dono do Expresso Brasileiro, mas apenas para receber seus insistentes pedidos de informações, que eram invariavelmente respondidos com o “por enquanto, nada” de sempre.
Todavia, existe ainda a versão, também não confirmada, de que Manoel Diegues, recorrendo mais tarde a poderosos políticos pedessistas de São Paulo, conseguiu sensibilizar a Cacex, que acabou autorizando a importação dos ônibus GM. Conta-se que os ônibus, desmontados e acon-dicionados em grandes caixotes, chegaram a ser desembarcados no porto de Santos. A montagem das partes teria sido feita a céu aberto, em prazo recorde, mas, quando já estavam prontos para rodar, os veículos tiveram de ser recolhidos de volta aos armazéns da Alfândega, por força de uma liminar concedida à Viação Cometa. Ainda aqui, subsistem mais duas versões. A primeira, de que Diegues novamente buscou a interferência de políticos e amigos influentes e obteve outra vez a liberação dos ônibus. A segunda, de que só conseguiu desembaraçar dois solitários veículos, os quais foram postos para rodar na linha São Paulo–Rio. Esta última parece ser a versão mais consistente, uma vez que a propaganda veiculada pelo Expresso Brasileiro naquele período da década de 1950 focalizava insisten-temente “os moderníssimos GM Coach” utilizados pela empresa naquela rota, mas deixava de informar que, na verdade, só dois horários diários em cada sentido estavam sendo operados.
Independentemente de qual versão seja a mais próxima dos fatos, é inquestionável que a crise decorrente da longa pendência com a Ca-
102
cex em torno da importação dos ônibus norte-americanos fez com que o Expresso Brasileiro, até pouco tempo antes apontado como modelo de transportadora, começasse a perder fôlego. A partir daí, enquanto esteve sob a administração do fundador, nunca mais conseguiu se recuperar do baque sofrido. No início da década de 1960, depois de tanto procurar uma saída para a companhia, Manoel Diegues se deu por vencido e abriu mão do negócio. Nos anos seguintes, a empresa passaria pelas mãos de vários empresários, todos atraídos pelo grande potencial representado pela sigla EBVL. Mas todos, igualmente, batidos pelo sorvedouro de recursos em que a transportadora se transformara.
Menos um. Em 1966, o empresário Antonio Romano, dono da Viação Ipiranga, que operava no urbano em São Paulo, fechou um dos grandes negócios de sua vida, a compra do Expresso Brasileiro. A transação provocou o mesmo ceticismo que se tornara comum desde a capitulação de Manoel Diegues. Na época, a transportadora continuava fazendo unicamente a linha São Paulo–Rio, mas o nome se mantinha conhecido e bem reputado em todo o País. Assumindo a nova operação, Romano e seus três filhos começaram imediatamente a definir e colocar em prática estratégias para revitalizar a empresa e recuperar a tradicional qualidade dos seus serviços. Laurindo Romano, o filho mais velho, foi destacado para assumir a direção da companhia.
O quadro começou a mudar. Lentamente, o Expresso Brasileiro con-seguiu recuperar-se e retomar o espaço perdido no mercado, não obstante as eventuais oscilações no volume de passageiros no eixo Rio–São Paulo e, principalmente, a acirrada competição entre as empresas que operavam o trecho. Em meados da década de 1980, Laurindo Romano decidiu não só investir pesado na renovação da frota, como dar uma sacudida no conceito de transporte de passageiros. Tinha consciência de que, naquela altura, a marca Expresso Brasileiro estava de novo consolidada, mas reclamava a implementação de ações de modernização e atualização para manter o bom atendimento. Comprou então 60 dos mais modernos ônibus disponíveis no mercado, com a mais avançada carroceria. Com poltronas mais elevadas em relação ao piso do corredor, os veículos proporcionavam excelente vista panorâmica aos passageiros. A preferência deles pelos novos veículos deu novo impulso à empresa.
O interior da garagem da empresa sugeria a força do EBVL e os cuidados com a frota, na sua maior parte importada.
Jardineira Ford do Expresso Brasileiro equipada com motor Hércules diesel e encarroçada pela Caio. Começou a rodar em 1947 na linha São Paulo–Jundiaí–Campinas.
Em frente ao prédio principal da General
Motors, em São Caetano do Sul, ônibus GM importado, pronto para ser entregue ao
Expresso Brasileiro.
Foto
s: Ac
ervo
AB
RAT
I
A família Diegues e amigos se reúnem em São Paulo.
Importado dos Estados Unidos, o ônibus GM Coach sempre foi considerado fundamental pelo Expresso Brasileiro na disputa com suas concorrentes.
Revista de bordo do Expresso Brasileiro. A capa da edição no 2 (julho/agosto de 1951) mostrava a recém-inaugurada agência rodoviária da empresa, na Av. Ipiranga, centro de São Paulo.
Foto
s: Ac
ervo
AB
RAT
I
105
QUASE SEMPRE, TUDO aconteceu muito rapidamente na vida de Abílio Pinto Gontijo.
Último filho de uma família de 11 irmãos, nascido em 1924 em um sítio a 9 quilômetros da cidade mineira de Carmo do Paranaíba, aos 14 anos trabalhava na roça quando cismou de buscar melhor sorte na cidade. Durante dois anos, dedicou-se ao seu primeiro e único emprego: auxiliar de oficina. Ao fim desse tempo, resolveu montar sua própria oficina mecânica, em sociedade com um colega da firma onde havia trabalhado. Também aí não deixou passar muito tempo: aos 19, fechou a oficina, viajou para Belo Horizonte, tirou carteira de motorista e voltou a Carmo do Paranaíba para comprar sua primeira jardineira. Com ela, em 1943, iniciou a ligação com Patos de Minas.
Eram necessárias oito horas para vencer o percurso, todo ele em acidentadas e esburacadas estradas de terra, mas logo ficaram evidentes as perspectivas de sucesso da empresa. No entanto, era tempo de guerra e o governo brasileiro impusera o racionamento de gasolina. Obter uma cota de combustível era difícil e exigia, inclusive, flexibilidade político-partidária, à qual o jovem Gontijo era avesso. O empreendimento poderia ter morri-do ali, mas ele não desistiu. Com seus conhecimentos de mecânica e de motor, modificou carburador, regulagem de válvulas, distribuidor e giclê da jardineira — uma Chevrolet Comercial ano 1940, com carroceria de madeira —, e fez uma série de testes até ter a certeza de que podia utilizar álcool comum como combustível. O feito de Abílio — na ocasião com apenas 19 anos de idade — tornou-se ainda mais expressivo porque, até
empreSa gontiJo de tranSporteS ltda.
abílio pinto gontiJo
1943
106
então, o racionamento vinha sendo enfrentado com uma solução muito mais cara, espetaculosa e sobretudo indesejável: o uso do chamado gás pobre, ou gasogênio, obtido com a queima de madeira e mal-afamado pela sujeira que atirava no ar e nos passageiros, pelo barulho quase ensurdece-dor que o motor passava a produzir, e pela lentidão com que o veículo se deslocava quando equipado com a geringonça.
O jovem empresário superou assim, até com certa tranquilidade, a ameaça de ter que interromper o seu negócio. Que era, nada mais nada menos, o embrião da Empresa Gontijo de Transportes, hoje uma das maiores transportadoras de passageiros do Brasil.
Nos anos seguintes, Abílio Gontijo trabalhou sem descanso, consoli-dando sua linha e firmando-se como empreendedor honesto e cumpridor de seus compromissos. Em 1950, adquiriu as linhas Patos de Minas–Belo Horizonte (feita por duas rotas — uma via São Gotardo e outra via Três Marias) e Patos de Minas–Pirapora. Não é preciso dizer que as estradas eram todas de terra. Mas agora, refletindo a expansão do negócio, ele já dirigia uma jardineira Chevrolet com carroceria metálica, tipo “bico comprido” (motor projetado para fora), conhecida como “guarda-louças”. Tinha capacidade para 14 passageiros.
O negócio seguinte da já denominada Empresa Abílio Pinto Gontijo foi a compra de 25% da Viação Planeta, responsável pelas linhas para o chamado Vale do Aço: Belo Horizonte–Coronel Fabriciano e Belo Hori-zonte–Ipatinga. Em outra transação, foi adquirida a empresa Santa Bárbara, que fazia as linhas de Belo Horizonte para Araxá, Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba. Ainda nenhuma estrada era asfaltada.
A oportunidade de mudar a sede da empresa de Carmo do Paranaíba para Belo Horizonte veio com a compra das linhas Belo Horizonte–Go-vernador Valadares e Belo Horizonte–Teófilo Otoni. Um detalhe da rota para Teófilo Otoni: a viagem podia ser alongada em quase 500 quilômetros na época das chuvas, quando era necessário dar a volta por Três Rios ou Caratinga. De qualquer maneira, a transferência da sede representou nova arrancada na vida do jovem empreendedor.
Nada comparável, entretanto, ao que ocorreu a partir da posse de Juscelino Kubitschek na Presidência da República, em 1956. As estradas logo começaram a ser asfaltadas, foi iniciada a construção de Brasília e a
107
demanda por transporte rodoviário de passageiros explodiu. Como a Gontijo não tinha linha para atingir Brasília, Abílio estabeleceu parceria com uma empresa de Patos de Minas — cidade que era passagem estratégica para quem demandasse a nova capital a partir do Rio de Janeiro — e a linha das duas foi a primeira interestadual a ser aberta para lá.
Muitos anos depois, o diretor presidente da Empresa Gontijo de Transportes ainda faria uma avaliação bastante favorável do governo Jus-celino Kubitschek:
O grande mérito da gestão de Juscelino foi não somente ter asfaltado alguns milhares de quilômetros de rodovias, mas haver deixado, muito bem delineados, os planos para continuidade da expansão da malha rodoviária do País. A gente observa que, em linhas gerais, com ênfase para um ou outro detalhe, e com maior ou menor empenho, os planos que ele deixou foram sendo executados nas gestões seguintes.
Na segunda metade da década de 1960, a partir das cidades de Governador Valadares e Teófilo Otoni, a Gontijo expandiu suas linhas no norte e nordeste de Minas Gerais, além de implantar novas rotas até os pontos mais remotos do Vale do Jequitinhonha. Ao mesmo tempo, voltou sua atenção para uma das regiões mais ricas do estado de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, onde passou a operar após a incorporação da Viação Santa Marta.
Já no Século XXI, o Grupo Gontijo deu um de seus lances mais ousados, adquirindo a concorrente Cia. São Geraldo de Viação, também com sede em Belo Horizonte.
A empresa nunca deixou de crescer. Sempre que indagado a respeito, Abílio Gontijo tem a resposta na ponta da língua: num país como o Brasil não dá para parar de crescer. Para quem pense que se trataria de crescer a qualquer custo, ele também tem resposta:
Nosso pensamento é que temos que melhorar todo dia para podermos atender aos nossos clientes. O cliente é quem paga tudo. Mas fomos crescendo com os pés no chão, como se diz, dentro do nosso lema de gastar de acordo com o que ganhamos. Nunca alavancamos a empresa. Fomos crescendo de
108
acordo com as possibilidades. Sempre trabalhamos de acordo com a nossa capacidade de honrar os compromissos.
Talvez por isso é que se diz que “Abílio nunca deixou ninguém na estrada: nem passageiros, nem funcionários”.
Em 1975, a Gontijo iniciou a operação da linha Belo Horizonte–Salvador e preparou-se para alcançar outras praças do nordeste do País. Usando Governador Valadares como ponto de partida ou de passagem, logo chegou ao Recife. Também as praças de Goiânia e Campo Grande foram incorporadas às suas rotas.
Em relação ao Nordeste, o passo decisivo foi a compra da Viação Bonfinense, que possibilitou à Gontijo o acesso definitivo a um de seus mercados mais importantes. Foram incorporados 140 ônibus e as inúmeras linhas da Bonfinense entre São Paulo e o Nordeste. O mesmo ritmo de crescimento foi mantido nas décadas de 1980 e 1990.
A companhia também se notabilizou pelo seu tradicional programa anual de renovação da frota. Outra de suas características é a fidelidade a determinadas marcas e fornecedores. Um dos traços da personalidade de Abílio Gontijo é o de sempre pagar à vista os seus fornecedores.
O veículo da Gontijo é padronizado. Em todo o País, ela opera exclusivamente o serviço convencional, utilizando o mesmo modelo de carro. O que não a impede de estar sempre entre as primeiras compradoras dos novos lançamentos de chassis e carrocerias.
Temos que acompanhar a realidade do desenvolvimento, da velocida-de das coisas hoje, da tecnologia moderna. Sabemos que se não fossem as novas tecnologias, seria muito difícil administrar um grupo do tamanho do nosso – explicou Abílio Gontijo.
A mesma mecânica dos primeiros tempos ganhou carroceria metálica e com
ela a empresa de Abílio Gontijo aumentou seu prestígio junto aos passageiros.
À direita, o jovem empresário ao lado da primeira jardineira.
A primeira jardineira utilizou álcool como combustível no período do racionamento.
Foto
s: Ac
ervo
Em
pres
a G
ontij
o
A Varzealegrense foi uma das aquisições da Gontijo no processo de expansão.
Abílio Pinto Gontijo
A compra da Bonfinense tornou a Gontijo uma empresa de porte nacional.
Foto
s: Ac
ervo
Em
pres
a G
ontij
o
Div
ulga
ção
111
EM JANEIRO DE 1945, a Segunda Guerra Mundial ainda não havia terminado mas já se tinha como certo que os países aliados sairiam ven-cedores; o fim era questão de poucos meses. No Brasil, após quinze anos de domínio do caudilho Getúlio Vargas, os ventos da política começavam a soprar em nova direção e a economia parecia preparada para crescer. O País ansiava por democracia e ninguém mais tinha dúvida quanto ao pouco fôlego que restava ao regime varguista.
Exatamente naquele janeiro, quando a tensão política se mesclava ao clima de otimismo e à vontade de inaugurar uma nova era, o comerciante Sebastião Noel e seus filhos Joaquim e Francisco fizeram uma rápida via-gem de Petrópolis, onde eles viviam, até Três Rios, a poucos quilômetros dali. Iam com objetivo certo. Em meses recentes, haviam se ocupado de observar de perto, buscar informações e tomar referências sobre uma atividade da qual, até então, pouco ou nada conheciam: o transporte de passageiros por ônibus. Um ramo, aliás, bem diferente do deles. Além de manter um comércio de secos e molhados, eram fornecedores de carvão aos moradores de Petrópolis.
Para entregar o produto, a família Noel utilizava pequenos caminhões movidos a gasolina. Em 1944, com o racionamento imposto pelo governo em função da guerra, o negócio enfrentava dificuldades quando apareceu por ali um vendedor chamado Valter da Cunha Sá Pinheiro. Trazia uma possível solução: um motor Magirus a óleo diesel, relativamente raro na época. Tanto insistiu por um teste que os irmãos acabaram comprando o motor, que foi instalado a seguir em um dos caminhões. Funcionou. Com
viação SalutariS e turiSmo S. a.
FranciSco SebaStião noel
1945
112
ele, o comércio de carvão dos Noel passou a depender menos das difíceis cotas de combustível. As visitas de Sá tornaram-se quase que semanais; ele sempre vinha saber como o caminhão estava se comportando. Um dia, Sá trouxe uma informação e um conselho. Disse que no Rio de Janeiro havia uma empresa de ônibus à venda. “É negócio melhor do que esse que vocês estão fazendo, vale a pena.”
Quem contou a história a Rúbio Gômara foi Francisco Sebastião Noel, um dos irmãos Noel. E com detalhes:
O Sá nos levou ao Rio, eu e meu pai, e pudemos observar o serviço da empresa, que fazia a linha Praça Mauá–Meier. Não me lembro o nome dela. Outra fazia a linha Praça Mauá–Madureira, e mais uma fazia a linha Praça Mauá–Zona Sul. Mas nós ficamos preocupados, porque, naquela época, as ruas do Rio de Janeiro eram todas de paralelepípedo. Havia trilhos de bonde e muitos buracos, aquilo desgastava muito os veículos. Algum tempo depois ficamos sabendo que em Petrópolis estava à venda a Viação Esperança; o dono era um alemão, Adão Hanser. E logo em seguida recebemos outra informação: outra empresa estava sendo negociada em Três Rios. Acabamos simpatizando com a de Três Rios e fizemos negócio em janeiro de 1945. O Sá entrou de sócio com a gente.
Na conversa com Rúbio Gômara, Francisco Noel e Joaquim Sebas-tião Noel tiveram palavras de elogio e de saudade em relação a Valter da Cunha Sá Pinheiro, para eles “o Sá”. Além de ter sido responsável pelo ingresso da família Noel no ramo de transporte rodoviário de passageiros, o antigo vendedor não só se tornou sócio dos Noel como, três anos depois, com muito desprendimento, cuidou de evitar que eles pudessem vir a ser envolvidos em problemas com parentes seus.
Quando a família Noel comprou a empresa de ônibus, talvez com receio de um insucesso no novo negócio, não encerrou imediatamente sua outra atividade e preferiu partir para uma estranha fusão: na nova empresa deveriam coexistir dois ramos de atividade bastante estranhos um ao outro, o comércio de material de construção e o transporte rodoviário de passa-geiros. A nova empresa recebeu o nome de Companhia de Materiais de Construção de Petrópolis Ltda., embora também transportasse passageiros.
113
Como Francisco Noel recordou, na ocasião em que foi adquirida, a empresa fazia uma única linha, Três Rios–Petrópolis, com quatro horários diários. “Levava-se mais de duas horas de viagem para cumprir o trajeto. A estrada, muito antiga, era bem ruim, com um grande trecho de terra, e os carros eram bem velhos.”
A experiência não durou muito. Quando ficou claro que a empresa híbrida não era boa uma ideia, criaram outra, só para transportar passageiros. Tiveram de dar-lhe um nome e registrá-la, para que operasse de acordo com as novas exigências do poder público. Pouco inspirados, os irmãos não conseguiam achar um nome que lhes agradasse. Um amigo lembrou que, na época, existia uma água mineral bem conhecida, a Salutaris, cap-tada numa mina perto da linha Três Rios–Petrópolis. Havia até um painel luminoso instalado na encosta do Morro da Urca, no Rio de Janeiro, em que fios de néon em forma de gotas luminosas piscavam alternadamente, dando a impressão de que iam caindo e enchendo um copo. “Por que não botam Viação Salutaris?”, sugeriu. A sugestão foi aceita.
Em pouco tempo os irmãos Noel iriam se revelar empresários hábeis e compradores competentes. Reinvestindo todo o ganho na empresa, co-meçaram por adquirir uma segunda linha, pertencente a um filho de João Batista Pereira. Em 1948, viram a possibilidade de ligar Três Rios ao Rio de Janeiro e entraram com o pedido no DNER, que passara a ser o órgão responsável pelas permissões. Como segunda solicitação, acrescentaram a linha Rio–Paraíba do Sul. Ambas foram concedidas. Havia alguma dificul-dade em relação à idade dos carros, que eles foram resolvendo aos poucos. No início, a frota tinha veículos de duas marcas: Magirus e Indiana. Este último carro era equipado com motor Hércules. Tão logo tiveram dinheiro suficiente, compraram um chassi de caminhão Ford, que foi equipado com motor Hércules de quatro cilindros. Joaquim Sebastião Noel lembrou-se de que esse motor “dava uma tremedeira danada quando em ponto morto”.
Foi nessa época, 1948, que, sem nenhuma razão aparente que moti-vasse um possível descontentamento, o amigo e vendedor Valter da Cunha Sá Pinheiro confessou a Francisco Sebastião que estava pensando em deixar a sociedade. Na época, os sócios iam com certa frequência ao Rio de Janeiro a fim de acompanhar a situação dos processos em tramitação no DNER”. Francisco Sebastião Noel recordou:
114
Numa dessas descidas ao Rio, ele disse: “Sabe de uma coisa? Vou sair, vou embora, vou cuidar de outra coisa”. Tentei fazer ele desistir, mas explicou: “Vou vender minha parte para vocês. Minha família é muito complicada, se eu morrer vocês vão ter um aborrecimento muito grande. Aguentem um pouco que logo eu vendo minha parte para vocês”. Contei sobre essa conversa ao meu irmão e ele comentou: “Se ele quiser, é melhor nós acertarmos logo esse negócio”. E assim a gente pagou o que ele queria e ele saiu. Durante cinco anos pagamos uma prestação de 20 mil cruzeiros por mês. De vez em quando íamos lá na casa dele fazer uma visita. Ele ficava todo satisfeito, às vezes chorava. Dizia que considerava a gente mais que aos próprios filhos, que gostaria que nós fôssemos mesmo filhos dele. O Sá foi uma pessoa a quem temos muito o que agradecer.
Em 1948, quando do afastamento de Sá, a Salutaris já operava quatro
linhas: Três Rios–Paraíba do Sul, Petrópolis–Além Paraíba, Três Rios–Bar-ra Mansa e Petrópolis–São José do Rio Preto (subdistrito de Petrópolis). Durante algum tempo, tinha feito também a linha Juiz de Fora–Rio de Janeiro, que se mostrou inviável pelo baixo número de passageiros, já que outras três companhias também cobriam a mesma rota.
De qualquer forma, a Salutaris seguiu em trajetória ascendente. De vez em quando, talvez inspirados naquele episódio em que haviam sido convencidos por Sá a testar o motor Magirus a diesel, eles partiam para novas experiências. Compraram um chassi de caminhão International, no qual montaram um motor conhecido na época como “Buda”. Compraram ainda dois carros alemães marca Bolck, usados, também com motores de quatro cilindros. Todos os veículos da frota eram ainda do tipo “pescoção”, com o cofre do motor fora da cabine. Incansáveis, iam testando novas marcas e modelos: um Ford diesel de quatro cilindros, vários Volvo L-150 e SLG-154. Também se dispuseram a testar carrocerias da marca Caio, produzidas em São Paulo, e Carbrasa, que eram feitas na Gamboa, no Rio de Janeiro, já com motor embutido. Fixaram-se por algum tempo em chassis de caminhão de procedência francesa, encarroçados pela Metropolitana, com capacidade para 22 passageiros, que permitiam grande agilidade na operação. Mas os carros foram descartados por apresentarem problemas,
115
e também porque nem sempre havia passageiros suficientes para lotação compensadora.
Em meados de 1960, a Salutaris voltou a investir em expansão. Comprou da Empresa Águia de Ouro (1966) a linha Petrópolis–São Paulo. Depois, comprou, da mesma empresa (1968), as linhas São Paulo–Ubá e São Paulo–Ponte Nova. Já então, os irmãos Noel começavam a achar que, dali em diante, para poder crescer com consistência, a Salutaris deveria redimensionar-se e renovar sua gestão. Em 1969, tomaram a decisão de buscar linhas de maior extensão e, paulatinamente, desfazer-se das linhas mais curtas.
Em 1970, contrataram uma consultoria de São Paulo, que foi encar-regada de desenvolver um trabalho de organização e método na empresa. A operação e o funcionamento dos diversos departamentos passaram a ser mais bem acompanhados. Também foi adotado um controle mais apurado da manutenção preventiva, feita de acordo com a quilometragem rodada por veículo. Foram aperfeiçoados os sistemas de requisição ao almoxari-fado, devolução a estoque, boletim de entrada de notas fiscais, ordem de serviço para cada serviço a ser executado. A contabilidade, que era feita por empresa terceirizada, foi trazida para dentro da empresa. Um ano de grandes mudanças na vida da Salutaris.
Simultaneamente às novas práticas de gestão, iniciou-se a constru-ção do novo edifício-sede, fora do centro da cidade de Três Rios, com instalações mais modernas e adequadas. Ao mesmo tempo, a Salutaris deu sequência à política de operar linhas mais longas e de sair das linhas curtas. Tudo isso junto, acontecendo ao mesmo tempo, contribuiu para revigorar a companhia. No quinquênio seguinte ela deveria ganhar impulso ainda maior. Primeiro, com a incorporação de mais uma empresa, desta vez de Friburgo e toda a região adjacente, em 1972. Depois, com a venda de algumas linhas curtas, em maio de 1975, para a Viação Progresso, de Três Rios.
Um salto decisivo foi dado com a compra da empresa Vera Cruz, da linha para Vitória da Conquista. A compra não incluiu os veículos, pois a Salutaris preferiu iniciar a operação com 50 ônibus novos, além de mudar radicalmente a prestação do serviço. Nada de passageiro comprar passagem e ter que ficar esperando a chegada do ônibus seguinte, por falta
116
de carros ou devido a overbooking. Em pouco tempo a Salutaris começou a ser referida como a empresa que prestava o melhor serviço da Rio–Bahia.
Depois de certo tempo, porém, os donos concluíram que precisariam administrar com cautela o crescimento do negócio. Não que ela houvesse crescido de maneira desordenada; mas mudara bastante em relação ao que era na origem. Começou como empresa de porte pequeno e com linhas curtas; agora, se não era uma empresa grande, suas linhas haviam se tornado maiores, mais longas. Algumas tinham sido estendidas mais recentemente, com base no Regulamento. Em todos os casos, eram operadas com um padrão de serviços que deixava os proprietários orgulhosos.
Entrevistado por Rúbio Gômara, o diretor administrativo Sérgio Peccini Noel, filho de Joaquim Sebastião Noel, disse que essa foi a forma encontrada pela Salutaris para fazer frente à concorrência das empresas de maior porte:
Procuramos manter um bom padrão de qualidade e de respeito ao ser-viço que prestamos. Não temos medo da concorrência de empresas com 1.000 ou 2.000 ônibus. Só temos medo de concorrência desleal. Mesmo quando isso ocorre, sempre encontramos clientes que preferem viajar com a gente, mesmo se o concorrente cobra mais barato pela passagem. Isso é motivo de orgulho para nós, é sinal de que temos um bom serviço.
Em setembro de 2003, a Salutaris foi adquirida pelo Grupo Águia Branca. A sede em Três Rios e a razão social foram preservadas.
Jardineira Ford 1950 da Salutaris: capacidade para 28 passageiros.
Jardineira Ford 1946. O motor era um Hércules a diesel, de 4 cilindros. Carroceria produzida pela Carbrasa.
Foto
s: Ac
ervo
Sal
utar
is
Jardineira Chevrolet 1942. Motor de 6 cilindros a gasolina, carroceria Grassi. Tinha capacidade para 24 passageiros.
Francisco Sebastião Noel, um dos fundadores da Salutaris.
Ônibus com chassi Volvo B-617, ano 1952, encarroçado pela Carbrasa. Transportava até 36 passageiros.
Jardineira Ford 1950, com motor Hércules diesel de 6 cilindros. A carroceria era Grassi e tinha capacidade para 28 passageiros.
Foto
s: Ac
ervo
Sal
utar
is
119
EM 1o DE JANEIRO DE 1889, quando desembarcou com a família no porto de Vitória, na então Província do Espírito Santo, o agricultor italiano Domenico Chieppe tinha apenas um sonho: “Fazer a América”, como se dizia na época. Embora parecesse expressão vaga, “Fazer a América” tinha o inequívoco significado de vencer na vida, quem sabe enriquecer ou, pelo menos, deixar para trás um quadro de dificuldades. Era um objetivo a ser perseguido em alguma parte do continente americano, fosse nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina ou em qualquer outro país desta parte do mundo.
Domenico Chieppe escolheu o Brasil. Quatro meses antes, em setembro de 1888, Domenico, nascido em
Mazzantica, Comuna de Oppeano, na região do Vêneto, nordeste da Itália, havia tomado a decisão provavelmente mais difícil de sua vida: emigrar com a família. Aos 49 anos de idade, empurrado pela terrível crise econômica que estrangulava o Reino da Itália, ele ia partir para um país estranho e distante, dar um salto rumo ao desconhecido, com consequências abso-lutamente imprevisíveis. Tratava-se de romper, de modo praticamente definitivo, todos os laços que o ligavam à sua terra natal. Uma aventura quase desesperada a que se lançava com a esposa Elisabetta e os filhos Giuseppe, Rosa, Gaetano, Battista, Ângela e Maria.
O Brasil mal acabara de ultimar as decisões de governo relacionadas ao seu arrastado processo de abolição da escravatura. Como grande pro-dutor e exportador mundial de café, necessitava fazer o mais rapidamente possível a passagem do estágio do uso da força de trabalho escrava para
viação águia branca S. a.
irmãoS chieppe
1946
120
o estágio da mão de obra assalariada, ou livre. O Espírito Santo foi uma das províncias que assumiram a dianteira no enfrentamento da questão. Desde 1874, ali aportavam com regularidade navios trazendo imigrantes procedentes principalmente do norte da Itália. Os núcleos de colonização eram formados a partir de terras cobertas de mata virgem que eram divi-didas em pequenas propriedades chamadas “colônias”. Com 25 hectares de área, em média, eram vendidas à vista ou a prazo aos recém-chegados.
O embarque dos Chieppe para o Brasil deu-se no início de dezembro de 1888, e a viagem durou um mês. Ao desembarcar, tiveram de aguardar que as autoridades definissem para qual núcleo seriam encaminhados. Enquanto isso, alojados na Hospedaria dos Imigrantes de Pedra d’Água, cumpriram um obrigatório período de quarentena.
A espera estendeu-se por três meses.No dia 30 de março, finalmente, a família recebeu o lote número
42 da área denominada Santa Maria do Rio Doce, no Núcleo Colonial Senador Antonio Prado, no norte da Província, bem no limite da frente pioneira, à margem do Rio Doce. Dali para a frente não havia mais nada a não ser a mata. Que, aliás, também cobria toda a superfície do lote que pagariam em prestações.
Depois de penoso deslocamento para lá, iniciaram a construção da casa e a derrubada da mata. Em seguida, deram início ao plantio das mudas de café. Três ou quatro anos depois, quando o café finalmente floresceu e começou a produzir, fizeram a primeira colheita, secaram os grãos em terreiro de chão batido e ensacaram o resultado de tanta faina. Fechava-se o primeiro ciclo da grande aventura.
Seis anos depois, em 1895, a modesta casa rural de Domenico e Elisabetta Turrini Chieppe, em Santa Maria do Rio Doce, estava em festa. Casava-se o filho mais velho, Giuseppe, então com 28 anos. A noiva era a jovem Angela Benedetti, de 19 anos, filha de Andréa e Filomena Bene-detti, imigrantes como eles e também desbravadores no mesmo núcleo.
A casa de Domenico e Elisabetta em Duas Vendinhas passou a ser também a do casal Giuseppe e Ângela. Ali nasceu, em 9 de setembro de 1896, o filho de ambos, que recebeu o nome de Carlos Chieppe. Cresceu, tornou-se um jovem comunicativo, alegre e trabalhador. Tinha 27 anos quando, no dia 27 de julho de 1923, uniu-se à jovem Rosa Leonídia Dalla
121
Bernardina, de 20 anos, também muito comunicativa e sociável. Seus três primeiros filhos foram Diva, Dina e Vallécio.
NA ÉPOCA, A SITUAÇÃO DA REGIÃO já era bastante diferente da-quela que a família Chieppe encontrara 39 anos atrás. Em 1906, haviam chegado a Colatina os trilhos da Estrada de Ferro Vitória–Minas, dando forte impulso à economia local. O trabalho dos tropeiros e a canoa ain-da eram indispensáveis para movimentar a produção desde as fazendas; porém, o escoamento de grandes lotes, a partir da cidade, tornara-se bem mais fácil. A população crescia, o comércio florescia. Em 1907, Colatina tornara-se sede do município de Linhares. A região ingressava em etapa de grande desenvolvimento, irradiado da margem sul do Rio Doce, onde praticamente não havia mais terras disponíveis.
Em 1920, foi criada a Companhia Territorial, destinada à abertura de novas frentes de colonização. Mesmo com a dificuldade de transposição do rio, os colonizadores e seus descendentes passaram a comprar terras na margem norte do Rio Doce. Giuseppe Chieppe adquiriu uma gleba nas proximidades do Córrego Estrela e Carlos Chieppe se deslocou para lá a fim de abrir novo plantio de café. A comunicação entre os dois lados continuou sendo por meio de balsa até 1928, quando ficou pronta a ponte Florentino Ávidos, em Colatina. Nesse mesmo ano, foram assentados no curso superior do Rio São José, em região próxima a Colatina, dois con-tingentes de novos imigrantes — poloneses e alemães —, que fundaram um povoado chamado Águia Branca. O nome era uma referência à mais elevada ordem de cavalaria da Polônia.
Em cinco anos o sítio estava praticamente formado. O café florescia e haviam nascido mais três filhos de Carlos: Amélia, Wander e Cenira. Concluída a tarefa de formar o cafezal, Carlos mudou-se de novo com a esposa e os filhos para a propriedade de Duas Vendinhas e seu pai passou a ocupar o sítio do Córrego Estrela.
Ainda como consequência da crise mundial de 1929, os preços do café, principal produto de exportação do País, continuavam deprimidos. Em 1936 — quando nasceu Aylmer, seu sétimo filho — Carlos convenceu
122
o pai de que deviam passar adiante a propriedade de Duas Vendinhas. Ne-gociaram a propriedade e Carlos usou a parte que lhe cabia como entrada na compra de um sítio na localidade de São Silvano, junto à Rodovia do Café (ES-2), do outro lado do rio. Pretendia continuar se dedicando ao cultivo de café, mas, paralelamente, trabalharia com o transporte, em lombo de burro, de cereais e de café da região. Algum tempo depois Carlos já havia conseguido quitar toda a dívida da compra do sítio e da primei-ra tropa. Comprou uma segunda tropa e, ao mesmo tempo, pensou em um modo simples de assegurar a preferência no transporte da produção da região: abriu uma “venda”, pequeno armazém para fornecer produtos básicos, onde os colonos podiam fazer suas compras durante o ano para pagar depois da colheita.
O trabalho de tropeiro permitia a Carlos Chieppe percorrer constan-temente a região, fazendo negócios e amigos. Dessa forma, foi testemunha e participante do vigoroso processo de desenvolvimento em que os povoados, vilas e pequenas cidades se multiplicavam em torno de Colatina. Também acompanhou a expansão rumo ao norte do Estado, especialmente a partir de 1938, quando as lavouras de café retomaram, com maior força ainda, o seu lugar na paisagem.
Aproximando-se os anos 1940, Carlos fez contato com grandes com-pradores, obteve deles a garantia da compra antecipada e foi em busca dos vendedores. Nessa intermediação, ele se remunerava com o que cobrava pelo frete. Em compensação, garantia a freguesia e fazia crescer a confiança que os produtores tinham nele. Adquiriu então uma máquina de beneficiar café, para agregar maior valor ao produto, aumentando a margem de lucro na comercialização.
Enquanto isso, observava as transformações que iam se operando ali mesmo, à sua frente, na Rodovia do Café. O número de caminhões que passavam carregados de toras de madeira era cada vez maior, e aquilo tinha um significado: era o transporte rodoviário se afirmando no quadro de uma nova realidade. Picadas e caminhos estreitos se alargavam para dar passagem aos veículos sobre rodas, inclusive as primeiras jardineiras. Quem desembarcava do trem em Colatina já podia transportar-se nelas até as vilas e povoados mais próximos. Porém, devido à escassez de combustível, por causa da Segunda Guerra Mundial, as tropas de burros continuaram
123
desempenhando seu importante papel por mais alguns anos. No entanto, Carlos Chieppe já amadurecera a decisão de, na primeira boa oportuni-dade — depois que terminasse o conflito — trocar as tropas de burros por um caminhão para manter-se competitivo no negócio de transporte de café e cereais.
O propósito foi cumprido em 1946, quando Carlos associou-se a seu cunhado Ângelo Dalla Bernardina na compra de um pequeno caminhão Ford 1942, dando início a uma nova fase no negócio de transporte de café e cereais. Pouco depois, no entanto, eles decidiram trocar o caminhão por um ônibus. Também era ano 1942 e estava bastante novo.
Muitos anos depois, Vallécio, o filho mais velho, recordaria que, tendo na época 17 anos, não conseguira entender a atitude do pai. As linhas de ônibus da região já estavam todas servidas e por ali não havia mercado suficiente para sustentar uma tentativa de competir com as transportadoras estabelecidas. Sendo assim, o que eles iriam fazer com um ônibus?
Carlos Chieppe tinha a resposta e, mais uma vez, mostrava capaci-dade de enxergar longe. A abertura da rodovia BR-116, ligando o Rio de Janeiro à Bahia, estava praticamente concluída. No meio do caminho, a cidade mineira de Governador Valadares transformava-se rapidamente em importante polo comercial e esperava pelo ônibus da família Chieppe, por Vallécio e por um motorista chamado Antônio Marola. Foram para lá e deram início à primeira linha de ônibus da família — considerada a origem do empreendimento que viria a se chamar Viação Águia Branca —, ligando a cidade a Teófilo Otoni.
Como contou Vallécio, além do trabalho duro, as estradas não aju-davam. Ele era o cobrador e responsável pela manutenção do veículo. Concluído o dia de trabalho, encostavam o ônibus à beira de um rio e o lavavam cuidadosamente. Eventuais problemas com o motor ou a car-roceria eram solucionados ali mesmo. Depois de seis meses dessa rotina, Carlos Chieppe e Angelo Dalla Bernardina, de tão satisfeitos, compraram um segundo veículo. Continuaram rodando e a pequena firma se tornou conhecida como Auto Viação 13.
Em 1948, a primeira experiência da família no transporte de pas-sageiros teve de ser interrompida. Haviam pensado em tudo, menos na providência burocrática de pedir o registro que lhes daria a primazia da
124
linha Valadares–Teófilo Otoni. Uma outra empresa aproveitou-se do co-chilo e obteve a permissão junto ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Depois entrou na linha com uma frota maior e preços mais baixos, e eis Vallécio Chieppe e Marola voltando para Colatina com os dois ônibus, já que não tinham como competir com a concorrente. Ainda tentaram implementar um serviço de transporte de passageiros entre o bairro de São Silvano e o centro de Colatina, mas, sem retorno financei-ro compensador, desistiram. Os dois ônibus foram negociados e eles, de novo, compraram um caminhão. Dirigido por Vallécio, o veículo passou a transportar carga entre Colatina e Vitória.
Luiz Wagner, o décimo e último filho de Carlos e Rosa Leonídia, nasceu em 1950. Além dele e dos pais, Diva, Dina, Vallécio, Amélia, Wander, Cenira, Aylmer, Nilce e Nilton Carlos compunham a família.
Naquele mesmo ano, Carlos Chieppe voltou a investir no negócio de transporte de passageiros, associando-se a seu irmão João Chieppe em um velho ônibus Chevrolet que fazia a linha entre Vila Pancas e Colatina. João Chieppe e Vallécio passaram a revezar-se como motorista e cobrador. Mais tarde, eles construíram uma garagem rudimentar ao lado da residência da família; guardavam ali o ônibus e as ferramentas utilizadas na manutenção. Em breve, a empresa João Chieppe & Sobrinho iniciou uma nova linha, entre Colatina e Alto Rio Novo. Wander já tinha 22 anos e tirara carteira de motorista. Aylmer trabalhava como cobrador.
Em 1955, Carlos Chieppe e os filhos compraram a parte de João Chieppe e criaram nova empresa, denominada Vallécio Chieppe & Ir-mãos. Os 100 quilômetros que separavam Colatina de Alto Rio Novo eram percorridos em cerca de quatro horas e meia. Vallécio, Wander, e mais tarde Aylmer e seu amigo Cláudio Moura, revezavam-se na direção dos ônibus e no trabalho de cobrador. Saíam de Colatina num dia e voltavam no outro. Na bagagem levavam pá, picareta, enxada e as indispensáveis correntes lameiras, de uso frequente, em especial nos trechos de serra. Terminada a viagem do dia, motorista e cobrador arregaçavam as mangas, pois o ônibus precisava estar impecável para a próxima jornada. Naquela altura, já eram três carros. Não foram poucas as noites que passaram em claro em oficinas, acompanhando e auxiliando o trabalho dos mecânicos, para garantir a pontualidade da viagem do dia seguinte.
125
VALLÉCIO CASOU-SE aos 28 anos, em 1956. Tal como seu pai muitos anos antes, achou que agora devia tentar construir um negócio próprio. Fez um acordo com o pai e os irmãos para antecipação de seu direito de herança e recebeu dois terrenos em São Silvano, além do valor correspon-dente a um terço da empresa de transporte de passageiros.
Com a saída do irmão mais velho, a empresa passou a ser administrada por Wander e Aylmer, que assumiram suas cotas de direito, constituindo a firma Irmãos Chieppe Ltda. Quanto a Vallécio, menos de 30 dias depois de ter saído viu surgir a oportunidade: um homem chamado Ceny Judice Achiamé, comprador de café e proprietário da Empresa de Transportes Águia Branca, criada em 1949, procurou-o e lhe ofereceu o negócio, cujo nome fora inspirado naquele povoado fundado em 1928 por colonos po-loneses e alemães.
Vallécio estudou a proposta e viu que lhe faltava capital para enfren-tar sozinho a empreitada. Ceny Judice indicou-lhe João Godoy Sobrinho, prático de farmácia estabelecido em Vila Verde, no município de Colatina, também proprietário de um ônibus que circulava na região, como sendo a pessoa à qual Vallécio podia se associar. Fechado o negócio no dia 7 de janeiro de 1957, em 4 de fevereiro foi constituída a firma Chieppe & Go-doy. Cada sócio ficou com 50% das cotas que perfaziam o total do capital.
A empresa cobria o trajeto Colatina–Mantena–Barra de São Francisco. Alguns dos 12 ônibus, de tão estragados, não tinham condições de rodar, mas Vallécio não levou muito tempo para fazer os primeiros resultados aparecerem. Com a frota bem cuidada, a receita cresceu e em pouco menos de um ano eram comprados dois ônibus zero quilômetro.
A nacionalização da produção de veículos e a ampliação do setor de autopeças, seguidas do aperfeiçoamento constante da engenharia automotiva, facilitariam, a médio prazo, a operação e manutenção dos veículos. Estradas começavam a ser rasgadas, ampliadas e melhoradas. Intensificavam-se os movimentos de migração interna.
A separação dos irmãos Chieppe durou pouco. Em 1958, Vallécio viu a oportunidade de comprar uma outra pequena empresa, sediada em
126
Barra de São Francisco, mas queria poder contar com gente de confiança para tocar a nova frente. Propôs que os irmãos Wander e Aylmer se associas-sem a ele e a João Godoy e fossem para Barra de São Francisco gerenciar o negócio. Eles aceitaram e, em 11 de julho de 1958, foi criada a Viação Brasil Ltda. O capital era dividido igualitariamente entre os quatro sócios.
Aylmer seguiu imediatamente para Barra de São Francisco e assumiu a empresa. Wander, casado há apenas um ano, também se mudou para lá. O amigo Cláudio Moura os acompanhou pouco depois. Para Wander e Aylmer, era o início de uma nova fase: deixavam de ser motoristas para se dedicar a tarefas administrativas e de gerenciamento da nova empresa. Vez ou outra, aos domingos, quando aumentava o movimento, assumiam o volante. Em 1959, a Viação Brasil estendeu seu raio de atuação para Mantena (MG) e Ecoporanga (ES).
Em apenas dois anos, a frota da Viação Brasil chegou a 18 ônibus, enquanto na Águia Branca os negócios também iam sendo ampliados. No fim de 1959, a empresa adquiriu os direitos de exploração da linha entre Mantena e Governador Valadares, Minas Gerais. Vallécio voltava, 11 anos depois, a atuar na cidade onde tudo havia começado.
Por várias vezes o sócio João Godoy Sobrinho havia falado do in-teresse em vender sua parte na empresa. Em junho de 1960, Wander e Aylmer, estimulados por Vallécio, compraram a parte dele. Em seguida, também por sugestão de Vallécio, a Empresa de Transportes Águia Branca e a Viação Brasil juntaram recursos e esforços. Vallécio ficou com 50% do capital e o restante foi dividido em partes iguais entre Wander e Aylmer. Começava a se estruturar o Grupo Águia Branca. Mas restava ainda uma providência de ordem jurídica e, em 17 de fevereiro de 1961, a razão social da firma Chieppe & Godoy foi alterada para Viação Águia Branca Ltda. A Viação Brasil foi encerrada.
SE NO COMEÇO DA DÉCADA de 1960 fosse feito um corte na exis-tência da Viação Águia Branca Ltda., ver-se-ia que os irmãos Chieppe estavam espalhados por três diferentes lugares na tarefa de impulsionar os negócios. Aylmer, ainda solteiro, estava sendo transferido para Governador
127
Valadares, onde se casaria e moraria por 12 anos. Wander estava em Barra de São Francisco, Vallécio em Colatina.
Em Governador Valadares, Aylmer comprou um terreno para insta-lação da garagem e da equipe de manutenção. Em Colatina, na Rua Ale-xandre Calmon no 146, ficava a sede e a principal garagem da companhia, que já contava com um pequeno almoxarifado. Cerca de 15 funcionários se dedicavam à manutenção da frota. Empregados e patrões começavam o dia às 7 horas da manhã e raramente terminavam suas tarefas antes da meia-noite. Às vezes, na época das chuvas, os ônibus levavam mais de oito horas para cobrir um percurso de 140 quilômetros. Quando chovia dez, quinze dias seguidos, não era possível circular e os carros parados eram prejuízo na certa. Assim que estiava, seis ou mais funcionários saíam imediatamente para as estradas em uma caminhonete com pás, enxadas, picaretas e um carrinho de mão. Iam tapar buracos, limpar barreiras, de-sobstruir passagens. Às vezes, trabalhavam dois ou três dias seguidos para conseguir liberar uma estrada.
O governo de Juscelino Kubitschek estava chegando ao fim. Também iam saindo de cena os chamados “anos dourados” e a euforia que mobili-zara o País até o início dos anos 1960. Dali para a frente se instalaria um período difícil para o Brasil, para o estado do Espírito Santo e também para a empresa. Simultaneamente às dificuldades econômicas, já nos primeiros anos da década começaram a se intensificar as agitações políticas e po-pulares que culminariam com a instituição do governo militar, em 1964.
Por outro lado, o asfaltamento da rodovia BR-116 garantiu à cidade mineira de Governador Valadares o importante papel de entroncamento rodoviário, favorecendo o tráfego entre o Sudeste e o Nordeste. Também foram asfaltadas as estradas que ligavam Vitória ao Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Em 1962, a Viação Águia Branca chegou a Belo Horizonte, após associar-se à empresa Rápido Rio Doce, responsável pela operação, entre outras, da linha Mantena–Belo Horizonte. A capital mineira estava em franco processo de industrialização e urbanização, e aquela era a primeira linha de grande percurso da companhia. Mais tarde, em 1965, a Rápido Rio Doce abriria mão da operação e a Águia Branca assumiria integral-mente a linha.
128
Em maio de 1970, foi adquirida em Minas Gerais a Empresa de Transportes Mariano Pires Pontes, que operava com o nome fantasia de Sayonara. Com isso, a Águia Branca ampliou seu raio de atuação para o Vale do Aço, importante área da indústria siderúrgica mineira, também situada no Vale do Rio Doce. Aylmer deixou a direção de Governador Valadares e mudou-se com a família para Coronel Fabriciano, e depois para Ipatinga, no Vale do Aço. A companhia passou a atuar também no sistema urbano das cidades de Ipatinga e Timóteo, fazendo ainda as liga-ções intermunicipais entre Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Foi sua primeira experiência no setor de transporte urbano de passageiros.
Em 1982, Aylmer deixou Ipatinga para atender às novas exigências impostas pelo crescimento do Grupo. Entre Governador Valadares e Coro-nel Fabriciano, ele havia ficado por 24 anos em Minas Gerais. O saldo era extremamente positivo: a empresa estava totalmente integrada às comuni-dades a que servia e era reconhecida pela qualidade dos serviços prestados.
TAMBÉM EM 1970, A VIAÇÃO Águia Branca adquiriu o setor norte da Viação Itapemirim, expandindo sua área de atuação nessa parte do Espírito Santo e ampliando a frota local de 75 para 150 ônibus. O negócio não apresentava perspectivas de retorno imediato, mas era importante para a estratégia de crescimento do Grupo Águia Branca. Grande parte das linhas adquiridas saía de Vitória, permitindo a atuação da empresa na capital e aproximando-a da Bahia. O desenvolvimento econômico e a urbanização desse Estado nos anos 1970 levariam a Águia Branca a estender seu raio de ação para vários municípios baianos.
Enquanto isso não acontecia, a Águia Branca somava suas linhas antigas às recém-adquiridas e passava a atender a um maior número de cidades no norte do Espírito Santo, como Barra de São Francisco, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporanga, Mucurici, Montanha, São Gabriel da Palha, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário. Alcançava, ainda, Nanuque (MG) e Caravelas (BA).
Tornou-se necessário criar uma base em Vitória, onde, provisoria-mente, vinha sendo utilizada a garagem da Itapemirim. Foram alugadas as
129
instalações de um posto de gasolina, onde eram abastecidos os ônibus. A sede da empresa e um de seus pátios rodoviários continuaram em Colatina.
No princípio de 1971, foram comprados 27 novos ônibus, utilizados nas linhas mais concorridas que saíam de Vitória em direção ao interior. Também foi adquirido um terreno de 75.000 metros quadrados para cons-trução da nova garagem e de outras instalações. Nilton Carlos, arquiteto, foi chamado para coordenar esse trabalho. Também o irmão mais novo, Luiz Wagner, assumiu novas responsabilidades, desenvolvendo diversos tipos de serviços administrativos. Pouco depois, foi enviado a Colatina, onde pôde aprofundar seus conhecimentos na área operacional e administrativa. Em setembro de 1972, o Grupo Águia Branca adquiriu uma empresa urbana em Vitória — a Viação Penedo — e Wagner passou a dirigi-la.
Em 1973, seria inaugurado o Parque Rodoviário de Cariacica, com área para manobras, oficina de manutenção, lavadores, almoxarifado, bombas de abastecimento, dormitórios para motoristas, refeitório para funcionários, escritórios e algumas residências para os funcionários da garagem. Eram 12.000m² de área construída. O núcleo operacional foi equipado com todos os recursos modernos disponíveis.
Também em 1973, a partir da aquisição de uma empresa regional, a Expresso São Jorge, o Grupo Águia Branca chegou a Itabuna, Bahia. Na época, o trecho nordestino da BR-101 já estava asfaltado. Cláudio Moura e Adi Silva Gama, funcionário da Águia Branca em Colatina, transferiram-se para Itabuna e ali instalaram a sede da nova frente. As primeiras linhas da Expresso São Jorge cruzavam a região cacaueira e chegavam a Salvador. Progressivamente, foram criadas novas linhas regionais ligando Itabuna, Itamaraju e Porto Seguro a Vitória. Alguns meses depois de estabelecida em Itabuna, a Águia Branca adquiriu a empresa Santa Efigênia, ampliando seu raio de ação no sul da Bahia. A substituição do nome da Expresso São Jorge pelo da Águia Branca foi feita lenta e gradualmente.
A principal concorrente da Águia Branca na Bahia era a Companhia Viação Sulbaiano — Sulba. Constituída por capital misto, tinha como maior acionista o estado da Bahia. Havia sido criada em 1932 e era parte da tradição e da história regional. Na época, era uma das maiores empresas de transporte da Bahia. Seus serviços, entretanto, não conseguiam manter um padrão constante.
130
Já o padrão dos serviços prestados pela Águia Branca era elevado. A Sulba começou a ver sua receita diminuir. Enquanto isso a Águia Branca crescia: em 1978, comprou a empresa Nossa Senhora de Fátima; depois, associou-se a duas empresas regionais — a Camurujipe e a Viazul — na compra de uma parte das linhas da Sulba. A parceria deu origem à Rota Transportes Rodoviários e viria a ser de grande importância para definir a posição do Grupo na Bahia. Naquele ano, os ônibus da empresa já tocavam os pontos estratégicos do Estado: o litoral sul, a zona cacaueira, Salvador e o Recôncavo Baiano. Foram adquiridos 50 ônibus novos para reforçar as linhas que levavam à capital baiana.
De 1979 a 1982, devido aos reflexos da segunda crise mundial do petróleo, a Águia Branca reduziu o ritmo da expansão. O crescimento foi retomado com a compra da Viação Amparo, da Viação Cristo Rei e de parte da Viação Santana–São Paulo. O desenvolvimento dos negócios tornou necessária a implantação de uma Diretoria Regional em Salvador.
Enquanto tudo isso acontecia, a frota da Sulba foi envelhecendo. Em 1989, a empresa mais uma vez se encontrava em situação extremamente difícil. Teve início então um complicado processo de negociações que res-sultou na venda das ações da tradicional empresa baiana ao Grupo Águia Branca e a várias companhias locais. Com essa operação, foi concluída a fase expansionista do grupo na Bahia. Hoje, a frota baiana representa 50% da receita da unidade de passageiros do Grupo Águia Branca.
EM MEADOS DA década de 1970, desenhava-se um quadro de grandes transformações não só no País, como no Espírito Santo e na cidade de Vitória. Havia a necessidade concreta de modernização e da consequente profissionalização das empresas interessadas em consolidar seu patrimônio e garantir bases sólidas para o seu desenvolvimento. A primeira medida do Grupo Águia Branca foi criar a infraestrutura adequada para a transferên-cia da garagem e da sede administrativa, de Colatina para Vitória. Ainda em expansão, a companhia começava a investir na diversificação de seus negócios, o que tornava mais complexas as exigências quanto à estrutura administrativa.
131
Um dos primeiros passos para a adequação aos novos tempos e para atender à crescente importância de Vitória nos negócios da Águia Branca foi a transferência, em 1974, dos funcionários responsáveis pelo setor admi-nistrativo, da sede, em Colatina, para a capital. Em 1975, Wander também se transferiu para Vitória, juntando-se a Vallécio e a Nilton Carlos, a fim de coordenar a área operacional da empresa.
A partir daquele ano, a contratação de sucessivas consultorias pro-fissionais iria contribuir para mudanças estruturais que se consolidariam nos anos 1990. Em 1979, veio a nova crise econômica, decorrente do aumento dos preços do petróleo, inaugurando mais um período recessivo e de escalada do processo inflacionário, que se manifestou ainda mais fortemente entre 1981 e 1984.
A transferência de Aylmer para Vitória ocorreu em 1982. Vinha re-forçar a presença dos acionistas na sede de Cariacica. Mais algum tempo e Cláudio Moura passava a Wagner a diretoria da Bahia e juntava-se aos demais sócios em Vitória. Ao quarteto que constituíra e fizera crescer o patrimônio inicial da empresa — Vallécio, Wander, Aylmer e Wagner — acrescentara-se um novo sócio, em 1978: Nilton Carlos Chieppe. Além dele, alguns representantes da nova geração Chieppe já estavam contri-buindo com seu trabalho para o bom desempenho da empresa, e esse era mais um dado a justificar a necessidade de um modelo organizacional que garantisse o processo sucessório.
A partir de 1982, intensificaram-se as ações modernizadoras que dariam suporte à profissionalização do Grupo Águia Branca, facilitada pela centralização administrativa na matriz de Cariacica. Foram feitos investimentos em obras e melhoria da infraestrutura de apoio administra-tivo e operacional, ampliados e diversificados os negócios e prospectados novos caminhos para a consolidação do patrimônio. Ao mesmo tempo, foi iniciado o processo de mudanças na gestão da empresa.
Em 1986, começou a construção do novo prédio da administração, em Cariacica (ES), concluída seis anos depois. O superdimensionamento da área construída tornou-se um testemunho do otimismo do Grupo, uma forma de aposta na retomada do ritmo de crescimento da economia nacional.
Um dos marcos mais importantes na vida da Águia Branca foi atin-gido em 1987, com a criação da holding Águia Branca Participações Ltda.,
132
com o objetivo de racionalizar a administração dos negócios. Ela passou a ser depositária das ações de todas as empresas, e cada sócio constituiu uma pequena holding familiar com direito a representação no Conselho da holding. Com essa iniciativa, estava resolvida a questão acionária, de grande importância para garantir o processo de sucessão.
Entre 1988 e 1989, avançou-se um pouco mais em direção à pro-fissionalização, sendo criado o organograma administrativo da holding. Todo o corpo técnico responsável pela direção das empresas do Grupo passou a se reportar diretamente a Aylmer. Foram criadas novas diretorias e contratados executivos de carreira.
O INÍCIO DA CHEGADA das novas gerações no Grupo Águia Branca deu-se em 1978, quando Décio Luiz Chieppe começou a trabalhar na companhia. Na sequência chegariam Renan, filho de Wander, Riguel e Kaumer, filhos de Aylmer, e depois Patrícia, filha de Nilton. Outros herdei-ros preferiram abrir novos caminhos. Em 1992, começou-se um processo de análise e readequação do modelo administrativo, já contando com a participação da nova geração. Foi contratada uma empresa de consultoria com a finalidade de contribuir para a definição do novo caminho. Em agosto de 1993, foi criado o novo Conselho de Administração, que mudou substancialmente os procedimentos de decisão do Grupo Águia Branca. Décio, Renan e Riguel, em decorrência dos cargos ocupados na matriz, passaram a integrar o Conselho. Era a primeira vez que não acionistas tinham acesso à esfera do poder de decisão, com direito a voto, que passou a ser por indivíduo e não mais por representação acionária. Estabeleceu--se nova dinâmica de gestão das áreas de negócio do Grupo. A estrutura organizacional foi redesenhada, com a criação das Unidades de Negócios, que possibilitaram a separação das empresas por área de interesse comum e afinidade de negócios. Juntas, elas compõem o maior grupo empresarial do Espírito Santo e um dos maiores do País em transporte de passageiros e cargas , revenda e locação de veículos, logística e saneamento básico.
Ônibus adquirido em 1957. Já ostentava na pintura o nome Viação Águia Branca.
Em 1953, Wander (à direita) passou a dirigir o ônibus da segunda linha da empresa João Chieppe & Sobrinho, entre Colatina e Alto Rio Novo.
Ônibus comprado pelos Chieppe em 1946.
A velha jardineira Chevrolet da firma João Chieppe & Sobrinho transportava passageiros entre Vila Pancas e Colatina.
Foto
s: Ac
ervo
Via
ção
Águi
a B
ranc
a
Interior da garagem da Águia Branca em Colatina nos anos 1960.
No fim da década de 1940, os Chieppe utilizavam este ônibus Grassi montado sobre o chassi de um caminhão International.
Vallécio Chieppe Wander Chieppe Aylmer Chieppe Nilton Chieppe
Foto
s: Ac
ervo
Via
ção
Águi
a B
ranc
a
135
NA MANHÃ DO DIA 9 de fevereiro de 1993, o diretor presidente da Auto Viação 1001, Jelson da Costa Antunes, recebeu Rúbio Gômara para um longo depoimento, que vai sintetizado nestas páginas. Tendo Rúbio lhe pedido que falasse de sua trajetória na atividade de transporte de passageiros por ônibus, o empresário começou com uma observação:
Não é muito fácil a gente contar em poucas palavras uma história que durou, até aqui, cerca de 53 anos. Mas eu diria que minha história é, em parte, bastante parecida com a de quase todos os fundadores de empresas no Brasil. Atualmente, nosso sistema tem uma vida em torno de cinquenta anos e por isso me considero um fundador, igual a muitos outros. Naquela época, começamos sem recursos técnicos, nem financeiros e, até, sem condi-ções satisfatórias, já que as rodovias eram todas caminhos de chão natural. Naquela época, uma empresa não era administrada, era arrancada do chão para quem a quisesse conduzir. Este foi o meu caso.
Jelson Antunes ainda não havia completado 20 anos quando, em 1947, tendo como sócio um de seus irmãos, comprou da famosa Viação Cometa um pequeno ônibus usado. Era um Chevrolet 1946 movido a diesel e, apesar de quase novo, tinha sido desativado quando a empresa passou a utilizar ônibus importados. Em função da sociedade com o irmão, Jelson sempre teve o cuidado de se referir a esse veículo como “meio ônibus”. Mas já nessa primeira compra mostrou que tinha opiniões firmes e enten-dia de mecânica, tanto assim que a primeira coisa que fez no veículo foi
auto viação 1001 ltda.
JelSon da coSta antuneS
1947
136
tirar o motor a diesel e instalar um motor a gasolina. Queria, conforme explicou, ter “um carrinho limpo e arrumadinho”. Apesar de muito jovem, já havia trabalhado, sucessivamente, como cobrador de ônibus, aprendiz de eletricista e aprendiz de mecânico.
Jelson nasceu em 9 de novembro de 1927, em Pico de Itaboraí, município de Itaboraí, Rio de Janeiro. Com apenas oito 8 anos de idade, ajudava seu pai em um armazém de propriedade dele. Aos nove, o negócio do pai era uma quitanda, e Jelson trabalhava lá. Aos 12, o menino ficou órfão de mãe e foi morar com um dos irmãos, que tentava ganhar a vida transportando passageiros. O pai casou-se novamente e ainda teve outros quatro filhos, além dos 13 do primeiro casamento. Jelson continuou tra-balhando, já agora como cobrador, em uma empresa do irmão chamada Viação Popular, na cidade de Niterói. Acompanhou-o durante quase oito anos, enquanto ele vendia e comprava outras pequenas empresas de ôni-bus, até que decidiram se associar na aquisição daquele pequeno ônibus da Cometa.
Depois que o veículo ficou do jeito que Jelson queria, foi “agrega-do” à frota da Viação Niterói e começou a rodar. Metódico, econômico e determinado, o rapaz reuniu em pouco menos de seis meses o dinheiro necessário para quitar toda a dívida correspondente à carroceria e ao motor. Tanta eficiência, no entanto, pareceu aborrecer o dono da Niterói: seus ônibus viviam enguiçando, enquanto o carro agregado praticamente não quebrava. As diferenças estavam no motorista e no mecânico, que por sinal eram a mesma pessoa. Jelson dirigia, consertava e fazia a manutenção do carro, que rodava quase sem parar. Diante, porém, do desagrado da empre-sa parceira, os dois irmãos desfizeram o acordo e venderam o Chevrolet, recebendo uma entrada e diversas promissórias.
Jelson não ficou muito tempo sem um veículo. Tendo se mudado para Macaé, no interior do Estado, usou sua parte da entrada e das promissórias para comprar outro ônibus, desta vez bastante usado, com capacidade para 20 passageiros. Com ele, abriu a empresa Viação Líder, foi ao DER e requereu permissão para operar uma linha entre Macaé e Quissamã, no interior do estado do Rio de Janeiro. Obteve uma autorização precária (por 60 dias) e, decorrido esse prazo, a permissão definitiva. Seguiu tra-balhando, em média, doze horas por dia. Precisava pagar as prestações,
137
o que conseguiu em mais ou menos seis meses. Em seguida, comprou um segundo veículo, desta vez em ferro-velho. Fez ele mesmo a reforma, requereu e obteve a autorização para explorar a linha Macaé–Conceição de Macabu e contratou um motorista.
O lance seguinte decorreu de um pedido do próprio órgão municipal responsável pelo transporte de passageiros, que lhe confiou a operação de sua terceira linha, Macaé–Tapera. Depois a linha foi estendida ao alto de Tapera; era muito movimentada. O “ônibus de Tapera” virou assunto de comentários em toda Macaé, em sua maioria elogiosos à ousadia e persis-tência do jovem Jelson. Porém, a sua Viação Líder começou a incomodar os motoristas de praça e de caminhões que transportavam passageiros na cidade. Um dia, alguém deitou boa quantidade de sal e areia no tanque de combustível do ônibus e o motor fundiu. E o episódio valeu a Jelson um conselho precioso dado pelo seu irmão:
Agora, ao invés de comprar um carro velho, você compra um carro novo. Assim marca logo a sua posição.
Na Mesbla (antiga Mestre & Blatge), estava à venda um ônibus com o qual Jelson nunca ousara sonhar. Acompanhado do irmão, foi até lá para admirá-lo. Era um Chevrolet a gasolina, modelo “quadrado”, e não teve dúvida: fez a compra para pagar em prestações. Foi o primeiro ônibus zero quilômetro emplacado em Macaé — um acontecimento na cidade. Além de operar a linha regular, frequentemente era alugado para casamentos, batizados, festas de aniversário. Naquela altura, Jelson já havia contratado dois motoristas. Ficava na manutenção e cobria as folgas dos dois.
Os negócios iam bem e corria o ano de 1950. Apesar de mal haver passado dos 22 anos de idade, Jelson, órfão desde os 11, sentia-se muito só e decidiu casar-se. Sua primeira filha nasceu nesse mesmo ano.
Tive notícia que ela estava nascendo em Niterói, e eu não podia me deslocar para ir vê-la porque estava encarregado de fazer o transporte dos convidados da festa de inauguração da Usina Central de Macabu, em Tapera. Quando terminou a festa, eu, empresário de ônibus, é que tive de implorar uma carona no trem especial das autoridades, para poder ir ver a
138
minha filha. E isso só aconteceu à 1 hora da madrugada do dia seguinte. Fui ver a minha primeira filha já com vinte e poucas horas depois de nascida.
Em 1951, buscando alternativas de expansão, Jelson procurou os sócios fundadores de uma empresa intermunicipal que tinha várias linhas na região, uma inclusive em Macaé, e fez a eles uma proposta inusitada: queria comprar um único horário da linha entre Macaé e Niterói, que ele se propunha atender com seu ônibus Chevrolet 1950. Os portugueses Cortez e Olegário ouviram, acharam estranho e obviamente disseram não. Foi este o primeiro contato daquele pequeno empresário com a Auto Viação 1001. Diante da recusa, decidiu vender seus três ônibus e as três linhas de Macaé para tentar um novo negócio em Niterói, ou no Rio de Janeiro.
Por coincidência ou ironia do destino, acabou adquirindo a mesma Viação Niterói onde havia agregado seu meio ônibus. A diferença é que, agora, dispunha de capital suficiente para comprar toda a empresa, além da sua competência de mecânico para encarar de frente a envelhecida frota de 12 ônibus.
Sucedeu então outro episódio que Jelson relembraria ao longo de toda a sua existência, e que citava toda vez que queria oferecer a algum jovem uma lição de vida. Na época, tinha apenas 23 anos de idade:
O grande sucesso de minha vida foi alavancado por um acidente em que tive a perda total de um ônibus. Eu havia comprado o veículo zero quilômetro com financiamento, mas sem seguro. O seguro era obrigatório, mas o gerente da Mesbla, muito amigo de meu irmão, a meu pedido acei-tou vender o veículo sem a cobertura de uma seguradora. Vendi esse ônibus novo, junto com uma linha, mas, 39 dias depois, o ônibus se envolveu em um acidente com um trem. Houve mortos e feridos. Entre os mortos estava o próprio comprador do ônibus. Ele perdeu a vida. Eu perdi toda a parte que ainda precisava ser paga.
Na avaliação de Jelson e de seu irmão, o maior problema não era a perda total do veículo, mas o fato de o episódio colocar em jogo o cargo daquele gerente que fora tão atencioso com ele: havia a possibilidade de vir a ser demitido por não ter cumprido a norma relativa ao seguro. Jelson
139
procurou a Mesbla e, quando lhe perguntaram como pretendia proceder com as promissórias restantes, correspondentes a mais de 80% do valor de um veículo que não existia mais, não teve dúvida e respondeu: pagaria nos vencimentos todas as parcelas. Perguntou apenas se eles concordavam que seu irmão avalizasse as promissórias como garantia de quitação da dívida.
Quando meu irmão deu o aval, tomei aquilo como ponto de honra e paguei todos os títulos antes dos vencimentos. A única coisa que eu não imaginava é que esta seria a maior alavanca do meu sucesso. Nunca mais tive problemas de crédito para comprar nada. Se a Mesbla não tinha o veí-culo que eu queria, ou na quantidade desejada, eu me dirigia a qualquer outra firma, como a Chindler Adler, por exemplo. Aí eles telefonavam para a Mesbla, informavam que eu estava querendo comprar dois, três, quatro, cinco ônibus, e o gerente da Mesbla em Niterói, Domício Corrêa, respondia: “Venda para o Jelson e receba com a gente.” Esse fato aconteceu na minha vida, não estou contando por ouvir falar.
A COMPRA DA VIAÇÃO Niterói, como pretendia Jelson, foi o ponto de partida de uma fase de crescimento real dos negócios. Concluiu que não precisava se limitar à expansão vegetativa dos serviços; podia, ao mesmo tempo, adquirir empresas, organizá-las, fazer com que se tornassem ren-táveis. Transformadas em cooperativas, elas logo eram passadas adiante. Assim acumulou capital para incorporar as empresas Expresso Rio Bonito, Expresso Itaboraí e a Transportadora Ivani. Também fez um ensaio de diversificação, montando uma concessionária Volkswagen. Além disso, criou uma empresa de maior porte, a Viação São José, que, alguns anos depois, em 1963, já era a maior do estado do Rio de Janeiro, com frota de 68 ônibus.
Decidiu então tentar o transporte interestadual de passageiros, fun-dando a Viação São Paulo–Niterói. Exatamente na sexta-feira da Semana Santa de 1963, a nova empresa iniciou a operação de sua primeira linha interestadual, ligando as cidades de Niterói e São Paulo. Era uma maneira de correr pela rota provavelmente mais rentável da época, a Via Dutra,
140
onde os vistosos ônibus da Viação Cometa e do Expresso Brasileiro des-filavam sua supremacia. Como ainda não existia a ponte Rio–Niterói, a Viação São Paulo–Niterói tinha de fazer o contorno de quase toda a Baía de Guanabara para cobrir a linha.
Levei 11 anos fazendo o contorno da Baía de Guanabara, até que, com o advento da ponte, fomos autorizados a passar por ela. Foram 11 anos de luta e de muito sacrifício. Aquilo deixava em nós uma sensação de muita inferioridade em relação ao Rio de Janeiro, pois a volta que dávamos encompridava em 80 quilômetros a viagem e encarecia a passagem em 20%. Além disso, tínhamos uma frequência muito baixa. Eu diria que foram 11 anos de abnegação.
Abnegação da qual Jelson Antunes jamais se arrependeria, porque cada dia nesse caminho significava um novo passo no sentido do cresci-mento e fortalecimento de seus negócios. Contornando dia após dia a Baía de Guanabara, ele não descuidava de observar o mercado. Em 1968, comprou não apenas um horário, como havia proposto quase duas décadas atrás, mas a Auto Viação 1001 inteira.
Foi a sexta empresa que comprei. Eram proprietários dois portugueses, Cortes e Olegário. A história da 1001 é a seguinte: eles me disseram que a empresa nasceu com eles na cidade de Jundiaí, São Paulo, em 1946, como empresa de transporte de carga. O primeiro caminhão que eles compraram, na época, recebeu emplacamento do Detran com a placa 1001. E assim a placa acabou dando nome à empresa.
Na época, portanto, Jelson Antunes já era dono de outras cinco empresas de ônibus e de uma concessionária Volkswagen. Decidiu vender a concessionária e promover a fusão das demais empresas, criando uma holding. Permaneceu apenas o nome da 1001.
Muita gente pensa que a 1001 foi um cogumelo que brotou do chão. Não. Quando eu a comprei em 1968, ela já operava transporte no estado do Rio há quase 30 anos. No nosso grupo, não era a maior, tinha 55 carros.
141
Mas na hora em que houve a fusão, ela deixou de ser uma empresa de 55 carros para ser uma empresa de 200, 300 carros.
Anos depois dessa experiência, Jelson da Costa Antunes ainda afir-mava que o crescimento via fusão pode render prestígio, mas também tem as suas desvantagens.
NA CONVERSA DE GELSON com Rúbio Gômara, em fevereiro de 1993, já fazia mais de 15 anos que a Auto Viação 1001, a cada ano, invaria-velmente figurava entre as dez maiores empresas brasileiras de transporte interestadual de passageiros do Brasil. Contudo, o empresário insistiu em deixar claro que não estava preocupado em fazer dela a maior ou a melhor. Queria, sim, que a 1001 alcançasse a dimensão que lhe fosse possibilitada pelo mercado e pela preferência dos passageiros. A frota da companhia chegara então a 500 ônibus e ela empregava cerca de 2.200 colaboradores. O mais significativo, no entanto, era a diversidade das atividades inicialmente abrigadas sob o guarda-chuva da 1001 — atividades essas que depois haviam alcançado plena e total autonomia: transporte de carga líquida, transporte de carga seca, turismo, fretamento, pecuária, construção e participação societária no ramo de distribuição de bebidas e alimentos.
Naquele dia, do alto dos seus 65 anos de idade, Jelson da Costa Antunes também fez um exercício de futurologia. Só que absolutamente equivocado:
Acho que com estas duas últimas iniciativas, a construtora e a empresa de pecuária, encerrei meu compromisso de atividades profissionais. Daqui para a frente fica por conta dos meus herdeiros.
Nada mais distante da realidade e de tudo o que o empreendedor ainda viria a realizar nos anos seguintes. O compromisso com as atividades profissionais permanecia, embora ele tivesse encerrado seu depoimento com as palavras de quem se sentia realizado e estava perfeitamente em paz com a própria consciência.
142
Não me orgulho de ter feito todos os bons negócios que poderia, mas me orgulho de ter feito os melhores negócios, no meu entendimento. Na minha empresa foi a mesma coisa: tive um perde-ganha durante muitos anos, mas o certo é que o sucesso aconteceu. Eu me considero um homem realizado, vitorioso, graças a Deus, não guardo ressentimento de ninguém. Não sei se vou morrer em breve ou vou durar muito. Despedidas, não costumo fazer de nada. Mesmo porque o transporte coletivo é uma atividade de que vou morrer gostando. Quero dizer a todos que recebam tudo o que eu disse neste depoimento como a declaração de uma pessoa que teve cinquenta anos de experiência, graças a Deus vitoriosa. Uma pessoa que, ao longo de sua tra-jetória, conseguiu ter bons e maus amigos, mas nenhum inimigo. De forma que qualquer outro, no meu lugar, após estes cinquenta anos, pode ter a própria consciência do dever cumprido. Eu me considero um homem feliz.
Em 1993, por ocasião de seu depoimento, Jelson Antunes talvez não imaginasse quanto ainda lhe caberia realizar no setor de transporte rodoviário de passageiros e em outros segmentos de negócios. Até que se concluísse a década de 1990, ele ainda iria adquirir várias empresas, entre elas a Rápido Ribeirão Preto, a Auto Viação Catarinense e a Macaense. Já no Século XXI, entre o fim de 2001 e o início de 2002, com 75 anos de idade, também compraria a empresa criada por seu amigo pessoal Tito Mascioli, legenda no transporte rodoviário de passageiros: a Viação Cometa, que ele aprendera a admirar desde os seus tempos de juventude. Em suas mãos, a companhia tomou impulso ainda maior.
Todas as companhias adquiridas mantiveram seus nomes e continua-ram funcionando de maneira independente. Para administrá-las (inclusive a Auto Viação 1001), o empresário criou a holding JCA.
Jelson da Costa Antunes morreu no dia 31 de julho de 2006, em consequência de acidente automobilístico. Na manhã do dia 30, dirigia seu carro na Rodovia Niterói-Manilha quando derrapou e saiu da pista no km 293, sentido Rio de Janeiro, em Itaboraí, cidade onde nasceu. Estava com 78 anos e continuava comandando um grupo empresarial com atuação nos ramos imobiliário, de turismo, de transporte aquaviário, de agropecuária, de táxi aéreo e, principalmente, de transporte rodoviário de passageiros.
Com pouco mais de 19, já era sócio de um irmão nesta jardineira, que ele dirigia. Também era o mecânico e cobrava as passagens.
Aos 14 anos, o menino Jelson Antunes (segundo da esquerda para a direita) era aprendiz de eletricista na Viação Cabuçu.
Na primeira metade da década de 1960, com a compra da Viação São José (50 ônibus), Jelson Antunes tornou-se grande frotista do estado do Rio de Janeiro.
Foto
s: Ac
ervo
Aut
o V
iaçã
o 10
01
Jelson da Costa Antunes
No fim da década de 1960, a 1001 trabalhava com duas marcas de carrocerias (Ciferal e Marcopolo), mas utilizava somente chassis Mercedes-Benz.
Em 1968, Jelson da Costa Antunes comprou a Viação 1001 e passou a operar a maior frota de ônibus do estado do Rio de Janeiro.
Div
ulga
ção
Foto
s: Ac
ervo
Aut
o V
iaçã
o 10
01
145
NO FIM DA DÉCADA de 1940 e nos primeiros anos da década de 1950, os motoristas de jardineiras e lotações que enfrentavam as viagens pela faixa litorânea de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, apesar de de-votos de São Cristóvão, prudentemente se pegavam também com Nossa Senhora dos Navegantes.
Eram 160 quilômetros de praia, desde o Arroio do Silva, no municí-pio de Araranguá, até Tramandaí, onde começava a estrada de terra para Porto Alegre. Como dizia Zelindro Damiani, da Empresa Santo Anjo da Guarda, fazer aquelas viagens era uma aventura. Ou, de um ângulo mais otimista, um turismo sem pressa, principalmente se a viagem fosse entre as capitais dos dois estados. O passageiro de ônibus seguia de Florianó-polis até Imbituba. Ali, embarcava em um trem da estrada de ferro Dona Thereza Cristina e rumava para Araranguá, onde tomava um segundo ônibus para enfrentar quilômetros e quilômetros de areia da praia. Com os veículos de 29 lugares — velhos Chevrolet Tigre de câmbio seco — sem-pre lotados de passageiros, os motoristas tinham que manter um olho nos arroios que apareciam a intervalos, e outro no céu, para ver se ia chover. Pois a chuva, quase sempre, era o que de pior podia acontecer: a água dos arroios aumentava com rapidez e, correndo na direção do mar, escavava valas profundas na areia. O carro chegava e não podia passar. Se tentasse, começaria a afundar. Se ficasse parado, afundaria do mesmo modo. O motorista tinha de ficar rodando em círculos até que a água baixasse, e a travessia devia ser feita mais perto da água do mar, onde os arroios ficavam mais rasos. A operação ia sendo repetida a cada novo arroio que aparecia.
empreSa Santo anJo da guarda ltda.
arnor damiani — zelindro damiani
1947
146
Também se a maré estivesse subindo, era uma temeridade querer passar. Duas transportadoras gaúchas, a Empresa Jaeger e a Empresa Glo-bo, que faziam a ligação para Porto Alegre pela praia, sabiam bem como aconteciam aqueles “naufrágios”. E não só elas. Foi numa dessas situações que, por azar ou imprudência do motorista, um ônibus da Catarinense afundou lentamente na areia para só reaparecer anos depois. E o dono da Empresa Sulamericana de Transportes em Ônibus, Octaviano da Ros, em depoimento a Rúbio Gômara, reproduzido neste livro, revelou ter perdido um veículo nessas circunstâncias:
Atolou, foi coberto pelas ondas e afundou aos poucos. Deve estar lá até hoje, não sei onde.
Zelindro Damiani conhecia bem as alternâncias do roteiro. Muitas
vezes, mesmo com tempo bom, era preciso interromper a viagem e dormir na praia:
Se a maré muito cheia não dava vazão, o motorista tinha de procurar as partes mais altas da praia, parecidas com dunas, encostar por ali e esperar. Ficava um dia, ou uma noite, às vezes até duas noites, pois não dava para continuar enquanto o tempo não melhorasse.
Segundo Zelindro Damiani, como naquele tempo não havia carroceria
de alumínio e os carros eram de madeira com chapa zincada, bastavam seis meses de uso para que estivessem todos podres. E o equipamento mais necessário nas viagens não era o macaco nem a chave de roda; eram duas pranchas grossas de madeira, além de pá e enxada. Quando a areia da praia estava mole e o ônibus começava a afundar, todo mundo tinha de saltar correndo e ajudar a colocar as duas pranchas debaixo das rodas. Com uma área de apoio maior, o carro não afundava.
Pior que tudo isso só mesmo, segundo o empresário, era a absoluta falta de comunicações. Não havia telefone, nem mesmo telégrafo. O car-ro da Santo Anjo da Guarda saía de Tubarão, da própria Guarda, ou de Porto Alegre, e os donos só iam ter notícia dele quando voltava, dois ou três dias depois.
147
Também não havia estrada para Criciúma. Viajávamos via Gravataí, Braços do Norte, Urussanga, Criciúma e Araranguá. Íamos pela praia, na batida da onda. Contando, ninguém acredita. Como era possível manter uma linha com 160 quilômetros de praia em vez de estrada?
O dono da Empresa Santo Anjo da Guarda conhecia a resposta. Havia enfrentado e vencido esse desafio desde o ano de 1951. A transportadora mantinha um horário diário nos dois sentidos entre Guarda e Porto Alegre, menos aos sábados, dia em que a linha não funcionava. Nos meses do in-verno, de junho a outubro, os horários eram reduzidos à metade e as saídas ocorriam em dias alternados. O itinerário compreendia Guarda, Tubarão, Criciúma, Forquilhinha, Araranguá, Torres, Osório, Santo Antonio e Porto Alegre, sempre pela praia. Na lembrança de Damiani, o asfalto demorou para chegar. Mas quando, enfim, foi possível viajar em estrada de terra, longe da areia, isso já representou uma segurança muito grande, além de significativo ganho de tempo.
O NOME É CURIOSO, e a história também. A Santo Anjo da Guarda foi fundada em fevereiro de 1947 por Herbert Falk, comerciante hoteleiro, alemão naturalizado brasileiro. Sócio majoritário, tinha como parceiros no negócio os comerciantes brasileiros Manoel Fernandes e Sílvio Ghizzi.
O nome da companhia foi tomado de empréstimo à localidade onde ela surgiu, Santo Anjo da Guarda, a 12 quilômetros de Tubarão, em Santa Catarina. O que havia de mais interessante no lugar eram as Termas da Guarda, frequentadas por muitos gaúchos. Falk era dono de um hotel mui-to procurado para temporadas de banhos e, como o transporte era difícil, entendeu que a melhor solução era criar uma empresa para transportar os hóspedes entre Porto Alegre e Guarda. Deu certo, mas depois de quatro anos, em 1951, Falk decidiu passar o negócio adiante e ficar só com o hotel. Os irmãos Arnor e Zelindro Damiani, que eram agentes da Santo Anjo da Guarda em Tubarão, foram os compradores: 150 mil cruzeiros, pagos em parcelas, conforme contaram a Rúbio Gômara em junho de 1994.
148
Quando eles compraram, a Santo Anjo havia estagnado e tinha só duas caminhonetes para 11 passageiros cada, além de dois ônibus já bem velhos. Uma das primeiras preocupações dos novos donos foi aumentar a frota, adquirindo ônibus em melhor estado, embora usados.Em seu escritório de representação comercial, Zelindro e Arnor vendiam passagens aéreas e rodoviárias de outras empresas, entre elas a Auto Viação Catarinense. Arnor Damiani lembrou que logo tiveram oportunidade para fazer um segundo bom negócio:
Um ou dois anos depois que compramos a Santo Anjo, a Catarinense mudou de direção. Naquela época, ela cobria desde Curitiba até Porto Alegre e os novos proprietários se assustaram com o tamanho da empresa. Como éramos agentes deles aqui em Tubarão, ofereceram-nos as linhas para o Sul, que eram Florianópolis–Laguna, Florianópolis–Tubarão e Florianópolis–Porto Alegre. Ou seja, tornamo-nos concessionários dessas linhas porque na época os novos proprietários da Catarinense acharam que não iam dar conta da empreitada.
Houve muitas outras aquisições que ajudaram no crescimento da Santo Anjo da Guarda. Além daquelas linhas da Catarinense, foram ad-quiridos o Rápido Sulino, que fazia a linha Lauro Müller–Florianópolis, a Empresa Glória, que fazia a linha Laguna–Florianópolis, e mais algumas.
Posteriormente a companhia buscou sua primeira linha interestadual regular, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Primeiro, obteve do órgão concedente de Santa Catarina, o DER, permissão para rodar até Araranguá, na divisa dos dois estados. Depois, pediu ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul —DAER — permissão para correr no trecho que ia da divisa até Porto Alegre. Em outras palavras, foi preciso fazer a conexão entre duas concessões.
Em 1971, quando saiu o primeiro Regulamento do transporte rodo-viário de passageiros do País, a Santo Anjo foi a primeira a obter registro no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER. Ela é detentora, portanto, do Certificado de Registro no 1 — uma primazia sobre todas as demais empresas do setor.
A Chevrolet Comercial foi o carro preferido por Herbert Falk (na foto, ao lado do filho e de um motorista) para enfrentar as estradas ruins.
A Chevrolet Comercial era chamada de caminhonete.
As longas jornadas pelas praias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, além de perigosas, encurtavam a vida útil dos veículos.
Foto
s: Ac
ervo
San
to A
njo
Muitos passageiros gostavam de ser
fotografados junto aos carros...
... pois eles simbolizavam o progresso da localidade e eram o elo com a capital do Estado.
A Santo Anjo da Guarda foi a primeira empresa a requerer registro no DNER.
Zelindro Damiani eArnor Damiani.
Foto
s: Ac
ervo
San
to A
njo
151
LANCES DE SORTE, ACONTECEM. E se ao lado da sorte estiver muito trabalho, as chances de que tudo dê certo são maiores.
O fundador da Empresa Planalto, José Moacyr Teixeira, beneficiou-se da conjugação desses dois fatores. No distante ano de 1956, sua empresa enfrentava o enorme desafio de viabilizar uma linha de ônibus entre as cidades de Santa Maria e Porto Alegre, toda ela por caminhos de terra que se tornavam intransitáveis se chovia e se enchiam de poeira quando fazia bom tempo. Para tornar tudo mais complicado, há anos a mesma ligação era feita por via férrea, num tempo em que ninguém sequer admitia a possibilidade de utilizar outro meio de transporte. Naquele ano, porém, houve uma greve dos ferroviários que se prolongou por mais de duas sema-nas. E então, em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, muitos passageiros habituais do trem para Porto Alegre de repente se lembraram de que, no mesmo trajeto, transitavam diariamente os teimosos ônibus da Empresa Planalto. Não que essa passagem tenha sido tão decisiva na história da empresa do ex-agricultor José Moacyr Teixeira; mas ela com certeza contribuiu enormemente para que o negócio se firmasse de forma mais rápida e, também, para que mais tarde o transporte rodoviário de passageiros assumisse totalmente o lugar do trem, do qual restou pouco mais que a imagem na memória dos antigos.
Dezenove anos antes, na localidade de Fernando Soares, onde nascera em 1914, José Moacyr Teixeira trabalhava na lavoura, cultivando principal-mente batata, milho, mandioca e arroz. Filho de pais portugueses, tinha 23 anos quando, em 1937, passou a tocar uma olaria em Picada Nova,
planalto tranSporteS ltda.
JoSé moacyr teixeira
1947
152
produzindo telhas e tijolos. Em 1942, aos 28 anos, casou-se com a jovem Norma Helga Teixeira, indo a seguir trabalhar num moinho de milho de propriedade de seu sogro.
A montagem de um armazém foi quase consequência natural da atividade no moinho, mas passou o negócio adiante três anos depois. Era o tempo da guerra e José Moacyr acreditou que teria mais sucesso se abrisse um novo armazém em Horizontina, ali perto. Só não levou a ideia adiante porque alguém ou alguma coisa chamou sua atenção para aqueles veícu-los barulhentos e sacolejantes conhecidos como jardineiras. Lembrou-se dos seus 12 anos de idade, quando, ainda na roça, aprendera a dirigir carros e caminhões e ajudara a manobrar veículos que embarcavam ou desembarcavam da balsa que fazia a travessia do Rio Taquari. Então, José Moacyr literalmente botou o carro adiante dos bois. Isto é: foi à cidade de Palmeiras e requereu a abertura de uma linha dali para a localidade de Tenente Portella. Só depois que o requerimento foi concedido — aliás, sem grandes formalidades —, o requerente saiu em busca de uma jardineira para comprar.
Parecia fácil, mas não era, e ele foi obrigado a desistir da linha.Ainda em 1944, o aspirante a empresário de ônibus teve notícia de
que em Vila Joia, no distrito de Tupanciretã, estavam à venda uma jardinei-ra e uma linha municipal. Foi até lá, fechou negócio e passou a ser dono da Empresa Joia e de um veículo Ford 1940, com carroceria de madeira, teto e sanefas de lona, bancos inteiriços, entradas laterais para cada fileira de assentos e capacidade para 25 passageiros. Dirigir durante quase três anos, entre Vila Joia e Tupanciretã, na região das Missões, esse veículo, que apresentava frequentes problemas mecânicos, foi a iniciação que deu a José Moacyr Teixeira a certeza sobre o que ele queria fazer. Com o mesmo veículo, fazia também a linha entre Vila Joia e Santo Ângelo. Sua esposa cuidava da administração e da organização do negócio.
A jardineira foi vendida em 1947, porque, já com outro negócio em perspectiva, o pequeno empresário necessitava de um ônibus mais ade-quado: havia requerido a linha de Santa Maria a Santo Ângelo.
No dia 16 de setembro de 1993, José Moacyr Teixeira foi entrevis-tado por Rúbio de Barros Gômara e contou como foram os sucessos do começo dessa linha:
153
A data-limite para a linha começar a ser operada era 3 de novembro, a partir de Santa Maria. No dia 1o, fui a Santo Ângelo buscar o ônibus, mas uma chuva muito forte me impediu de levá-lo para Santa Maria. No dia 2, Dia de Finados, fui à igreja de Santo Ângelo e mandei rezar uma missa. Dali mesmo saímos para Santa Maria, já levando passageiros. Quer dizer, foi uma viagem meio clandestina, porque o início oficial da operação só ocorreu no dia seguinte, em Santa Maria.
Esse negócio foi feito em sociedade com Antônio Burtet, Manoel
Setembrino Teixeira (seu irmão) e Fiorello Fiorin. Para escolherem o nome da empresa, combinaram que cada sócio daria uma sugestão. Pouco antes, Burtet tinha achado muito bonita uma reportagem saída no Correio do Povo onde a palavra “planalto” era citada algumas vezes. Sugeriu Planalto e os outros sócios gostaram, especialmente porque a nova empresa estava sendo implantada em Tupanciretã, na região do Planalto gaúcho.
As viagens geralmente começavam às 6 horas da manhã e só eram concluídas dez horas depois, por causa das limitações do veículo e, princi-palmente, do mau estado da estrada de chão. Dois veículos revezavam-se na linha, sendo o percurso feito num sentido em um dia, e no dia seguinte no outro. A sede da companhia ficava em Tupanciretã. O registro formal da Empresa Rodoviária Planalto Ltda. foi feito em junho de 1947.
Em 1948, pediram e obtiveram autorização para fazer a linha de Santa Maria a Santo Ângelo. No mesmo ano compraram a Empresa Tupã e passaram a operar a linha Santiago–Tupã. Um ano depois, deram início à linha para Cachoeiro.
E CHEGAMOS AO PONTO em que a Planalto requereu e obteve a li-nha de que se fala no começo desta história: a Santa Maria–Porto Alegre. Foi em dezembro de 1951 que o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul — DAER — autorizou a abertura da linha, com partidas a cada dois dias. A decisão de atingir por ônibus a ca-pital gaúcha a partir de Santa Maria poderia parecer excesso de ousadia, já
154
que as duas cidades contavam com a certeza da ligação direta por ferrovia e as estradas eram praticamente intransitáveis. José Moacyr Teixeira, no entanto, entendeu que havia espaço para a proeza.
A primeira viagem durou doze horas, e as seguintes não foram dife-rentes, pois havia toda sorte de obstáculos a vencer, conforme o próprio José Moacyr Teixeira recordou no depoimento a Rúbio Gômara:
Para fazer a linha, saíamos por dentro das colônias, usávamos as es-tradas das colônias até chegar a Cerro Chato. Ali se transpunha por balsa o Rio Jacuí para a margem esquerda e seguia-se até Cachoeira. Tomávamos café e íamos para Rio Pardo, onde o Jacuí era atravessado de novo para a margem direita. E essa não era a última travessia por balsa, pois quando se chegava a Guaíba embarcávamos naquelas barcas grandes, que levavam 45 minutos para atingir a outra margem.
A linha da Planalto era operada com ônibus Ford a gasolina. José Moacyr Teixeira contou ainda que, também nesse caso, o carro partia às seis horas da manhã para chegar às cinco da tarde — isso se tudo corresse bem, pois era quase rotina chegar-se às seis da tarde ou sete da noite, sa-cudindo poeira ou barro.
Havia que se admirar a coragem não só do transportador como dos passageiros, já que a viagem era cheia de incertezas. Por exemplo, no tre-cho de Pântano, até a chamada Mina do Rato, estava sendo construída a BR-290 e havia nada menos que 19 desvios! Três eram ainda no início do trecho; os que vinham depois eram os piores. Em pelo menos um deles, se fosse dia de chuva, veículo algum conseguia subir, nem que fosse puxado por trator. Em certas ocasiões, o ônibus saía de Porto Alegre e não con-seguia chegar a Santa Maria; a viagem era interrompida em Cachoeira, por causa do mau tempo: quando chovia forte, o porto em Cerro Chato ficava submerso. Era preciso esperar cinco, seis dias sem poder atravessar. Por todos esses problemas, o percurso tanto podia ser feito todo em ônibus como parte em ônibus e parte no transporte concorrente, o trem.
Mesmo nos trechos já mais próximos de Porto Alegre, problemas aparentemente improváveis também ocorriam, conforme narrou José Moa-cyr Teixeira:
155
No verão, quando o tempo estava bom e quente, todo mundo gostava da travessia pela barca, era uma beleza. Mas quando havia cerração, a barca se perdia no Guaíba e ficávamos uma, duas horas ali, enquanto a barca procurava identificar algum lugar para tomar o rumo. Isso aconteceu muitas vezes.
Em 1952, o DAER autorizou a Planalto a criar a linha de Santa Maria para Cachoeira do Sul. Na mesma época, os sócios Burtet, Fiorin e Setembrino decidiram se afastar e José Moacyr seguiu sozinho no negócio; aumentou a frota para cinco veículos e abriu novas linhas. Como a maior parte delas saía de Santa Maria, no ano seguinte a sede da empresa foi transferida para lá.
A Planalto Transportes soube suportar e superar todas as adversidades e continuou rodando. Mesmo em ritmo lento, o movimento de passageiros seguiu aumentando. Passaram-se cinco anos até que, em 1956, aconteceu aquele lance de sorte relacionado à greve dos ferroviários e mais pessoas perceberam que aquele meio de transporte estava ali para ficar. E não apenas como alternativa.
Em 1957, com os caminhos já melhorados, a Planalto pôs para ro-dar o seu primeiro Mercedinho, movido a diesel. Deu tão certo que logo vieram outros. Até então, o percurso para Porto Alegre era feito três vezes por semana. Com a inauguração da ponte sobre o Rio Guaíba, em 1958, e a abertura dos acessos sobre o Delta do Jacuí, as viagens se tornariam muito mais rápidas. No dia 28 de dezembro de 1958, a companhia viveu um momento histórico: pela primeira vez seus ônibus passaram pela ponte. Para se ter uma ideia da importância dessa obra, ela diminuiu em duas horas o tempo da viagem. E a Planalto ainda recebeu autorização para fazer viagens diárias, em dois horários. Só a partir daí a linha, que era quase deficitária, passou a dar retorno.
A ABERTURA DA LINHA para Porto Alegre, lá atrás, havia sido apenas o início de um processo de expansão da empresa que jamais seria interrom-
156
pido. A seriedade empresarial do fundador e a solidez do negócio faziam aumentar a confiança do DAER na Planalto e abriam caminho para que seus pleitos fossem atendidos. Em 1960, ela obteve permissão para iniciar a linha Alegrete–São Leopoldo–Porto Alegre. Foi sua primeira linha longa e exigia duas travessias por balsa, uma em Ibicuí e outra em Manoel Viana. No ano seguinte, começou a operar também a linha para São Borja.
Nessa altura, a empresa já começara a usar exclusivamente ônibus da marca Mercedes-Benz, encarroçados ou monoblocos. Mesmo em seus primeiros anos, a Planalto sempre preferiu usar poucas marcas de carros.
Nem sempre as pessoas acreditam quando os mais antigos afirmam que muitas empresas pioneiras chegaram a construir pontes ou consertar estradas para poder levar adiante sua tarefa de transportar gente. Pois foi o que a Planalto fez em 1961 para poder operar a linha Porto Alegre–São Gabriel. Originalmente, o percurso era coberto pela empresa Rainha da Fronteira; e a estrada era muito ruim. Principalmente na chegada a São Gabriel, havia três subidas sucessivas em que, se chovia, os ônibus passavam horas tentando inutilmente vencer os atoleiros. Só puxados saíam do lugar.
Por causa disso — relembrou José Moacyr Teixeira —, a Rainha da Fronteira começou a falhar. Levava os passageiros até Caçapava e desistia. O DAER cassou a concessão, que ainda era a título experimental. Como nós fazíamos a linha Santa Maria–Porto Alegre e passávamos por Caçapava para pegar a BR-290, isso nos deu a preferência para executar a São Gabriel. O DAER perguntou se a linha nos interessava. Respondemos que sim e pas-samos a fazer a operação. Tivemos sorte, porque depois a estrada melhorou. Mas não ficamos esperando acontecer: durante mais de dois meses, usamos um caminhão emprestado pela empresa Menegucci para transportar vários carregamentos de pedras, que mandamos colocar naquele trecho crítico. Com a estrada empedrada, o ônibus não tinha problema para subir.
Onde uma concorrente falhou, a Planalto teve sucesso. Optou por enfrentar o problema e resolvê-lo sem ter que ficar esperando indefini-damente pela improvável intervenção do poder público. Pode ter sido só coincidência, mas uma década depois a Rainha da Fronteira passaria ao controle da empresa de José Moacyr Teixeira. O empréstimo do caminhão
157
também tivera a sua história. A Planalto costumava transportar encomen-das da Menegucci para a sede da empresa em Porto Alegre, sem cobrar um centavo. Em retribuição, quando um ônibus atolava, a empreiteira mandava um caminhão para resolver o problema. Na época, nenhuma das estradas utilizadas para cobrir aquelas linhas era pavimentada. O asfalto só chegou em 1962, com a BR-290. Em 1965, a Planalto passou a fazer linha para Uruguaiana.
A primeira sede própria foi comprada em 1965, reformada a seguir e ocupada em 1966. Futuramente, os diversos setores seriam centralizados em Santa Maria, a 292 quilômetros de Porto Alegre.
A compra da Rainha da Fronteira, em 1970, tinha um objetivo es-tratégico: chegar à cidade de Rio Grande. Era uma aposta de José Moa cyr Teixeira no desenvolvimento do porto e uma previsão que se confirmaria depois de alguns anos. Mas também nessa linha foi necessário suprir a ausência do poder público.
A estrada? Vou dizer uma coisa, também tivemos que fazer muito conserto. Ali perto de Santaninha de Boa Vista tinha um local que foi afundando, a água brotava da estrada. Nós conhecíamos o prefeito de lá e ajudamos a encher aquilo de pedra e a cavar valas nas laterais para escoar a água — disse o empresário.
O período até 1972 trouxe uma mudança importante no eixo principal das operações, que passaram a ter Porto Alegre como ponto de origem, em direção a diversas outras cidades gaúchas.
O ingresso da companhia na área de turismo deu-se em 1973, quando ela estava completando 25 anos de existência. Foi criada a Planalto Tu-rismo, que assumiu todas as operações nessa área. Em razão de convênios com as cooperativas Cotricruzi (Cruz Alta) e Coogropã (Tupanciretã), a Planalto Turismo passou a fazer uma viagem semanal entre Santa Maria e Barreiras (Bahia). Mais tarde, a frequência foi aumentada para quatro viagens por semana.
O início da Planalto nas operações internacionais foi delineado a partir de 1975, com a aquisição da Expresso Panambi, que fazia as linhas Santa Maria–Cruz Alta, Santa Maria–Panambi, Santa Maria–Santo Ân-
158
gelo. Em seguida foram compradas as empresas Santa Maria e Júlio de Castilhos e, depois, em 1980, o Expresso Barim, que fazia Santa Maria–Livramento, Santa Maria–Rosário, Santa Maria–São Gabriel, Santa Ma-ria–Guaraí e Santa Maria–Montevidéu. Estabeleceram-se assim as linhas internacionais Santa Maria–Montevidéu, Panambi–Montevidéu e Porto Alegre–Montevidéu.
Depois, foi requerida a Uruguaiana–Paissandu; para realizar a viagem, era preciso costear o Rio Uruguai. Posteriormente, seriam acrescentadas às operações da Planalto algumas linhas internacionais de temporada de verão, como Camboriú–Córdoba, Camboriú–Rosário e Camboriú–Santa Fé. Seguiram-se outras aquisições e incorporações, entre elas as da Expresso ABC, Expresso Albatroz e Expresso Princesa.
José Moacyr Teixeira e dona Norma Helga Teixeira tiveram dez filhos. Em um ou outro momento, todos eles trabalharam na empresa.
Em 1993, ao ser entrevistado por Rúbio Gômara, fazia quatro anos que José Moacyr Teixeira tinha transferido para seus filhos o comando da empresa. Ao se afastar, estava com 75 anos de idade. Mas não saiu para se aposentar. Além de manter as funções de conselheiro na Planalto, passou a administrar a empresa agropecuária Cabanha JMT, em São Gabriel, Rio Grande do Sul. Transformou-a em estabelecimento-modelo dedica-do ao desenvolvimento da linhagem de gado Brangus. Seus filhos deram sequência às atividades de transporte rodoviário de passageiros e ao plano de diversificação iniciado nos anos 1980. Sob a administração da holding JMT Administração e Participações Ltda., o Grupo JMT adquiriu estações rodoviárias nas cidades de Alegrete, Uruguaiana, São Borja e Rio Grande; fortaleceu o setor de cargas e encomendas com a Planalto Encomendas; ampliou para três unidades a Veísa (rede de concessionárias Mercedes--Benz) e criou a NHT Linhas Aéreas, de aviação regional.
Os carros utilizados pela Planalto em suas primeiras linhas, como este, de 1948, ...
... ou este, de 1950, eram da marca Ford e movidos a gasolina.
Carro Ford 1950. A ampliação da capacidade dos veículos veio como resposta ao aumento da demanda de passageiros.
Foto
s: Ac
ervo
Pla
nalto
No princípio, havia até duas travessias por balsa em cada viagem. As jornadas tinham de ser interrompidas sempre que chovia e as águas dos rios subiam excessivamente.
José Moacyr Teixeira
Em 1957, a Planalto passou a utilizar o ônibus a diesel Mercedes-Benz O 312, lançado pela montadora no ano anterior. No Sul, tinha o apelido de Bicudinho.
Foto
s: Ac
ervo
Pla
nalto
161
NO PRIMEIRO CONTATO do mineiro Dimas José da Silva com o uni-verso do ônibus, ele estava do outro lado do balcão. Trabalhava com um tio numa concessionária Chevrolet na cidade de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, onde eram comercializados caminhões, automóveis e peruas da marca. Na época, era comum que peruas também fossem utilizadas como lotação. Quanto aos pequenos caminhões, alguns eram igualmente transformados em jardineiras. Estar ali, no meio daqueles poucos veículos, ouvindo de vez em quando o ronco dos motores, respirando fumaça e sen-tindo cheiro de gasolina, era tudo quanto o rapaz podia querer. Não podia imaginar que nas seis ou sete décadas seguintes iria ampliar enormemente aquele universo e tornar-se um grande empresário do setor de transporte rodoviário de passageiros.
Em 1948, já com nove anos “de casa” e 24 de idade, como o vo-lume de vendas continuava aumentando, o jovem Dimas concluiu que transportar passageiros só podia ser um bom negócio. E assim, fundou a empresa Expresso de Luxo Silva. Seguiu os trâmites usuais da época: pri-meiro encomendou um chassi de caminhão Chevrolet na General Motors e, quando ficou pronto, viajou até São Caetano do Sul (SP), onde ficava a fábrica, para retirar o veículo. O chassi saía da montadora totalmente “pelado”, como se dizia, sem para-brisa e com um banco de madeira à guisa de assento. Dirigindo nessas condições, vestindo uma capa de chuva, usando chapéu de couro e óculos, Dimas fez em três dias a viagem entre São Caetano e Belo Horizonte. Era dezembro, chovia muito e praticamente não havia estrada. Na capital mineira, mandou instalar a carroceria, que era
expreSSo de luxo Silva
dimaS JoSé da Silva
1948
162
totalmente de madeira. Vidro, só no improvisado para-brisa. Nas janelas, apenas sanefas de lona.
Dois anos depois, em 1950, a General Motors lançou o seu chassi para ônibus e decretou — pelo menos formalmente — o fim das jardineiras. Ao fornecer o produto à rede de concessionárias, a montadora instruía seus revendedores a não usarem o termo “jardineira” quando se referissem a ele. Deveria ser chamado de “ônibus”, tal como se fazia nos Estados Unidos, mesmo sabendo-se que logo iriam receber aquela pequena carroceria que todo mundo teimava em continuar chamando de jardineira.
A relação com o tio vinha de longe. Estava com 15 anos quando ingressou na empresa na condição de aprendiz, em 1939. Bastaram dois anos para que o tio notasse suas qualidades de comerciante e lhe oferecesse sociedade, que duraria até 1956, quando comprou uma revenda Chevro-let só para ele, na cidade próxima de Patrocínio. Dimas mudou-se para lá e tornou-se rapidamente um grande vendedor de veículos da GM. Na relação dos seus clientes de ônibus estavam, por exemplo, Odilon Santos (Araguarina), Abílio Gontijo, Derci Gonçalves (Pará de Minas), José Pe-reira (futura Pássaro Verde) e muitos outros. Por três anos consecutivos, sua concessionária foi a maior vendedora da marca em Minas Gerais. Em um desses anos, foi também a maior do Brasil.
No testemunho de Dimas da Silva, o ônibus GM foi “um produto de muito boa aceitação”, que abasteceu satisfatoriamente o mercado bra-sileiro entre 1950 e 1961, quando, cedendo à concorrência dos veículos a diesel da Mercedes-Benz, teve sua produção encerrada. A diferença era tão grande que Dimas, mesmo sendo revendedor Chevrolet, mandou mon-tar uma carroceria GM sobre um chassi de ônibus Mercedes-Benz para experimentar. Segundo disse, obteve um resultado “espetacular” na parte de consumo de combustível. “Adaptei para meu uso e não para vender”, explicou. O veículo híbrido foi usado pela Expresso de Luxo Silva na linha de Carmo do Paranaíba a Patos de Minas. Ainda estava lá quando Dimas da Silva passou a empresa adiante, no ano seguinte.
Mas é preciso voltar no tempo para saber que, em 1958, já em Pa-trocínio, Dimas da Silva fundou o Expresso União, empresa que continua atuando nos dias de hoje, agora nas mãos do empresário Nenê Constantino. Tanto ao criar o Expresso de Luxo Silva como ao fundar o Expresso União,
163
Dimas chamou alguns de seus irmãos para o ajudarem a tocar o negócio. Com isso, começou a desenvolver o estilo de atuação empresarial que o acompanharia por toda sua vida. Nos 50 anos seguintes, foi sempre um grande comprador e vendedor de empresas de ônibus. Principalmente, soube montar e implementar muitas empresas, sempre arrebanhando inú-meros sócios — ou parceiros, na sua definição preferida. Entrevistado para este livro, garantiu que, sozinho, não era dono de uma única empresa e declarou sua preferência por incluir sistematicamente um ou mais sócios na montagem de cada negócio, ou mesmo na compra de um já montado:
Conheço pessoas que gostam de trabalhar sozinhas. Preferem comandar tudo e dizer que é tudo deles. Mas não é o meu caso, prefiro ter mais gente à minha volta, ter sócios e companheiros. Sempre os meus empreendimentos em empresa foram com sócios. Eu fiz sempre assim. Entrava com a parte principal da negociação, porque tinha mais idade, mais experiência. Geral-mente, os outros sócios eram gente que trabalhava comigo. Eu punha cada um em uma empresa. Já houve casos em que cheguei a financiar as cotas de profissionais que eu fiz questão de tomar como sócios. Para a gente trabalhar numa empresa e trabalhar bem, é importante ter interesse. E quem tem mais interesse do que o dono? Quando a gente é dona do boi, pega o bicho pelo chifre, diziam os antigos.
Outro motivo, de ordem prática, foi ter chegado à conclusão de que, sozinho, provavelmente não daria conta de administrar diretamente tantos negócios. Então olhava em volta e enxergava condições para fazer de um ou outro amigo ou funcionário um possível sócio. Muitos desses negócios deram certo; outros, não. Os que não deram certo foram logo resolvidos. Os bem-sucedidos continuaram, ele sempre à frente dos empreendimentos e na condição de sócio majoritário. No setor de transporte de passageiros não é difícil encontrar empresários que, em um ou outro momento, foram sócios desse mineiro nascido na pequena Guarda-Mor no ano de 1926, sétimo filho de uma família de doze irmãos.
A relação das sociedades chegou a ser quase tão grande quanto a lista de amigos. Na Bahia, por exemplo, foram cinco diferentes sociedades. Em Belo Horizonte, duas (Pássaro Verde e Viação Presidente). Em Presidente
164
Prudente (SP), uma (Empresa Andorinha). Em Tatuí (SP), mais uma, urba-na. Em Umuarama (PR), mais outra, também urbana, assim como em São João del Rei (MG). Acrescentem-se à lista mais umas tantas empresas de operação exclusivamente urbana. Como único fundador, ele abriu quatro companhias: Expresso de Luxo Silva, Expresso União, Rápido Transilva e Viação Presidente, para as quais logo cuidou de encontrar alguns parceiros.
Como é sabido no setor de transporte rodoviário, cada um dos seg-mentos — urbano, intermunicipal, interestadual-internacional — deve ser operado à sua própria maneira. Participar de tantas empresas com diferentes formas de atuação nunca foi problema para Dimas José da Silva. Na sua maneira de ver, a diversificação sempre foi uma necessidade, devido às variações de rentabilidade de cada um dos segmentos. Como no Brasil as tarifas são fixadas pelos poderes municipal, estadual e federal, as polí-ticas tarifárias costumam mudar de governo para governo. Dimas sempre considerou que atuar nos três níveis é uma forma de buscar o equilíbrio dos negócios.
Em seu depoimento, também deu algumas indicações de como conseguiu manter sempre uma boa relação com tantos e tão diferentes parceiros:
É preciso ter uma certa tolerância, uma certa habilidade, uma cer-ta diplomacia, senão você acaba dando trombadas a toda hora. Não vou dizer que não tive trombadas. Tive alguns desentendimentos, mas sempre achei que é preciso ter bom-senso para lidar com as pessoas e para resolver os problemas. Não se pode deixar que um eventual atrito possa prejudicar o negócio. Por que acabar com um negócio por conta de uma desavença?
Mesmo as desavenças sempre podem ser superadas, pelo menos no modo de ver do empreendedor Dimas José da Silva. Uma de suas histórias prediletas para ilustrar a receita do administrador de conflitos envolveu a Andorinha e uma outra empresa que, em determinado momento, teria invadido sua área de atuação no sul do estado de Mato Grosso. Apelos, reclamações e recursos ao poder concedente não surtiram efeito e as duas companhias continuaram se desentendendo. Um dia, cansado da penden-ga, Dimas ponderou aos seus sócios na Andorinha: “O melhor é a gente
165
se unir”. Procurou a concorrente e propôs que criassem em parceria uma terceira empresa, que já nasceria com 150 ônibus da Andorinha e 250 da outra, sendo a participação societária de 50% para cada uma. No caso, os 100 ônibus a mais exigidos da concorrente e a seguir divididos por dois constituiriam a indenização pelas eventuais perdas da Andorinha. A pro-posta foi aceita e a terceira empresa vai muito bem, obrigado.
Dialogar, combinar tudo previamente, é a forma de agir de Dimas José da Silva. Com frequência, ele costuma lembrar aos seus interlocutores que existem terceiros interessados. Uma de suas frases prediletas:
O que é bom, é bom para todos. O que é bom para um só não funciona. No nosso negócio, as coisas têm que ser boas para nós, sócios, e boas também para os nossos usuários, aqueles aos quais nós servimos.
Conforme disse no seu depoimento, a compra da Empresa de Trans-portes Andorinha por dois grupos de empresários, articulada por ele em 1967, seguiu exatamente esse figurino. Primeiro, juntou-se a alguns outros sócios para definirem quanto estavam dispostos a investir. Em seguida, buscou o sócio minoritário da Andorinha e acertou a compra de seus 40% de ações. Por fim, a tarefa mais delicada e mais difícil: conversar com José Lemes Soares, fundador da Andorinha e um dos pioneiros do transporte rodoviário de passageiros no Brasil. Na conversa, adiantou que seu grupo, por ser numeroso, somente se interessava pela compra da maioria das ações. A resposta do fundador foi direta, bem ao seu estilo:
Vou lhe contar o segredo desta negociação: ficará com esta empresa quem me deixar dentro do negócio. Quem quiser me tirar não vai receber.
José Lemes tinha 59% das ações e, diante da concordância de Dimas da Silva em mantê-lo no negócio, inclusive na condição de presidente da Andorinha, aceitou se desfazer de 29%.
Posteriormente, assumiu o cargo seu filho Walter Lemes Soares, que foi sucedido, anos à frente, por Walter Lemes Filho. Desde o início, o controle acionário foi dividido igualmente entre a família Lemes, o grupo de Dimas José da Silva e o grupo de Paulo Constantino. Essa estrutura se
166
projetou no tempo e resultou no contínuo desenvolvimento da Andorinha, ano após ano. Como disse Dimas José da Silva:
Todo negócio é bom, depende de quem toca e como toca. O meu lema é tocar bem, o melhor possível. E obter resultados sem dar prejuízo aos outros e preservando os seus direitos.
O fato de ter interesses em muitas empresas geograficamente distantes umas das outras, e seu jeito todo pessoal de administrar — que não pres-cinde do “olho no olho” —, faz com que esteja sempre viajando. Nunca se afasta do cronograma: uma visita mensal a Belo Horizonte, Presidente Prudente e Salvador. A cada três meses, uma visita a Fortaleza. De dois em dois meses, visitas a Marília, Tatuí e Umuarama. Finalmente, a cada 15 dias, uma visita a São Paulo e, muito raramente, uma viagem a Brasí-lia. Alguém fez um balanço e concluiu que por um período de dez anos consecutivos Dimas da Silva manteve uma média superior a 90 viagens por ano — cerca de sete ou oito por mês.
No início, utilizava aviões de carreira para seus deslocamentos. Mais tarde adquiriu um avião particular. Passados alguns anos, voltou aos aviões de carreira que, por serem grandes, dificilmente deixam de pousar nos aeroportos programados, mesmo quando as condições meteorológicas não são as ideais.
Ao avaliar sua trajetória como empresário, Dimas José da Silva des-tacou como os dois fatores mais importantes para seu sucesso o empenho contínuo em prestar o melhor serviço e sua filosofia de sempre buscar par-ceiros para fazer em conjunto tudo o que outros preferiam fazer sozinhos.
Em tudo o que a gente organizou, sempre me dediquei a oferecer garra, pontualidade e bons serviços, porque através disso vem a preferência e, como consequência, o sucesso. Desde criança trabalhei com sociedade, e me dei bem porque assim a gente aproveita quem quer trabalhar.
Dimas da Silva (de terno escuro) em frente à sua revenda Chevrolet em Patrocínio.
A Patroauto despertou a vocação de Dimas José da Silva para o
transporte rodoviário de passageiros.
O sucesso da linha para Belo Horizonte consolidou o interesse do empresário (de óculos escuros) pela atividade. Ele nunca mais se afastou dela.
Foto
s: ac
ervo
Dim
as d
a Si
lva
Ônibus da Viação Presidente, de Belo Horizonte, uma das muitas empresas que Dimas da Silva fundou ou das quais se tornou acionista.
Dimas José da Silva
Foto
s: Ac
ervo
AB
RAT
I
169
JOSÉ LEMES SOARES ERA um realizador. Um homem de ação que jamais se contentava em fazer simplesmente bem feito; que sempre pro-curava ir além das possibilidades evidentes, experimentando, mudando de rumo quando necessário, retomando, se fosse preciso, tudo aquilo que fora mal iniciado.
Se fosse se conformar com o que a vida lhe deu de início, na pequena São Simão, interior do estado de São Paulo, onde nasceu, provavelmente seria lavrador a vida inteira. Ao invés disso, tão logo teve oportunidade, tratou de aprender a dirigir; deixou a lida no campo e, sem temer o endivi-damento, comprou seu primeiro caminhão. Com ele, passou a transportar madeira e café, serviço em que se ocupou por alguns anos, até se convencer de que uma de suas principais qualidades era saber lidar com as pessoas. E, sendo assim, podia perfeitamente trabalhar com táxi. Nesse tempo, José Lemes Soares morava na cidade de Tupã, no interior do estado de São Paulo; havia se casado e tentara ganhar a vida em algumas outras cidades do oeste paulista.
Foi em Tupã que José Lemes Soares tomou gosto pela atividade de transportar pessoas. No dia em que resolveu passar o táxi adiante, foi porque decidira comprar sua primeira jardineira. Com o veículo quase sempre lotado, passou a atender boa parte da região. Mas esta ainda não seria sua experiência definitiva na atividade. A inquietação e a disposição de trabalhar pela sua cidade levou-o a lançar-se na política. Candidatou-se a vereador e elegeu-se com boa votação. Mais tarde, tornou-se presidente da Câmara Municipal. O passo seguinte foi a candidatura vitoriosa a pre-
empreSa de tranSporteS andorinha S. a.
JoSé lemeS SoareS
1948
170
feito de Tupã. Cumpriu o primeiro mandato e os amigos o convenceram a tentar um segundo. Não teve problemas para ser reeleito. Muitos anos depois de haver dado por concluído seu trabalho, ainda havia na cidade quem se lembrasse de suas virtudes como administrador. Naquela época, elas lhe haviam permitido fazer da cidade um dos municípios de maior desenvolvimento do interior de São Paulo. O fato, aliás, foi reconhecido até pelo governo federal, que lhe conferiu um diploma, recebido das mãos do próprio presidente da época, Juscelino Kubitschek.
Com Juscelino, José Lemes Soares dividia uma paixão: o rodovia-rismo. Ou, caso se queira ir além, a finalidade última do rodoviarismo, que seria o transporte. No caso de José Lemes, transporte de pessoas. Foi em nome dessa paixão que, algum tempo depois de ter passado pelo mais alto cargo da política municipal em Tupã, decidiu se transferir para uma cidade maior, na mesma região, Presidente Prudente.
Ia de caso pensado. Há alguns anos vinha observando a forte voca-ção de Prudente para crescer no rumo de transformar-se em um dos mais importantes polos de desenvolvimento de todo o oeste paulista. Também não deixou de notar que uma das carências da cidade era a falta de melhor transporte de passageiros. Quem chegava a Presidente Prudente vinha de trem, pela Estrada de Ferro Sorocabana. Quem viajava para fora, embar-cava nele.
Enquanto isso, a economia do País potencializava o impulso iniciado no fim da Segunda Guerra Mundial. O governo do estado de São Paulo investia na construção de estradas, asfaltava outras e procurava melhorar as condições de tráfego daquelas que permaneciam de terra. Nas regiões mais próximas à capital, o ônibus impunha sua presença, dividindo com a estrada de ferro a preferência dos passageiros e, cada vez mais, explorando vantagens como rapidez, flexibilidade e comodidade. Enquanto as compo-sições férreas, presas a traçados extremamente dependentes da topografia, tinham de dar voltas e mais voltas para chegar ao seu destino, interrom-pendo a viagem para recolher passageiros em cada pequena estação, os ônibus faziam um percurso menos tortuoso, mais direto e ágil, chegando na frente e desembarcando os usuários quase sempre no centro das cidades.
Nada disso passou despercebido a José Lemes Soares, que anteviu claramente a mudança da matriz de transportes de passageiros do País.
171
Portanto, em 1948, ele chegava a Presidente Prudente para empreender o grande salto de sua vida. Estava com 35 anos de idade. Procurou sócios e encontrou-os nas pessoas de Sérgio Lopes da Silva, recém-chegado como ele, e de Antônio Pissinin, na época detentor de duas linhas de ônibus de pequeno curso. Uma ligava Prudente a Presidente Venceslau, a outra a Porecatu, ambas localidades próximas. Fizeram um acordo e no dia 5 de junho de 1948 registraram uma nova empresa, denominada Empresa Andorinha — de Silva, Pissinin e Cia. Ltda. Mais tarde, Pissinin deixaria a empresa e em seu lugar seria admitido como sócio Walter Montanha.
Trataram de melhorar o serviço oferecido aos usuários das cidades servidas por aquelas duas linhas. Algum tempo depois, renovaram o equipa-mento. Os passageiros começaram a aumentar e a fixar o nome Andorinha. Dinâmico, José Lemes Soares trabalhava na prospecção de oportunidades de expansão. À medida que elas surgiam ou eram criadas pela empresa, iam sendo aproveitadas para impulsionar seu crescimento. A empresa estava sempre requerendo ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem autorização para implementar novos serviços.
DURANTE A DÉCADA de 1950, a Andorinha firmou-se como uma das mais sólidas e bem-estruturadas empresas regionais do País. Na fase se-guinte, passou a levar os seus serviços a vários outros estados, já agora em passo mais cadenciado, pois a situação da economia vinha atravessando algumas turbulências que se prolongavam pelos anos de instabilidade ins-titucional do País.
Nesse período, a Andorinha promoveu algumas alterações acioná-rias. Em 1967, desligaram-se da empresa Pedro Cassemiro da Motta e o fundador Sérgio Lopes da Silva. Foram substituídos por um grupo de empresários mineiros liderados por Dimas José da Silva e integrado por Paulo Constantino, Constantino de Oliveira e Hélio Rezende de Miranda. A denominação da companhia também mudou, passando a ser Empresa de Transportes Andorinha.
Cinco anos mais tarde, em 1972, para atender a aspectos de funcio-nalidade e agilidade na gestão, a posição acionária passou por novo pro-
172
cesso de consolidação, sendo definidos três grupos de acionistas. Depois, ainda na década de 1970, a Andorinha passou a figurar na relação das dez maiores empresas do setor de transporte de passageiros do País, levando suas linhas a vários estados e neles estabelecendo invejável infraestrutura de agências e garagens, além de gerar um número crescente de novos em-pregos. Cidades como Paranavaí, Maringá, Presidente Epitácio, São José do Rio Preto, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Corumbá e Campo Grande foram algumas a receber essas garagens. No caso de Campo Grande, a Andorinha implantou ali uma de suas maiores e mais completas instalações.
Em 1994, quando Rúbio de Barros Gômara concluiu os levantamentos e entrevistas para a produção deste livro, a Andorinha estava presente em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rondônia. Era detentora da linha internacional mais longa do País, ligando Puerto Suarez (Bolívia) ao Rio de Janeiro, com quase 2.000 quilômetros de extensão.
A empresa já estava sendo dirigida por Walter Lemes Soares, filho de José Lemes Soares. A terceira geração da família começava a prestar serviços, com a presença de Walter Lemes Soares Júnior, neto do fundador. Anos mais tarde, Walter Lemes Soares se tornaria o primeiro presidente da ABRATI.
Também na década de 1970: a expansão das linhas da Andorinha para o estado de Mato Grosso, que ainda exigia travessias em grandes balsas como esta.
Uma das primeiras jardineiras da empresa foi montada sobre um Chevrolet Gigante.
Nos anos 1970, o orgulhoso registro
fotográfico da elegância das jovens
à frente de dois modernos ônibus
da empresa.
Foto
s: Ac
ervo
And
orin
ha
José Lemes Soares
Operando em regiões de forte calor na maior parte do ano, a empresa foi uma das primeiras a instalar equipamentos de ar-condicionado nos ônibus.
Outro avanço importante: os carros de três eixos, postos para rodar inclusive em estradas não asfaltadas.
Nos anos 1960, as operações de turismo da Andorinha eram feitas no ônibus Mercedes-Benz O 320.
Foto
s: Ac
ervo
And
orin
ha
175
EM 1930, VIGORAVA NA ITÁLIA o regime fascista, chefiado pelo en-tão primeiro-ministro Benito Mussolini, que, desde 1922, governava com poderes absolutos. Autoinvestido do título de Duce (chefe, aquele que comanda), Mussolini colocara-se à frente de um bem-sucedido esforço de recuperação da economia italiana, simultâneo a um processo de forte e autoritário fechamento político. Ex-jornalista, bom orador, hábil mani-pulador da propaganda, havia fundado o então poderoso Partido Nacional Fascista, com origem no movimento Fasci Italiani di Combatimento, que ele próprio criara em 1919.
Em poucos anos de regime fascista, enquanto a economia do país se fortalecia, todos os movimentos de oposição tinham sido declarados ilegais. E os ideais fascistas também se expandiam mundo afora.
No Brasil, onde vivia grande contingente de imigrantes italianos (mais de 1 milhão e 300 mil no fim da década de 1920), o apelo do fascis-mo despertava curiosidade e entusiasmo em relação ao regime da Itália e encontrava acolhida em variados segmentos da sociedade, até como forma de se contrapor à crescente mobilização da esquerda brasileira em torno de teses socialistas ou comunistas.
As relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Itália estavam em seu melhor nível quando, em outubro de 1930, o presidente cons-titucional do Brasil, Washington Luís, foi afastado do poder por forças militares comandadas por Getúlio Vargas. Era a chamada Revolução de 1930, que, no entanto, não afetou um projeto, proposto pelo governo ita-liano e aceito pelo governo brasileiro pouco antes da queda de Washington
viação cometa S. a.
tito maScioli — arthur brandi
1948
176
Luís: promover um inédito cruzeiro aéreo entre Roma e Rio de Janeiro, o qual, diga-se de passagem, atendia ao culto à máquina e, especialmente, à indústria aeronáutica, duas das marcas da chamada Nova Itália de Mus-solini. Travessias do Oceano Atlântico haviam sido concretizadas em voos solitários. Agora, pela primeira vez na história, 14 hidroaviões produzidos na Itália voariam em formação da Europa até tocarem a orla marítima do Nordeste brasileiro. Benito Mussolini tinha pressa em consumar o novo feito propagandístico.
Na noite de 17 de dezembro daquele ano, enquanto, no Brasil, Vargas acabara de se instalar na chefia do governo, quatro esquadrilhas de hidro aviões Savoia Marchetti S-55 A (o “A” era de Atlântico), bimotores a hélice, do tipo bombardeiro marítimo, totalizando 14 aparelhos e 56 homens, levantaram voo da base naval de Orbetello, nas proximidades de Roma. Voariam 10.500 quilômetros até o Rio de Janeiro, com escalas em Cartagena, Kenitra, Villa Cisneros, Bolama, Natal e Salvador, alcançando três continentes: Europa, África e América. Para a época, era uma distância enorme, que as condições adversas da travessia transformavam em desafio.
Cada esquadrilha era identificada por uma cor: Negra, Branca, Ver-melha e Verde. Os aviões haviam sido preparados para receber 5.420 litros de gasolina cada um, e a velocidade prevista era de 170 a 210 quilômetros por hora. Comandava a expedição o próprio ministro da Aeronáutica ita-liano, general Italo Balbo, então com 35 anos.
No avião batizado de “Icalo”, pertencente à Esquadrilha Verde, in-tegrava a tripulação o jovem radiotelegrafista Tito Mascioli, aviador R. T. (Técnico Aeronáutico), de quem se ouvirá falar mais tarde. Sua função era de importância vital para o desempenho da Esquadrilha Verde, cujos aviões, além da comunicação entre si, ainda deviam estar em contato com os aparelhos das demais formações e com a esquadra de oito navios cruzadores distribuídos no Atlântico ao longo da rota estabelecida.
As quatro primeiras escalas foram cumpridas sem problemas. Porém, a partida noturna de Bolama, já na costa africana, rumo a Natal, resultou extremamente acidentada. Um dos aviões capotou, matando um mecâni-co e ferindo três tripulantes. Os demais aparelhos seguiram viagem, mas, cerca de dez minutos depois, outro caiu no mar e explodiu, matando seus quatro tripulantes. Ao pousar na água para prestar socorro aos acidenta-
177
dos, um terceiro chocou-se com o navio de salvamento e afundou. Cinco tripulantes e três aparelhos foram perdidos.
Os 11 restantes amerissaram em Natal no dia 6 de janeiro, depois de fazer em dezoito horas a travessia desde Bolama.
A recepção calorosa na capital do Rio Grande do Norte, a extensa programação e o enorme alvoroço causado pela presença da esquadrilha italiana transformaram as perdas em detalhe pouco ou nunca mencionado nas entrevistas. Logo foram relegadas à condição de “incidentes”. Dezenas de jornalistas, muitos deles estrangeiros, que haviam se deslocado para Na-tal a fim de cobrir a chegada da esquadrilha, juntaram-se aos profissionais locais para enaltecer a qualidade e a beleza dos aviões e, ainda mais, a dimensão do inédito feito aviatório. Quanto aos visitantes, o mínimo que dizia se deles, na linguagem pomposa do jornalismo tupiniquim, é que se tratava de “um pugilo de heroicos soldados do ar”.
Sucederam-se cinco dias de homenagens, discursos, coletivas de imprensa e preparativos para retomada da viagem. O general Balbo ainda passaria pela contrariedade de ter um de seus aviões abalroado na água por um rebocador. Como os reparos se prolongariam por alguns dias, o aparelho ficou retido em Natal. A 11 de janeiro, a esquadrilha levantou voo rumo a Salvador, Bahia. De passagem, sobrevoou a capital da Paraíba e, depois, o Recife, deixando cair, nas duas ocasiões, mensagens de saudação a paraibanos e pernambucanos.
Perto do que aconteceu em Salvador, a agitação de Natal ficaria parecendo uma convenção de religiosas. A imprensa do Rio de Janeiro esqueceu a rivalidade e repercutiu, com entusiasmo, o sucesso da presença dos italianos na capital baiana. O habitualmente sóbrio Correio da Manhã não deixou por menos em sua principal manchete de primeira página:
AVE, ROMA! É MAIS UMA VEZ O PRESTÍGIO INCONTROLÁVEL DA ALMA LATINA QUE SE AFIRMA NO UNIVERSO ATRAVÉS O VALOR SECULAR DO POVO ITALIANO.
E foi esse, precisamente, o tom da caudalosa oratória que os visitan-tes — feliz ou infelizmente pouco versados no idioma da terra — tiveram
178
de ouvir do momento da chegada à Bahia até a hora da partida, quatro dias mais tarde.
O que ninguém podia esperar é que, já no dia imediato, segunda--feira, a proverbial hospitalidade dos baianos pudesse involuntariamente abater um daqueles heróis e, o que é pior, o mais ilustre deles. Pois, con-forme puderam atestar despachos telegráficos disparados da capital da Boa Terra, o general Balbo, envolvido com sua missão de oferecer ao mundo “um testemunho eloquentíssimo do valor civilizador da Itália moderna” (conforme o citado Correio da Manhã), teria talvez se entusiasmado além da conta quando confrontou um apetitoso vatapá. Capitulou.
O certo é que, no dia 14, perdida no meio de outras notícias, uma pequena nota do Correio informava, em título de corpo reduzido e com certo constrangimento:
BALBO ESTRANHOU O VATAPÁ
No corpo da matéria, despacho da Agência Brasileira, datado do dia 13 de janeiro, informava sucintamente, como era recomendável:
Bahia, 13 (A. B.) — O general Balbo passou hontem ligeiramente incommodado em conseqüência de um vatapá que lhe fôra servido. Todavia, isso foi sem conseqüências maiores, e já esta manhã o commandante em chefe da esquadrilha aérea italiana se achava perfeitamente restabelecido.
Ainda bem, pois o general e seus comandados iriam precisar de muito preparo físico para seguir sendo alvos de arrastada agenda de ho-menagens e compromissos de toda ordem, entre eles entrevista coletiva à imprensa, encontro com a colônia italiana, almoço de 70 talheres com o interventor e até a solenidade de inauguração de um busto do maior dos poetas italianos, Virgílio.
Restava a última etapa do cruzeiro, até o Rio de Janeiro. Ela foi cumprida no dia 15, quinta-feira.
A esquadrilha Balbo deixou Salvador por volta das oito da manhã. A caminho da capital brasileira, sobrevoou Vitória. O resto é contado pelo Correio da Manhã, em sua edição do dia 16, com a vantagem de tudo ter sido
179
escrito e impresso na própria cidade-palco do acontecimento. A manchete de primeira página do jornal, com nove colunas de largura, informava:
AZAS GLORIOSAS DA ITÁLIA NOVA
Um subtítulo logo abaixo dizia:
O general Balbo e seus heroicos companheiros terminaram, na luminosa tarde de hontem, o vôo prodigioso Roma–Rio de Janeiro
Para não deixar dúvidas ao leitor, um segundo subtítulo reforçava:
A chegada da esquadrilha aérea italiana foi bem um espetáculo admirável e empolgante
Também distribuído por nove colunas e encimado por enorme foto
do numeroso grupo de aviadores recém-chegados, o texto se derramava em vasta adjetivação, a revelar a indisfarçável veia poética do redator e a sua não menos indisfarçável admiração pelo fascimo:
Hontem foi um dia de luminosidade sem par, em que a belleza do
céo, azul e translúcido, rivalizou com a majestade serena e glauca de nossa Guanabara, tudo se esmerando para emprestar uma marca de reino encan-tado à terra carioca — planou sobre o Rio o mais autêntico symbolo do espírito de vitória da Itália Nova. Chegou o general Ítalo Balbo, ministro da Aeronáutica do governo Mussolini, à frente de uma esquadra heroica de aviadores. Os “hydros” italianos, encabeçados por uma esquadrilha negra, emblema do “fascio”, concluíram a sua última etapa, no maior empreen-dimento de aviação de todos os tempos. Nunca se exalta demais tão épico feito, em que o valor de um povo forte reponta como a própria esperança de mais brilhantes dias para a história da civilização.
Seguiam-se relatos pormenorizados sobre cada passo dado no res-tante daquele dia pelos aviadores peninsulares, cuja chegada — registrava o periódico — havia sido saudada com salvas de canhões; e informações
180
detalhadas sobre o que eles iriam fazer nos dez dias em que permanece-riam na cidade.
Os compromissos começaram no dia seguinte com a passagem em revista da frota de hidroaviões, visitas a vários ministros de Estado e ao Arcebispo da cidade, encontro com o chefe do governo, Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, e banquete à noite no Ministério das Relações Ex-teriores. Nos dias imediatos, encontro com a colônia italiana, encontro com ex-combatentes italianos, espetáculos de música e de poesia, ence-nação de peças ligeiras no Theatro Lyrico e um Te Deum na Igreja de São Francisco de Paula.
O radiotelegrafista Tito Mascioli e seus colegas de tripulação vi-venciaram vários desses acontecimentos. Sobretudo, aproveitaram para conhecer a cidade e algumas de suas praias.
Durante todo o tempo que os aviadores passaram no Brasil, especulou--se sobre a possibilidade de os 11 hidroaviões italianos estarem sendo nego-ciados com o governo de algum país sul-americano, talvez o da Argentina — e nesse caso, ainda faltaria uma etapa da viagem para ser cumprida. Coube ao próprio general Balbo acabar com as especulações, ao decretar que o cruzeiro estava encerrado.
Então a Marinha do Brasil apressou-se a fazer um anúncio surpre-endente: na verdade, a Esquadrilha Balbo havia sido formada não apenas para consumar a notável façanha aviatória, mas para trazer os aviões que o governo brasileiro adquirira do governo italiano, em transação que estava sendo paga com 50.000 sacas de café. Inicialmente seriam 14 aparelhos, mas, como se viu, três haviam sido perdidos. Os 11 restantes foram in-corporados no dia 4 de julho de 1931 à aviação da Marinha brasileira, como parte do esforço para o seu desenvolvimento, de modo a atender às necessidades operacionais de defesa aérea do litoral.
Ainda faltava, porém, visitar a cidade de São Paulo. Ali, sim, Italo Balbo ficou sabendo de verdade o que era a colônia italiana que vivia no Brasil. Ele e seus acompanhantes chegaram de trem e desembarcaram na Estação Roosevelt, no bairro do Brás, reduto italiano desde o fim do Século XIX. O mau tempo, segundo se alegou, havia impossibilitado o deslocamento da esquadrilha. Os visitantes ilustres foram recebidos com festas e homenagens que pareciam nunca acabar e puderam sentir-se como
181
se estivessem em seu próprio país. Distribuída por boa parte do estado de São Paulo, principalmente na Capital, a colônia italiana proporcionou dias memoráveis aos representantes da Itália fascista.
Foi, portanto, com alguma melancolia que, dias depois, muitos deles, principalmente os mais jovens, entre eles Tito Mascioli (naquela altura provavelmente já decidido a voltar ao Brasil), embarcaram, desta vez em navio, de regresso ao seu país.
Naquele momento ninguém poderia imaginar que os hidroaviões italianos pudessem um dia participar de operações de guerra.
E, pior, de brasileiros contra brasileiros.Um ano e meio depois da partida dos aviadores italianos, o Brasil
estava vivendo de novo um movimento de revolta armada. No dia 9 de julho de 1932, dois generais servindo no estado de São Paulo, Isidoro Dias Lopes e Euclides Figueiredo, anunciaram, em manifesto, estar à testa de forças revolucionárias “empenhadas na luta pela imediata reconstitucionalização do País”. Tratava-se de movimento contra o governo central, que se torna-ria conhecido como Revolução Constitucionalista. Os revoltosos exigiam uma nova Constituição para o Brasil, já que a vigente até a deposição de Washington Luís havia sido trucidada.
Três dias depois do início da revolta, em 12 de julho, uma esquadrilha de três hidroaviões Savoia Marchetti fez uma incursão de reconhecimen-to sobre o porto paulista de Santos. No dia 5 de setembro, quando ainda havia combates (o movimento foi debelado por tropas federais em 1o de outubro), seis hidroaviões SM sobrevoaram o forte Itaipus, também em Santos, ainda em operação de reconhecimento, e aproveitaram para jogar sobre a fortificação folhetins e jornais do Rio de Janeiro. Finalmente, na segunda quinzena de setembro, um solitário SM bombardeou a usina elétrica de Cubatão. Não conseguiu atingir o alvo.
EM 1934, A CIDADE de São Paulo atingiu o seu primeiro milhão de habitantes. Em 1937, já na condição de civil, o ex-major italiano Tito Mascioli estava de volta ao Brasil, com muita disposição para trabalhar e aparentemente pronto para lançar raízes na terra que tão bem o acolhera,
182
como a tantos de seus compatriotas. Não teve grandes dificuldades em adaptar-se: em São Paulo, cerca de um sexto da população era de italianos. Aqui também já viviam alguns de seus amigos, entre eles Arthur Brandi, que viria a tornar-se seu cunhado. Agrimensor de profissão, Brandi dedicava-se ao ramo imobiliário, atividade bastante atraente na época, em função do vertiginoso crescimento da capital paulista.
O brasilianista Warren Dean, citado por Ronaldo Costa Couto em seu livro Matarazzo, vol. II, sugere que, na década de 1930, alguns pode-rosos capitães de indústria e fazendeiros de café de São Paulo — como, por exemplo, Jafet, Klabin, Cícero Prado, Pereira Inácio —, além de rein-vestir em projetos industriais, também aplicaram seu dinheiro em novos empreendimentos imobiliários, como forma de defender-se dos reflexos ruinosos da crise mundial de 1929.
Brandi associara-se a amigos para lançar um loteamento nas ime-diações do novo aeroporto da cidade, Congonhas, no bairro do Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo. O potencial do empreendimento era bom, mas os sócios perceberam que precisavam demonstrar na prática sua viabilidade aos compradores potenciais. A distância de Congonhas em relação ao centro da cidade era grande; havia falta de uma linha de ônibus que aproximasse as duas pontas. Decidiram então criar uma empresa de transporte de passageiros. Obtida a concessão na prefeitura paulistana, Tito Mascioli foi encarregado de tocar o empreendimento. Deram à empresa o nome de Auto Viação Jabaquara S. A. e não imaginavam que, nas mãos competentes de Mascioli, ela se tornaria um negócio mais rentável que o próprio loteamento, e de crescimento mais rápido. Em certo momento, ela chegou a controlar 40% do setor de transporte urbano de passageiros por ônibus da capital. O excepcional desempenho se devia, principalmente, à qualidade dos serviços prestados.
Contudo, no dia 9 de março de 1947, a prefeitura criou a Companhia Municipal de Transportes Coletivos — CMTC — e encampou todas as empresas privadas que atuavam no setor, entre elas a Auto Viação Jabaquara. Convidado, Tito Mascioli aceitou ocupar o cargo de diretor tesoureiro da nova empresa pública, na esperança de conseguir encaminhar um processo de indenização aos sócios da Auto Viação Jabaquara. Não teve sucesso e pediu demissão.
183
A ESSA ALTURA, PORÉM, ele e seu amigo Arthur Brandi já estavam mais do que convencidos da excelência do negócio de transporte de passageiros. Ainda naquele ano, compraram a Empresa Auto Viação São Paulo–San-tos Ltda. Em fevereiro do ano seguinte, simplificaram o nome para Auto Viação São Paulo–Santos e transformaram-na em sociedade anônima. A nova denominação seria efêmera, pois em 7 de maio (ainda de 1948), a empresa passou a chamar-se Viação Cometa S. A. Um episódio aparente-mente banal, ocorrido anos antes, seria determinante para a escolha das cores da Viação Cometa. Durante uma viagem à Europa, Mascioli e sua esposa tomavam chá em uma confeitaria quando ela elogiou a porcelana, nas cores azul e bege. Ele prometeu que um dia seriam donos de uma empresa de transporte de passageiros e que os ônibus seriam pintados naquelas duas cores.
Já a denominação — Viação Cometa — foi quase um plágio. Nas laterais dos ônibus da própria Empresa Auto Viação São Paulo–Santos aparecia o desenho de um cometa, sugerindo rapidez. Por decisão de Brandi e Mascioli, o símbolo virou o nome da empresa.
Quanto à transformação em sociedade anônima, ela foi necessária para abrigar os muitos investidores. Edital publicado na imprensa pau-listana em 1951 relacionava os nomes dos acionistas: Jean-Marie Faustin Godefroid Havelange, Arthur Brandi, Tito Mascioli, Corrado Brandi, José Viglietti, José Glauco Zanin, Nelson Ferreira, Lucila de Moraes Barros Granja, Giocondo Gâmbaro, Lício da Rocha Miranda, Arrigo Zanin, Ítalo Breda, Antonio Armando Magalhães, Adib Feres, Corrado Mascioli, Roberto Brambila, Hermano Pires Fleury Júnior.
Para quem se deteve no nome que abre a lista, a resposta é: sim, trata-se de João Havelange, que entrou para a história do País por conquis-tar algumas credenciais muito importantes: a de dono da Cometa, a de presidente da Confederação Brasileira de Desportos — CBD — (depois Confederação Brasileira de Futebol — CBF) e, finalmente, a de presidente da FIFA — International Federation of Football Association. E tão cheia de peripécias quanto as presidências da CBD e da FIFA, foram as situações que
184
Havelange viveu como “dono” da Cometa. Mas antes de entrarmos nessa questão, vale a pena observar, ainda em relação aos nomes dos sócios, o fato notável de que, no corpo de acionistas de uma empresa genuinamente brasileira, criada em 1948, nada menos que oito eram de nacionalidade italiana: o próprio Tito Mascioli, Corrado Brandi, José Viglietti, Giocondo Gâmbaro, Arrigo Zanin, Ítalo Breda, Corrado Mascioli e Arthur Brandi. Este último já se havia naturalizado brasileiro.
Voltando a Jean-Marie Faustin Godefroid Havelange, na verdade ele não era dono da Cometa, e sim advogado da empresa. Sob muitos aspectos, porém, acabaria se tornando tão importante quanto os próprios donos. É uma longa história.
Ex-campeão de polo aquático e de natação (aos 18 anos, em 1934, participou daquela famosa Olimpíada em Berlim, na qual, para a indig-nação de Hitler, o negro norte-americano Jessé Owens ganhou quatro medalhas de ouro no atletismo), advogado militante nas décadas de 1940 e 1950, um dia Hevelange recebeu, por decisão de Tito Mascioli e Arthur Brandi, referendada em assembleia-geral dos acionistas, a condição de diretor-presidente vitalício da Viação Cometa. Posteriormente, elegeu-se vice-presidente e presidente da Confederação Brasileira de Desportos — CBD —, onde permaneceu por 16 anos. Dizem que só não ficou como presidente vitalício da CBD porque decidiu disputar a presidência da poderosa FIFA. Ganhou a eleição em 1974 e continuava no cargo no momento em que Rúbio Gômara encerrou suas pesquisas para escrever este livro, em 1994. Só saiu em 1998.
E por que motivo todo mundo se referia a ele como dono da Viação Cometa? A resposta tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Em janeiro de 1942, ainda sob a ditadura Vargas, o Brasil rompeu relações comerciais com a Alemanha, a Itália e o Japão. No fim de agosto, anunciou a decisão de enviar tropas brasileiras aos campos de batalha na Europa. Em 1943, criou a Força Expedicionária Brasileira — FEB —, que embarcaria para a Itália e se juntaria aos exércitos aliados no combate às forças do Eixo.
Mesmo antes de a situação evoluir para esse extremo, muitos imi-grantes italianos, alemães e japoneses que viviam no Brasil vinham tendo problemas com as autoridades, principalmente a partir da descoberta, no País, de redes de espionagem que passavam à Alemanha e à Itália informa-
185
ções fundamentais para a localização e afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães. Com o rompimento e a declaração de guerra, os imigrantes dessas nacionalidades passaram à condição de “inimigos potenciais” e começaram a receber tratamento mais duro, frequentemente discriminatório. Uma das medidas impostas pelo governo, na época, foi fazer que empresas, clubes, associações e entidades trocassem os nomes que fizessem qualquer alusão, direta ou indireta, à Alemanha, à Itália e ao Japão. Foi assim, por exemplo, que, em São Paulo, a Sociedade Esportiva Palestra Itália (ou Società Sportiva Palestra Itália) mudou para Associação Desportiva Palmeiras e suprimiu uma das cores que até então faziam parte de sua bandeira e dos seus uniformes — o vermelho. Em Belo Horizon-te, outro clube de futebol com o mesmo nome — Sociedade Esportiva Palestra Itália — passou a chamar-se Cruzeiro Esporte Clube e adotou as cores azul e branco. O Clube Espéria (pelo qual Havelange participava de competições de natação nos incríveis tempos em que ainda corria água no rio Tietê, em São Paulo) passou a ser Clube Estrela e, anos mais tarde, Associação Desportiva Floresta. Houve muitos outros casos. O mais grave, porém, é que muitos empresários alemães, italianos e japoneses foram pressionados a se desfazer de seus negócios — indústrias, casas comerciais, importadoras — e, frequentemente, também de seu patrimônio pessoal. E quando “conselhos” não bastavam, a desapropriação pura e simples era sempre uma possibilidade.
Nessa época, Tito Mascioli e Arthur Brandi eram donos da Auto Viação Jabaquara S. A., que controlava, como já se viu, 40% do transporte coletivo da cidade de São Paulo. Fazia alguns anos que a empresa contava com os serviços de dois irmãos e advogados, Júlio e João Havelange. Este último estava mais perfeitamente enfronhado nos negócios da cliente e gozava da total confiança de Tito e Arthur.
Em 1943, quando as pressões aumentaram, Tito Mascioli definiu, em conjunto com o sócio e o advogado, uma manobra jurídica: passar o negócio para o nome de João Havelange. Foi assim que ele se tornou empresário de ônibus— pelo menos até o fim da guerra, quando, lealmente, devolveu o negócio a seus verdadeiros donos. Esse favor eles jamais esqueceriam. Procuraram compensá-lo mais tarde, destinando ao amigo certo número de ações de sua empresa seguinte, a Cometa, e criando para ele o cargo
186
vitalício de diretor-presidente. Também lhe deram liberdade para fazer gastos pessoais em nome da companhia. Adicionalmente, Tito Mascioli deixou-o à vontade para declarar ou dar a entender, quando e onde achasse conveniente, que era mesmo o dono da Viação Cometa. Havelange se valeria dessa concessão sempre que precisasse resolver, como amigo ou como advogado, qualquer questão sensível para a transportadora.
E questões sensíveis não faltariam, à medida que a Viação Cometa fosse se impondo no mercado e trilhando o caminho da incorporação de outras companhias e de suas linhas. Em 1949, por exemplo, adquiriu a Expresso Bandeirantes Viação S. A. Em 1950, criou três novas linhas, chegando a Jundiaí, Campinas e Sorocaba. No mesmo ano, comprou a Rápido Serrano Viação, que continuou operando com esse nome em al-gumas linhas. Em dezembro de 1951, passou a operar sua primeira linha interestadual, correndo pela recém-inaugurada Via Dutra entre São Paulo e Rio de Janeiro. A linha tornou-se a mais rentável da empresa e passou a exigir não somente a ampliação como a modernização da frota, mediante a importação de ônibus mais adequados ao percurso e à crescente demanda dos passageiros. Assim, em 1954, a Cometa saiu na frente e pediu licença para importar 30 unidades do ônibus GM Coach modelo PD-4104, pro-duzido nos Estados Unidos. Foi atendida. Como características inéditas no mercado brasileiro, o ônibus tinha motor de 211 cavalos, suspensão a ar e carroceria de alumínio. Além disso, dispunha de ar-condicionado. Assim que foram postos para rodar entre São Paulo e Rio de Janeiro, os importados se tornaram um diferencial capaz de arrastar mais passageiros para a Cometa, para o desconsolo das concorrentes.
VEM DESSE PERÍODO, e dessa linha, o aguçamento da competição entre o Expresso Brasileiro e a Viação Cometa, que, de tão acirrada, aca-bou extravasando não só para outros roteiros das duas empresas como para tribunais, instâncias políticas e até mesmo partidárias. E Havelange, que a essa altura já se tornara um conhecido e influente dirigente esportivo (além de continuar sendo visto como dono da Cometa), seria capaz de, em determinadas situações, fazer pender a balança a favor da companhia.
187
Foi o que aconteceu em 1958, num episódio cujo desfecho acabaria afetando de maneira decisiva a situação econômico-financeira das duas concorrentes.
Durante mais de três anos, o Expresso Brasileiro sustentara com competência a disputa de mercado com a Cometa, mas sua frota havia envelhecido e requeria substituição. Manoel Diegues, mais conhecido como Maneco, dono da transportadora, já estava cuidando disso. Fazendo valer sua influência, conseguira importar um lote de 23 ônibus GMC, ainda mais modernos que os da Cometa, os quais, como vimos, já vinham rodando desde 1954. O negócio tinha sido feito tão em surdina que Havelange e Tito Mascioli só ficaram sabendo dele quando o navio, trazendo os ônibus dos Estados Unidos, já estava atracado no porto de Santos. Havelange saiu a campo e descobriu que a importação estava sendo feita em operação casada com exportação de arroz. Entrou então com um pedido de liminar para impedir a liberação dos ônibus pela Alfândega. Maneco procurou altos funcionários do governo e amigos políticos, conseguiu derrubar a liminar. Os 23 ônibus foram liberados. Já estavam montados e preparados para rodar quando nova liminar, pedida por Havelange, determinou que os veículos e todas as caixas com peças e equipamentos fossem recolhidos à Alfândega. Maneco moveu céus e terra, acionou políticos do PSD pau-lista — partido de Juscelino Kubitschek — e o assunto foi ter à mesa do presidente da República. Para não ficar mal com seu partido, Juscelino chegou a assinar, ao que parece na presença de parlamentares pessedistas, um documento endereçado ao ministro da Fazenda, despachando favora-velmente à liberação dos ônibus.
O documento pode até ter chegado às mãos do ministro, mas os ônibus continuaram retidos na Alfândega de Santos por longo tempo.
Uma parte da explicação estava no fato de que, quando ainda era bem jovem, nos primeiros anos da década de 1920, Juscelino uma vez havia passado suas férias na cidade do Rio de Janeiro, justamente na casa do casal Faustin Joseph Godefroid Havelange e Juliette Ludivine Calmeau, belgas, pai e mãe do menino João Havelange, que então tinha seis ou sete anos de idade. Esse primeiro contato seria o ponto de partida, anos depois, para se tornarem amigos. Decorridas mais de três décadas, ao decidir sobre a disputa entre dois pesos-pesados do transporte rodoviário de passageiros,
188
Juscelino se viu obrigado a engendrar aquela encenação aparentemente favorável a Manoel Diegues. Mas o fato é que, quando a burocracia oficial finalmente liberou os ônibus, dois anos mais tarde, a vantagem da Viação Cometa na briga pela preferência dos passageiros da linha São Paulo–Rio de Janeiro já era enorme e irrecuperável; o Expresso Brasileiro, por sua vez, havia acumulado um déficit de caixa do qual não conseguiu mais se livrar. Anos mais tarde, Diegues desfez-se da empresa.
A Cometa, seguiu sua trajetória. Seus ônibus ainda eram importados, e entre eles estavam algumas unidades adquiridas do próprio Expresso Brasileiro. No mesmo ano, foram feitos os primeiros testes com um chassi Scania B-71, igualmente importado, e que resultariam na opção por essa marca em 1964. A Ciferal se tornaria a encarroçadora parceira, entre outros motivos pela utilização de alumínio e duralumínio em seus produtos. A Cometa utilizaria também o ônibus monobloco O 326, da Mercedes-Benz, mas a opção passou a ser o produto Scania fabricado no Brasil. Naquele momento, a maior parte da frota da Cometa já era constituída de ônibus com carroceria de alumínio.
Tendo São Paulo como ponto de partida, a companhia era detentora de boa parte das linhas interestaduais mais importantes, não só no estado de São Paulo como no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Paraná.
A parceria com a Ciferal durou até 1982, quando a encarroçadora faliu. Ao fechar as portas, ela tinha quase prontas 50 carrocerias a ser montadas sobre chassis Scania recentemente adquiridos pela Cometa. A empresa decidiu então produzir suas próprias carrocerias. Surgiu assim, em março de 1983, a Companhia Manufatureira Auxiliar — CMA —, com os primeiros ônibus da série Flecha Azul. A série chegaria ao número VIII.
Em 1996, morreu o fundador Tito Mascioli e a companhia ficou sob o comando de seus dois filhos, Arthur e Felipe.
Em 2001, Arthur Mascioli deixou a empresa. Alguns meses depois, o empresário Jelson da Costa Antunes, dono da Viação 1001, chegou a um acordo com Felipe e Arthur para a compra de suas ações.
Ônibus com chassi Aclo encarroçado pela Grassi para a Cometa. Era usado nas linhas para Campinas, Ribeirão Preto e Poços de Caldas.
Depois de Santos, as linhas para Campinas
e Jundiaí eram as mais movimentadas da Cometa até que
começasse a operação na Via Dutra.
Carroceria Brasinca incorportada à frota da Viação Cometa em 1952.
Ônibus ODC 210 usado em várias linhas da empresa. Foi produzido pela GM no Brasil a partir de 1950.
Foto
s: Ac
ervo
Com
eta
Durante anos a encarroçadora Ciferal
foi uma das grandes parceiras da Cometa.
Como no caso deste modelo Líder,
batizado como Jumbo B pela
transportadora.
Em frente à fábrica da General Motors, em São Caetano do Sul, alinham-se os novos GM Coach importados dos EUA para a Viação Cometa.
Tito MascioliNo porto de Santos, desembarque de GM Coachs importados.
Foto
s: Ac
ervo
Com
eta
191
NOS ANOS 1950, O MINEIRO Benito Porcaro, descendente de italianos, era dono de um escritório de contabilidade em Caratinga, no leste de Minas Gerais, a 300 quilômetros de Belo Horizonte.
A Benito não faltavam bons clientes, inclusive porque era desses profissionais que conquistam as pessoas por seu permanente bom humor, dinamismo e criatividade. Enfim, um homem cujo perfil parecia talhado para capitanear empreendimentos bem mais arrojados e de maior vulto. Talvez por isso, em 1961, os comerciantes José de Paula Maciel, Augusto Braga Filho, Dario da Anunciação Grossi e Pedro Cabral — quase todos clientes do escritório — não se surpreenderam com a proposta aparente-mente insólita de Benito Porcaro e Francisco Lopes Evangelista, o Chiquito: juntar-se a eles na compra de uma empresa de ônibus que tinha sua sede ali mesmo em Caratinga. Reuniram-se, discutiram a proposta de Benito e Evangelista, analisaram prós e contras e concordaram com a formalização da sociedade. Dos seis sócios, o único que tinha experiência no negócio de ônibus era Chiquito, fundador da Viação Entre Folhas.
Quanto à transportadora objeto da compra, chamava-se Empresa de Viação São Geraldo Ltda. Sua principal linha ia de Caratinga a Governador Valadares, mas ela operava diversas outras rotas interligando cidades do Leste de Minas Gerais. Tinha sido fundada em 1949, sob a razão social de Rodrigues Teixeira & Cia. Ltda. e, apesar da péssima situa ção da estrada Rio–Bahia, por onde seus ônibus circulavam com dificuldade entre mui-ta lama ou poeira, manteve razoável crescimento na primeira década de existência. Em meados da década de 1950, por exemplo, mantinha uma
companhia São geraldo de viação
benito porcaro
1949
192
frota de 23 veículos. O nome Empresa de Viação São Geraldo foi adotado em 1957. Quatro anos depois, quando a frota chegara a 41 veículos, os proprietários entenderam de passar o negócio adiante.
Os novos donos assumiram com capital e disposição para investir na ampliação da frota, na melhoria das linhas e em sua expansão. Come-çaram a trabalhar imediatamente, orientando o processo de crescimento também no sentido da incorporação de novas linhas, por compra direta ou pela participação em concorrências públicas.
As primeiras empresas adquiridas atuavam na região de Teófilo Otoni, Nanuque e no extremo sul da Bahia. Mais tarde, quando a São Geraldo já estava implantada mais solidamente, foram compradas as empresas que faziam a ligação das principais cidades baianas (Salvador, Feira de Santa-na, Jequié, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna) ao Rio de Janeiro e São Paulo. Assim a empresa ganhou dimensão nacional.
Em 1966, Pedro Cabral vendeu sua participação a Benito Porcaro e saiu da sociedade. Em 1968, os sócios decidiram transformá-la em sociedade anônima e o nome passou a ser Companhia São Geraldo de Viação S.A. José de Paula Maciel era o diretor presidente; Benito Porcaro, o diretor administrativo; Francisco Lopes Evangelista, o diretor comercial; Augusto Braga Filho, o diretor financeiro, e Dario Grossi, o diretor de operações.
A expansão prosseguiu, desta vez rumo a outros estados como Goiás, Espírito Santo, Piauí, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará, além do Rio de Janeiro, São Paulo e no próprio estado de Minas Gerais. Negociar a compra de empresas e promover a extensão e implantação das linhas era, na prática, a especialidade do dire-tor administrativo Benito Porcaro. Viajava constantemente, não raro por vários dias. Percorria as diversas rotas, inspecionava os serviços e sempre trazia novidades ao regressar.
Benito também estava sempre atento às concorrências públicas, me-diante as quais foram conseguidas numerosas linhas ligando algumas das principais cidades brasileiras: Goiânia–Rio de Janeiro, Belo Horizonte–Sal-vador, Vitória–Governador Valadares, Salvador–Teresina, Salvador–Natal, Aracaju–Natal, João Pessoa–Maceió.
O desenvolvimento da malha rodoviária federal e o arcabouço legal que passou a disciplinar a atividade de transporte de passageiros a partir de
193
1971 viabilizaram novos investimentos, inclusive na aquisição de linhas pertencentes a outras companhias. Entre o fim da década de 1960 e durante quase toda a década de 1970, foram compradas Central Bahia, Expresso Pernambucano, Vera Cruz, Rodoviária de Alagoas, Viação Alvorada, Nossa Senhora Aparecida e Ipu Brasília.
Em 1978 a São Geraldo passou por novas mudanças. Permaneceram como sócios Benito Porcaro, Francisco Evangelista, Jose Maciel e Augusto Braga. A vocação de operadora de linhas de grande percurso foi fortalecida com a venda das linhas municipais e estaduais de menor extensão. A frota foi aumentada para mais de 300 ônibus, mais uma centena de veículos auxiliares e caminhões.
Benito Porcaro, já como diretor superintendente geral, morreu em um acidente aéreo no dia 19 de janeiro de 1979. Ao desaparecer, era um nome nacionalmente conhecido do setor de transporte rodoviário de passa-geiros. Seu trabalho transcendera a empresa que ajudara a erguer. Também idealizara e participara da criação da Associação Nacional das Empresas de Transportes Interestaduais e Internacionais de Passageiros — Rodonal —, a primeira entidade a congregar o setor de transporte rodoviário de passageiros.
Entre o fim de 1979 e o início de 1980, a Companhia São Geraldo participou de processos licitatórios conduzidos pelo DNER e foi autorizada a operar 13 novos serviços. Naquela altura, havia assegurado o segundo lugar entre as mais de 200 empresas detentoras de linhas federais. O aten-dimento alcançava quase todo o Nordeste, de Fortaleza a Belo Horizonte, de Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Feira de Santana, Ilhéus e Porto Seguro para Rio e São Paulo, além do litoral do Espírito Santo para Belo Horizonte.
Havia necessidade de uma estrutura operacional de maior porte e Caratinga foi trocada, em 1981, por um grande entroncamento rodoviário, Belo Horizonte. Em uma área de 65.000 metros quadrados, foi construído o Parque Rodoviário.
Uma cisão societária resultou na criação da Viação Riodoce Ltda., pela família Grossi. Também foi incorporada a maior organização de transportes interestaduais do Nordeste, a Empresa Nossa Senhora Aparecida Ltda. Mais tarde, uma nova geração — a dos filhos dos fundadores — assumiu
194
os negócios. Foi instituído um Conselho de Administração, formado por 12 conselheiros, além de uma Diretoria Executiva. Alguns representantes da terceira geração também passaram a trabalhar na companhia ou em empre-sas coligadas ao grupo, que no decorrer dos anos construiu um complexo empresarial com atuação nas áreas de transporte de passageiros, cargas e turismo. Justificando a política de diversificação, o então presidente da São Geraldo, Augusto Braga Filho explicava:
As empresas de ônibus tendem a se afirmar cada dia mais, tanto no próprio mercado como em outras atividades, uma vez que a iniciativa empresarial deve extrapolar por outros campos. O avanço na tecnologia de fabricação de ônibus e também nas rodovias vem animando o setor de transporte de passageiros a investir num ponto de honra, que é a segurança e o conforto dos passageiros.
Em 1993, o grupo passou por nova transformação, adotando um sistema de gerenciamento baseado no Controle de Qualidade Total — TQC — e promovendo uma reestruturação de alto a baixo. Um plano de cargos e salários deu maior coerência às mudanças. Foi ampliada e melhorada a rede de pontos de apoio em Feira de Santana, Rio de Janeiro, Ilhéus, Guarapari, Porto Seguro, Mossoró, Marataízes, Itabaiana, Vitória, Governador Valadares, Teixeira de Freitas, Recife e Vitória da Conquista.
Em 1997, foi adquirida a participação da família de Francisco Lopes. No ano seguinte, a companhia comprou várias linhas de médio curso, também no Nordeste.
Em 2004 os acionistas da Companhia São Geraldo aceitaram uma oferta do Grupo Gontijo e abriram mão do controle acionário da empresa.
Usar carrocerias mais confortáveis,
como as da Ciferal, sempre foi uma das
preocupações da São Geraldo.
O atendimento da companhia alcançava quase todo o Nordeste, onde ela revolucionou os conceitos de conforto, pontualidade e atendimento.
Os ônibus pesados eram fundamentais para a São Geraldo operar suas linhas com grandes percursos.
Foto
s: Ac
ervo
Rod
onal
O processo de constante atualização do equipamento foi transformado em política da qualidade.
Benito Porcaro
Ônibus de três eixos com bagageiros de grande capacidade: os mais adequados às características dos serviços da São Geraldo.
Acer
vo R
odon
alFo
tos:
Acer
vo A
BR
ATI
197
PELAS HISTÓRIAS NARRADAS neste livro, já vimos que, no período da guerra, entre os anos de 1939 e 1945, muitos dos pioneiros do transporte rodoviário de passageiros enfrentaram grandes dificuldades em seu ramo de atividade. Mas não se pode dizer que foi este o caso dos irmãos José e Nelson Xavier Ribeiro, que naquela época estavam estabelecidos em Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. E não foi porque simplesmente eles ainda não atuavam no ramo de transporte rodoviário de passageiros.
Na verdade, guardadas as proporções, eles passaram por dificuldades parecidas. Faltava crédito para o comércio e, principalmente, experimentava--se aguda escassez de gêneros alimentícios e bebidas. José e Nelson, que eram comerciantes atacadistas desses produtos, viram seu negócio estagnar num primeiro momento e, mais tarde, irremediavelmente regredir. Circu-lava pouco dinheiro e eles, obrigados a vender fiado, viram os índices de inadimplência dos fregueses subirem de maneira assustadora.
Depois que terminou a guerra, os irmãos ainda insistiram por al-guns anos, na expectativa da recuperação dos negócios. Mas os problemas continuaram; a crise demorou para ir embora. Em setembro de 1957, acharam melhor mudar de ramo. Juntando-se a outros três irmãos, Dílson, Eduardo Nelo e Sílvia, compraram uma empresa de ônibus. Tratava-se da União Transporte Interestadual de Luxo S. A., mais conhecida como UTIL, com sede em Juiz de Fora, Minas Gerais, e que existia desde 1950. Fazia a linha entre as cidades de Petrópolis e Rio de Janeiro. A compra era apenas o começo, pois, antes mesmo de fechar negócio, os irmãos Xavier Ribeiro já haviam definido algumas das etapas da expansão que queriam
união tranSporte intereStadual de luxo S. a. — util
JoSé xavier ribeiro — nelSon xavier ribeiro
1950
198
promover. Dois meses depois de assumir a empresa, compraram a Rio Lux, responsável pelas ligações Rio de Janeiro–Juiz de Fora, e Juiz de Fora–Belo Horizonte. Em seguida, absorveram a Viação Continental. Em maio de 1958, incorporaram a Viação Boa Vista.
Com o controle dessas duas últimas empresas, puderam estabelecer uma série de ligações entre Belo Horizonte e Barbacena, além de servir a várias cidades vizinhas. Mais tarde, José acabaria retomando sua atividade de atacadista de gêneros alimentícios.
A aquisição de empresas e linhas sempre foi vista pelos irmãos Xavier Ribeiro como um meio seguro e prático de estabelecer as rotas que consi-deravam mais adequadas para o seu negócio. Assim, em 1961, a empresa comprou a linha Rio de Janeiro–Belo Horizonte. Em seguida, implantou novos percursos e passou a atender cidades e regiões dos estados do Pará, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Em 1967, eles entenderam que era hora de dar novo ritmo às ope-rações da UTIL e contrataram uma consultoria externa, encarregada de analisar e propor soluções que eventualmente estivessem escapando à percepção dos controladores. Foi uma abertura importante para a compa-nhia, contribuindo para arejar o ambiente e despertar uma nova onda de criatividade, com visíveis reflexos no processo de crescimento.
À proporção que estendia sua área de atuação, a empresa foi implan-tando algumas das mais modernas garagens do País. Deixou por último a substituição da garagem da sede, que durante muito tempo funcionou em área de 11.000 metros quadrados na Av. Francisco Valadares, em Juiz de Fora. As novas instalações, inauguradas em 1983, foram erguidas em terreno de 40.000 metros quadrados, no Distrito Industrial da cidade, junto às rodovias BR-040 e BR-267.
Algum tempo depois, a UTIL tornou-se controladora de mais duas empresas de transporte rodoviário de passageiros: a São Bernardo Ônibus (de transporte urbano de passageiros em Belo Horizonte), com frota de 115 ônibus, e a Viação Vale do Sul (com atuação na região metropolitana da capital mineira), com frota de 67 ônibus. Em 1980, Dílson Xavier Ribeiro tornou-se o presidente da empresa, em substituição a Nelson Xavier, que havia estado à frente dos negócios desde os primeiros anos e passou a fazer parte do Conselho de Administração. Posteriormente, Dílson também se
199
aposentou e passou a integrar o Conselho de Administração, enquanto Tarcísio Schettino Ribeiro assumia a presidência.
Sob a gestão de Schettino Ribeiro, a UTIL ingressou definitivamente na era da qualidade total, com ênfase nos programas de seleção e treina-mento de pessoal. Foram aumentados os cuidados em relação ao quadro de motoristas, com utilização das mais modernas técnicas de preparação e reciclagem desses profissionais, acopladas a avaliações médicas e psicológi-cas, orientação alimentar e condicionamento físico. Instituiu-se um ciclo anual de palestras sobre múltiplos assuntos de interesse dos colaboradores, como, por exemplo, relações interpessoais, segurança do trabalho, álcool e outras drogas nocivas etc.
Outra medida adotada pela companhia foi a intensificação das ro-tineiras ações de fiscalização do trabalho dos motoristas e dos auxiliares durante os percursos, sempre com o objetivo de manter uma política de estrito respeito às normas de segurança e às legislações de trânsito e am-biental. Também neste caso, a tecnologia passou a ser um importante instrumento empregado pela UTIL para assegurar aos seus passageiros as viagens mais confortáveis e seguras.
EM 1992, QUANDO Rúbio Gômara trabalhava na tomada de depoimen-tos de empresários do setor, a então Rede Ferroviária Federal publicou nos principais jornais do País um anúncio em que informava sobre seu interesse em encontrar parceiros para a operação de alguns trechos ferro-viários. Naquele momento, a UTIL estava implementando um processo de diversificação e atendeu ao convite. Associando-se ao Grupo Portotel, propôs e desenvolveu um “hotel sobre trilhos” para ligar as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo em viagem direta noturna. A seguir, para participar dos leilões de privatização da malha ferroviária, associou-se a outras duas empresas e criou a Interférrea. Esta última associou-se depois à Spoornet, empresa sul-africana com atuação no segmento ferroviário. Da associação surgiram mais duas companhias, a Interférrea Logística e a Spoornet Tração, voltadas, respectivamente, à prestação de serviços em transporte multimodal e à operação de locomotivas.
200
A diversificação, contudo, não representou um distanciamento da UTIL em relação à atividade de transporte rodoviário de passageiros, como o presidente Tarcísio Schettino Ribeiro fez questão de esclarecer na época:
Nossas origens não foram esquecidas, nem nossa crença e dedicação ao transporte rodoviário de passageiros estão abaladas. Continuamos tra-balhando.
Em 2003, a UTIL foi adquirida pelo Grupo Guanabara, do empresá-rio Jacob Barata, também operador das empresas Normandy do Triângulo (Rio de Janeiro) e Expresso Guanabara (Ceará).
Jardineira da UTIL que fazia a linha Petrópolis–Rio de Janeiro, antes de a empresa ser adquirida pelos irmãos Dilson e Nelson Xavier Ribeiro. A mecânica era International e a carroceria, Grassi.
Nas mãos dos irmãos Xavier, e partindo do Rio de Janeiro, a UTIL estendeu suas linhas a outras cidades mineiras.
Foto
s: Ac
ervo
Rod
onal
Dilson Xavier RibeiroNelson Xavier Ribeiro
Nos anos 1990, rodoviários de última geração, com nova programação visual e equipados com ar-condicionado.
Na primeira metade da década de 1980, os ônibus de média potência da UTIL são substituídos por uma frota de pesados, portanto com maior capacidade de transporte de passageiros.
Foto
s: Ac
ervo
s Rod
onal
e A
BR
ATI
203
O RAPAZ DE 21 ANOS ESTAVA ali, à frente do gerente do banco, e es-perava por uma resposta. Falara de seus planos para abrir um negócio de transporte de passageiros e pedira dinheiro emprestado para comprar um caminhão Chevrolet Gigante 1946, usado, que pretendia transformar em jardineira. Chegara pouco tempo antes à cidade, não tinha avalista e tudo o que o gerente conhecia dele era sua habilidade com a bola. Conhecia-o das peladas nos fins de semana no clube, onde ele vinha mostrando mais futebol que o melhor craque da cidade.
Por outro lado, o rapaz inspirava confiança. Talvez por sua simpli-cidade e pela segurança com que falava das chances de ganhar dinheiro transportando gente entre as cidades gaúchas de Caçador e Lages. O gerente fez a pergunta inevitável:
E você tem com que pagar o empréstimo?
O rapaz chamava-se Selvino Caramori e era gaúcho. Procedia de Floriano Peixoto, distrito de Getúlio Vargas, onde nascera, filho de um casal de italianos, Luiz Caramori e Catarina Caramori. O gerente não sabia, mas desde muito pequeno Selvino mostrava espírito prático e inclinação para negociar. Como estava sempre querendo ganhar algum dinheiro, aos 11 anos cismara de produzir carvão para a fundição de um de seus tios. Com outros garotos, também experimentara trabalhar com uma carroça e duas parelhas de animais no transporte de madeira. Uma vez também ganhou uns trocados ajudando a instalar cata-ventos com dínamos para
reunidaS S. a. — tranSporteS coletivoS
Selvino caramori
1950
204
geração de energia destinada aos aparelhos de rádio dos colonos. Enfim, pensava o tempo todo em maneiras de conseguir o seu próprio sustento. Enquanto crescia, foi balconista de loja; depois, aprendeu a dirigir cami-nhão e passou a trabalhar com frete, transportando porcos e galinhas da colônia onde vivia com os pais para Porto Alegre e Caxias do Sul. Também teve uma experiência rápida como motorista de praça. Tudo isso antes de chegar aos 20 anos de idade. Além do mais, tinha bom gênio e era de fácil convivência, como o próprio gerente já percebera.
Feita a pergunta, o funcionário do banco não precisou esperar muito pela resposta. Que veio honesta e em poucas palavras:
Não tenho, mas vou pagar.
A sinceridade implícita foi entendida como garantia suficiente e o empréstimo foi concedido. Estava sendo viabilizada ali, naquele exato momento, a criação de uma empresa que no futuro se colocaria entre as maiores do Brasil no seu ramo de atividade. Assegurado o capital inicial, Selvino correu a formalizar a compra do caminhão e da linha para Lages. Os dois próximos passos foram montar sobre o chassi do veículo a carro-ceria de madeira e chapa zincada que o transformaria em jardineira, e dar nome ao empreendimento: Empresa Caramori.
DUAS VEZES POR SEMANA, o veículo saía de Caçador com destino a Lages e depois fazia o trajeto de volta. Selvino era o motorista e seu cunhado, Fiorindo Chiarello, o cobrador. O dinheiro para pagar o em-préstimo foi amealhado nesse contínuo vaivém e, algum tempo depois, o jovem empresário também havia reunido o suficiente para dar a entrada na compra de um segundo veículo, este da marca Dodge. Economizando cada centavo, também a segunda jardineira foi paga, enquanto Selvino Caramori acompanhava, com olhar atento, o desenvolvimento da região em torno de Caçador e Lages.
Em novembro de 1950, a Caramori de Selvino associou-se à Empresa Vitória, baseada em Lages e de propriedade de Orlando Petrolli, seu amigo,
205
gaúcho como ele. Nasceu a Empresa Reunidas Ltda., que passou a contar com quatro veículos: os dois da Caramori e os dois da Vitória, que nessa época fazia a linha Lages–Florianópolis. Com a criação da Reunidas, a linha passou a chamar-se Caçador–Lages–Florianópolis. A viagem era feita em dias alternados, indo-se num dia e voltando-se no outro.
Algum tempo depois, em 1952, Selvino conheceu Therezinha Coe-lho de Souza e começaram a namorar. Também ela se empolgou com o sonho de construir uma empresa e passou a ajudá-lo.
À noite, em casa, namorando, a gente fazia o acerto de contas das passagens, ela contou a Rúbio Gômara.
Sempre que era preciso fazer o balanço, iam até o almoxarifado, no porão da casa de Petrolli. Os homens contavam e nomeavam as peças armazenadas, e ela anotava. O visual dos primeiros veículos foi desenhado por Therezinha. Depois que se casaram, toda vez que faltava um cobrador ela não hesitava em subir no ônibus e assumir a função.
Naquele tempo, ainda não era possível manter compromisso com a pontualidade. O que Selvino e seu sócio costumavam garantir se resu-mia na palavra “chegar”. As viagens eram longas! Saía-se de Caçador às 6 horas da manhã para entrar em Lages por volta das 5 da tarde (percurso que nos dias de hoje é feito em menos de duas horas por automóvel). O mesmo ocorria na viagem entre Lages e Florianópolis. Sem um único quilômetro de estrada asfaltada e com a topografia bastante irregular, fi-cava difícil cumprir sem problemas todo o percurso. O valente Chevrolet Gigante podia ficar imobilizado num atoleiro, ou sofrer uma derrapagem, ou quebrar uma ponta de eixo ou, ainda, ter um pneu estourado. E, assim, a conclusão da viagem estava sempre sujeita a imprevistos, que, aliás, não eram tão imprevistos assim. Tanto que correntes, pá, enxada, picareta, corda e lona estavam entre os equipamentos obrigatórios. Muitas vezes, tinham de cavar valetas, consertar pontes, empurrar ou rebocar o ônibus. Ansiosos para chegar ao destino, os passageiros não hesitavam: desciam do ônibus e metiam o ombro na traseira do veículo para ajudar a vencer os atoleiros.
Numa dessas situações, nos primeiros tempos, o ônibus enguiçou e o mecânico da empresa — ele mesmo, Selvino — estendeu uma lona
206
por baixo do veículo e se meteu ali para tentar o conserto. Aconteceu que uma pedra tinha furado o tanque de gasolina e o combustível começou a vazar. Aos poucos, um filete escorreu pela terra molhada. Um passageiro, depois de acender o cigarro, despreocupadamente atirou o palito aceso no chão; uma língua de fogo voou para baixo do ônibus e o mecânico só teve tempo de se safar, puxar a lona e abafar a chama. Sempre que recordava o incidente, Selvino ainda parecia assustado:
— Me deu um desespero... Aquele era o meu único ônibus!
APESAR DE TODAS AS dificuldades, novas linhas foram sendo acres-centadas. Partindo de Lages, a Reunidas chegou a Curitibanos. Depois, passou a fazer Ribeira–Caçador.
Com senso prático e a experiência de motorista de caminhão, Selvino aproveitava o amplo bagageiro, no teto do ônibus, para transportar merca-dorias e encomendas. Comprava charque, banana e outros produtos para vender aos armazéns de Caçador, que então era a menor cidade da região. Às vezes, quando morria alguém em Caçador, até caixão de defunto ele trazia de Lages ou de Curitibanos, por encomenda. Uma ocasião, com o ônibus completamente lotado, transportava um desses caixões no bagageiro, quando, na estrada, um homem lhe fez sinal. Ele parou já avisando: “Só tem lugar lá em cima!” O passageiro subiu a escadinha e acomodou-se, mas daí a pouco começou a chover. O homem, que não era supersticioso nem nada, não teve dúvida: meteu-se dentro do caixão de defunto. Com o sacolejar do veículo, pegou no sono. No percurso, outros passageiros foram subindo e aboletando-se também no bagageiro. Quase na entrada da localidade de Lesbon Régis, em uma curva forte, a tampa do caixão abriu-se de repente e o sujeito acordou. Erguendo a cabeça, perguntou: “Parou a chuva?” Conforme Selvino Caramori costumava contar, houve passageiros que se jogaram lá de cima, um até fraturou o braço na queda.
O jovem empresário sabia fazer amigos. Tinha consciência da impor-tância de sua atividade para aquelas pequenas cidades e vilarejos e, além disso, era de trato fácil. Por ali, quase todo mundo sabia que ele era dono
207
de excelente humor; gostava de brincar com as pessoas e dava abertura para que elas lhe pagassem na mesma moeda. Havia em Caçador um fazendeiro que de vez em quando também fazia das suas. Uma ocasião, o homem colocou umas peias num terneiro de sobreano — pouco menos que um novilho — que queria levar para Lages; só não sabia como. Aproveitou a oportunidade para provocar o jovem empresário: “Vou viajar contigo, só que tem um problema, tu me faz um favor?” Sempre prestativo, Selvino respondeu: “O que você precisar.” E o fazendeiro, sério: “Preciso levar o boizinho comigo.” O motorista nem pestanejou na resposta:
Eu levo se tu conseguir entrar com ele no ônibus.
SELVINO TAMBÉM ERA muito determinado — ou teimoso. Quando cismava de fazer uma coisa, fazia. Ouvida por Rúbio Barros Gômara na fria manhã do dia 25 de junho de 1994, em Caçador, ao lado dos filhos, a viúva do empresário, Therezinha Coelho de Souza Caramori, confirmou. A título de exemplo, relembrou o episódio em que o marido se envolveu quando decidiu abrir a primeira linha interestadual da Reunidas. Havia boa demanda de transporte de passageiros entre os estados de Santa Catarina e Paraná, e ele não perdeu tempo:
Em Santa Catarina, estava tudo certo, mas o Paraná não consentiu que entrássemos. Então o Selvino decidiu entrar assim mesmo. Saímos de Caçador com o ônibus para começar a linha e chegando em União da Vitória já tinha repórter nos aguardando para dizer que, quando atravessássemos a ponte, iriam nos prender. Mas não prenderam e conseguimos deixar o ônibus escondido na casa de uma tia minha até o dia de começar a linha. Eu e o motorista levamos o ônibus para começar a linha. Nós tínhamos tudo preparado. À meia-noite, o ônibus foi colocado na frente do box para sair às seis e trinta da manhã. E aí foi uma guerra na rodoviária. O ônibus não poderia ser preso se estivesse na rodoviária com passageiro dentro, mas a polícia rodoviária nos prendeu assim mesmo. O Selvino não deixou guinchar o ônibus, mandou nosso motorista levar, e o carro ficou preso. À noite, chegou
208
o segundo ônibus, era o Orlando Petrolli que estava fazendo a linha. Na entrada de Curitiba ele já foi acompanhado pela polícia e o ônibus também foi recolhido. Os ônibus ficaram presos lá por três meses: dois carros novos expostos ao tempo. A situação só se resolveu quando o Selvino conseguiu comprar da Penha a linha União da Vitória–Curitiba–Canoínhas–Rio Ne-gro–Mafra. Só conseguimos entrar no Paraná comprando uma linha.
Além do início tumultuado, houve outras dificuldades em Curitiba,
conforme o relato de dona Therezinha:
Nós não tínhamos garagem ali na rodoviária antiga. Lavávamos os ônibus na rua e, em um hotel, de frente para a rodoviária, o Selvino alugou duas peças para fazer o escritório. Foi uma guerra. Nossos ônibus dormiam na rua e a polícia rodoviária implicava, ficava nos esperando. Até que o Iberê de Matos, com quem o Selvino tinha feito muita amizade, mandou tirar a polícia rodoviária de lá.
O esforço valeu a pena. Rapidamente a linha começou a dar retorno financeiro. O movimentou cresceu e em pouco tempo ultrapassou o da matriz em Caçador. Como tinha de viajar com muita frequência para Curi-tiba, Selvino decidiu se mudar para lá, levando dona Therezinha e dois dos filhos. Além da vantagem de poder acompanhar de perto a evolução dos negócios da agência, de Curitiba ficava mais fácil tomar o avião para o Rio de Janeiro, capital do País e sede do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Em compensação, quando sua presença era exigida em alguma cidade do oeste catarinense, a esposa e os filhos ficavam sem notícias dele. Em períodos normais, o empresário costumava se deslocar para Florianó-polis ou percorrer as várias linhas em uma só viagem, ausentando-se de casa por períodos de uma semana, 15, 20 dias. Segundo o testemunho do filho mais velho, Sandoval Caramori, quando o pai voltava, depois dessas longas ausências, ele tinha até dificuldade em reconhecê-lo.
Uma vez, quando eu ainda tinha um ano e meio de idade, meu pai tinha ficado tanto tempo fora que quando voltou eu não o conhecia mais. Quis me pegar no colo e eu estranhei; não quis nem saber.
209
Além da dificuldade com as estradas, não havia comunicação. Nas situações mais críticas, o único recurso era despachar um carro em busca de Selvino, de cidade em cidade, até localizá-lo. Só muito mais tarde se tornou possível utilizar o rádio para a comunicação entre as agências, ainda assim apenas nos casos de Curitiba e Caçador. As condições de transmissão e recepção eram extremamente precárias e, para operar com radiocomunicação, era preciso obter uma permissão especial das autoridades. As normas de utilização eram rígidas — por exemplo, só se permitia falar sobre dados de operação, como horários de saída e de chegada. Assunto pessoal não podia.
A CONSOLIDAÇÃO DAS ligações do oeste catarinense com Florianópolis ensejou um ciclo de acelerado desenvolvimento da empresa. E grande parte dele deveu-se, principalmente, à agilidade com que Selvino Caramori e seus auxiliares mais próximos conseguiam identificar oportunidades e formalizar aquisições de alcance estratégico — fundamentais para o crescimento da companhia não só no momento em que estavam sendo realizadas, como também no futuro. Na verdade, embora seus amigos ainda se referissem com frequência a suas proezas futebolísticas, nos negócios o empresário atuava mais como um excelente jogador de xadrez, sempre pensando vários lances à frente.
Outra de suas características era a capacidade de concentrar-se pro-fundamente em tudo o que fazia, fosse a arquitetura de um negócio, fosse uma tarefa prática, como dirigir um ônibus ou ajudar a construir uma ponte, a exemplo do que aconteceu neste episódio relatado por Sandoval Caramori a Rúbio Gômara:
Um dia, seu Zeno [contador da empresa desde os primeiros anos] nos contou uma história muito bonita, da luta para o início da linha Caçador--Porto União. A linha ia ser iniciada, mas não existia estrada, muito menos pontes. Na época havia muita madeira aqui. Então meu pai e seu Zeno fizeram um acerto com uns madeireiros de Caçador. Os madeireiros davam
210
a madeira e a Reunidas dava a mão de obra para construir as pontes e pon-tilhões. Mas como na época a Reunidas não tinha condição de pagar a mão de obra, foram eles mesmos, meu pai, seu Zeno e vários outros, acampar e construir os pontilhões, orientados por um carpinteiro que conhecia o negócio. Tudo isso para poderem passar com o ônibus e abrir a linha até Porto União.
Sandoval Caramori recordou outra situação em que seu pai foi ca-
paz de absorver-se inteiramente na execução de uma tarefa, aliás penosa:
Uma ocasião, ele foi buscar um chassi Scania na cidade de Campos, interior do Rio de Janeiro. Quando estava voltando e chegou na divisa com o estado de São Paulo, foi obrigado a parar e descer para apresentar a docu-mentação do veículo no posto rodoviário. Acontece que ele vinha dirigindo sentado em um banquinho de madeira, como se fazia naquele tempo para conduzir um chassi. A BR-116 ainda não era asfaltada, era chão puro. En-tão, para ir até o posto, meu pai teve antes de trocar as calças. As que ele estava usando tinham furado no traseiro, de tanto atritar com a madeira, com os solavancos da estrada. Quando chegou a Caçador, ele estava com o rosto todo queimado de sol, menos em redor dos olhos. Essa parte continuava branca, parecendo umas olheiras ao contrário. Como não havia para-brisa, ele tinha usado uns óculos de natação para dirigir.
EM 1966, A REUNIDAS alcançou São Paulo. Lembrando-se das difi-culdades enfrentadas para entrar no Paraná, desta vez Selvino Caramori preferiu antecipar-se e adquiriu 40% das cotas de sua maior concorrente, uma transportadora chamada União da Serra. A permissão foi usada para atingir a capital paulista a partir de Joaçaba. Esta tinha sido a primeira linha da União da Serra e agora era a primeira da Reunidas para lá. Em 1969 e no início de 1970, em outra negociação, a União da Serra foi adquirida na sua totalidade, permitindo a expansão dos serviços para o litoral de Santa Catarina e o oeste do Paraná. Também foram compradas a Empresa Ourinhos, da cidade de Curitibanos, e a Expresso Curitiba–Lages, em parte pertencente à Penha. Com isso, a empresa de Caçador, nascida tão
211
modestamente, ampliou seu raio de ação para numerosas outras cidades de Santa Catarina, colocando-se, já naquela época, entre as maiores do estado.
Concretizando um antigo interesse em penetrar no Rio Grande do Sul, em 1990 a companhia comprou a Empresa São Luiz, detentora de ligações entre Caxias do Sul e Lages, Florianópolis e Dionísio Cerqueira — ou seja, nas divisas com a Argentina, com o Paraná e com Santa Catarina. Ampliações de linhas possibilitaram à Reunidas, com essa compra, ligar Caxias do Sul também a Caçador e Francisco Beltrão.
Mais tarde, em 1971, quando o governo federal baixou o Regulamento do transporte interestadual e internacional de passageiros, foi iniciada nova série de aquisições. Datam daí as compras da Rio Negrinho, São Bento, Expresso Lages, Expresso Mondai e algumas outras. Uma troca de linhas com a Empresa Cattani viabilizou a chegada dos ônibus da Reunidas a Foz do Iguaçu, com a possibilidade de diversas conexões. E a compra da Brusquense abriu para a companhia o mercado da vasta região de Blu-menau, Timbó, Andaial, Brusque e Joinville. Em direção ao Sudeste, a ligação com São Paulo ganhou o reforço das linhas originadas em Tubarão, Florianópolis, Camboriú, Erechim, Dionísio Cerqueira e Uruguaiana, que se estenderam às cidades paulistas de São Carlos, Campinas e Sorocaba.
No rumo da Argentina, passaram a ser operadas na década de 1990 linhas internacionais para Posadas, Resistência, Corrientes e Córdoba.
A compra da Real Transporte e Turismo, de Passo Fundo (RS), foi uma das maiores transações em toda a história da Reunidas. O nome da empresa foi mantido, e preservadas suas linhas do Rio Grande do Sul para São Paulo, além da operação em toda a fronteira gaúcha (Passo Fundo, Erechim, Santa Rosa, Santo Ângelo).
Também foram abertas linhas de Santo Ângelo (RS) para Barreiras (BA), com 3.200 quilômetros de extensão e 72 horas de viagem. Os dire-tores da empresa falaram nessa linha com o orgulho herdado do pioneiro Selvino Caramori. Finalmente, foi estabelecida ligação com Palmas, em Tocantins, e com Vila Rica, em Mato Grosso. Ao todo, são atingidos dez estados, mais o Distrito Federal.
Quando Rúbio Gômara entrevistou a família, em 1994, a empresa fundada por Selvino Caramori havia se transformado no Grupo Reunidas, com atuação em mais segmentos. A área de cargas, por exemplo, respon-
212
dia por um faturamento praticamente igual ao do segmento de passagei-ros. A empresa Reunidas Indústria e Comércio, outra subsidiária, atuava como concessionária Bosch e desenvolvia projetos para prestar serviços de manutenção, retífica, recapagem de pneus e gráfica. Havia também uma revenda Fiat e uma empresa de processamento de dados prestando serviços para terceiros.
SELVINO CARAMORI morreu em 1989. Ouvida em 1994 por Rúbio Gômara, a viúva Therezinha Coelho de Souza Caramori mantinha intacta sua grande admiração pelo empresário. Haviam estado casados por 40 anos, sempre trabalhando juntos e sempre compartilhando a alegria de tocarem a empresa. O maior orgulho dela era ver que a obra deixada pelo marido não só se manteve firme como se tornou cada vez maior:
Se estivesse vivo, o Selvino ficaria muito orgulhoso dos rapazes. Não esmoreceram nunca, continuaram crescendo. É uma turma muito unida no trabalho, foi um exemplo que ele deixou. Eu também me orgulho muito deles. Falta, o Selvino está fazendo. Mas com o exemplo dele, nós vamos embora...
Entre as anotações deixadas por Rúbio Gômara, está registrado o seu apreço pela figura de Selvino Caramori, que ele qualificou como “um grande pioneiro e merecedor de um registro especial na história do trans-porte rodoviário de passageiros do Brasil”. Ele ainda acrescentou: “ Era pessoa a quem sempre dediquei alta estima e respeito. E era o empresário mais assíduo nas reu niões da Rodonal, demonstrando aquele seu espírito de liderança e sempre dando opiniões valiosas para os interesses da classe.”
A matriz da organização continua em Caçador, Santa Catarina. No mapa do Brasil, do estado do Paraná para baixo, a Reunidas é a maior empresa. E se a ela é acrescentada a Real, que pertence ao mesmo grupo, a diferença em relação às demais que operam na região fica ainda maior.
A primeira geração de veículos da Reunidas, entre 1950 e 1952. Operava entre Caçador e Lages.
No pátio da primeira garagem da empresa,
na década de 1960, um lote de cinco
novos chassis prontos para ser encaminhados
à encarroçadora.
A primeira jardineira nasceu de um caminhão Chevrolet Gigante ano 1946.
O veículo levava 12 horas para cumprir o percurso entre Caçador e Lages, via Campos Novos.
Foto
s: Ac
ervo
Reu
nida
s
O jovem Selvino Caramori (ao centro) engraxa os sapatos, tendo à sua esquerda Luis Caramori, seu pai.
Selvino Caramori durante visita à fábrica de ônibus da Mercedes-Benz em Campinas, SP.
Serviço rodoviário Pullman, um dos mais valorizados pelos passageiros nos anos 1960 pelo conforto do chassi Mercedes-Benz.
Ônibus da frota de carros-leito com
carroceria Marcopolo.
Foto
s: Ac
ervo
Reu
nida
s
215
ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH praticamente atravessou o País, do Sudeste ao Nordeste, para chegar ao cenário do seu triunfo. Até certo ponto, foi empurrado pelos acontecimentos. Tal como no caso de outros pioneiros, sua sorte esteve diretamente ligada ao desenrolar da Segunda Guerra Mundial.
Arthur Bruno nasceu no dia 5 de setembro de 1920, em Baixo Guandu, no estado do Espírito Santo. Seus pais, Maria Amélia e Pedro Schwambach Júnior, eram pobres e trabalhavam na lavoura e no comércio para manter os filhos. O pai morreu quando ele tinha 14 anos de idade. Sendo o filho mais velho, tocou-lhe a responsabilidade de assumir o sustento da família. Continuou trabalhando como agricultor, sacrificou o estudo e o lazer, e assim garantiu a manutenção dos irmãos e da mãe.
Aos 17 anos, foi convocado (por sorteio) para servir ao Exército. Encarou a convocação como garantia de um soldo com que manter a família, e, ao mesmo tempo, uma boa oportunidade para adquirir novos conhecimentos. Não a desperdiçou. Os recrutas podiam fazer cursos para mecânico de automóvel, motorista e datilógrafo. Arthur fez os três. Sua intenção era conseguir um emprego estável depois que desse baixa.
A Segunda Guerra se desenrolava na Europa e havia possibilidade de o Brasil vir a tomar parte no conflito. Ainda não tinha havido uma definição quanto a isso quando o rapaz foi transferido para o 1o Batalhão de Engenharia, na Vila Militar, na cidade do Rio de Janeiro. Para grande preocupação de sua mãe, com a transferência aumentaram as possibili-dades de Arthur Bruno ser incorporado à futura Força Expedicionária
real alagoaS de viação ltda.
arthur bruno SchWambach
1951
216
Brasileira, embora fosse arrimo de família. O País iniciava os preparativos para a hipótese de ter de enviar um contingente de oficiais e soldados aos campos de batalha da Itália.
A incorporação à FEB pareceu mais próxima ainda com o seu des-locamento para Natal, no Rio Grande do Norte, onde os Estados Unidos haviam instalado uma base militar. A seguir, houve mais uma transferência, desta vez para o Recife. Durante todo o tempo, Arthur Bruno continuava mandando a maior parte de seu soldo para a família, que permanecia no Espírito Santo.
Ele ainda acreditava na possibilidade de embarcar para a Itália quando o conflito mundial terminou. Enquanto isso, havia conquistado sucessivamente as promoções a 3o e a 2o sargento. Foi então transferido para Campina Grande, Paraíba, e promovido a 1o sargento. Decidiu continuar na tropa por mais algum tempo.
Acabou ficando seis anos. Somente em junho de 1951, ainda em Campina Grande, Arthur Bruno pediria baixa do Exército. Já vinha ama-durecendo o projeto de montar uma pequena empresa de transporte de passageiros, e assim que deixou a Arma passou imediatamente à ação. Começou com um único ônibus, construído sobre o chassi de um ca-minhão Chevrolet 1946, e um só funcionário, que era ele próprio. Os conhecimentos de mecânica automotiva adquiridos naqueles anos lhe seriam agora de muita utilidade. Dirigia de dia e, à noite, fazia os consertos necessários, além da limpeza do veículo. Assim nasceu a Borborema. Havia em Campina Grande uma companhia chamada Rainha da Borborema. Pediu e obteve a autorização dos proprietários para usar o mesmo nome na cidade do Recife.
Não houve mágica, mas muito trabalho. Seu sucesso dependia fun-damentalmente dele próprio e, principalmente, da sua certeza de que, somente fazendo muita economia e reinvestindo no negócio tudo o que pudesse, teria a chance de construir uma empresa. Por isso, entrou de corpo e alma na atividade. Sua primeira linha urbana ligava a Casa Amarela, no centro da cidade, ao bairro de Nova Descoberta. Peças e componentes necessários para manter o veículo rodando eram comprados em ferro-velho, e recondicionadas por ele. O velho ônibus tinha que vencer ruas cheias de buracos e de lama, e ainda disputar espaço com as carroças e carros de boi.
217
Também era preciso dividir todo o dinheiro que entrava: uma parte ia para as atividades de cultivo das terras deixadas pelo pai, no Espírito Santo; a outra era empregada na expansão do negócio de ônibus. Nada era desperdiçado. Comprava para ele somente o indispensável, aquilo que não podia ser deixado para depois. Naqueles tempos difíceis, nunca lhe faltou o apoio de sua mulher, Augusta, a quem conhecera no Rio Grande do Norte, e dos filhos Pedro, Maurício e Zélia, ainda pequenos. Com tanto esforço, em quatro anos, conseguiu montar uma frota de 30 ônibus GMC, que usuários irreverentes apelidaram de chocadeiras, por serem muito quentes. Em 1959, conseguiu adquirir seus primeiros ônibus Mercedes-Benz LP 312, muito mais confortáveis, com encarroçamento Caio, Cermava e Grassi.
Mais tarde, Arthur Bruno Schwambach ingressou na operação de linhas intermunicipais e interestaduais, não sem antes examinar todas as possibilidades, adotar todos os cuidados e certificar-se exatamente do que estava fazendo. Certa vez, por exemplo, estava interessado em adquirir uma operadora alagoana chamada Empresa Santanense. Chamou um funcionário de sua confiança e pediu-lhe que fizesse várias viagens em ônibus da Santanense. Depois de uma semana e idas e vindas, o funcionário elaborou um relatório com as informações de que Schwambach precisava para tomar a decisão. A compra foi feita e a empresa passou a chamar-se Real Alagoas. Opera transporte interestadual.
O modo peculiar como o empresário vê os negócios orientou o crescimento e o desenvolvimento das empresas do Grupo Borborema. Ele sempre achou que, por si só, o aumento da demanda por transporte não devia bastar aos objetivos da Borborema. Por isso, trabalhou na racionaliza-ção e na perfeita adequação dos serviços à realidade do mercado regional. Foi esse o motivo pelo qual preferiu não estender demasiadamente suas linhas, mesmo quando as oportunidades apareceram.
No decorrer dos anos, o empreendimento cresceu e a marca Borbo-rema tornou-se cada vez mais conhecida pela qualidade e eficiência dos seus serviços. Novas frentes de negócios foram abertas e outras empresas vieram para o Grupo Borborema, entre elas a Borborema-Imperial, a Real Alagoas de Viação (Maceió), a Rodoviária Borborema e a Real Transportes Urbanos, além de concessionárias de automóveis e caminhões.
218
Quanto às terras que um dia seu pai, seus irmãos e ele haviam trabalhado com tanto sacrifício no município de Baixo Guandu, Espírito Santo, não só foram mantidas como acrescidas de novas áreas. Passaram a formar as Fazendas Reunidas Porto Final. São mais de 2.200 hectares, destinados ao desenvolvimento de atividades pecuárias.
A terceira geração da família Schwambach já participa ativamente das tarefas de administração do Grupo Borborema em seus vários ramos de atividade.
Coletivo puxado por caminhão FNM, experiência da Borborema na década de 1950.
O ônibus O 321, elogiado pela suspensão macia e o motor silencioso, também integrou a frota da empresa nos anos 1950 e 1960.
Foto
s: Ac
ervo
Gru
po B
orbo
rem
a
O O 321 em outra empresa do mesmo
grupo, criada por Arthur Schwambach
para operar entre Recife e Rio
de Janeiro.
Carro integral (carroceria e plataforma) da Mercedes-Benz, da empresa Real Alagoas, operando na linha Maceió–Recife.
Arthur Bruno Schwambach
Foto
s: Ac
ervo
Gru
po B
orbo
rem
a
221
O BRASIL ENTROU na Segunda Guerra Mundial em julho de 1942. Não foi uma decisão tomada da noite para o dia, ao contrário. Exigiu muita negociação, envolvendo aspectos estratégicos, geopolíticos e econômicos.
A decisão representou o amadurecimento de todo um processo do qual participou boa parte da sociedade brasileira. A demora em assumir uma posição refletiu, além disso, a nítida divisão existente no seio do go-verno ditatorial de Getúlio Vargas; no Congresso Nacional; no universo empresarial e na própria população. Em dado momento, o País dividiu suas simpatias entre Alemanha e Estados Unidos. No âmbito do governo, vários dos principais auxiliares diretos de Vargas — a começar dos altos escalões militares — defendiam o alinhamento à Alemanha e à Itália. Outros integrantes do governo, igualmente influentes, achavam fundamental a formalização de uma aliança estratégica com os Estados Unidos. O ditador ouvia os dois lados e acenava amistosamente ora para os Aliados, ora para os países do Eixo. Tentava negociar. Getúlio considerava que o Brasil ti-nha pelo menos duas grandes carências que bem poderiam ser supridas se soubesse capitalizar aquele momento: a de reequipar suas Forças Armadas e a de implantar a grande siderúrgica que iria produzir o aço com que impulsionar a industrialização. Dessa forma, quando os Estados Unidos finalmente reconheceram a importância estratégica da costa brasileira no contexto do conflito mundial, tornando-se mais propositivos, e assim conversações prosperaram e puderam ser concluídas. Os norte-americanos atenderiam às duas condições, entregando o armamento de que o Brasil necessitava e fornecendo tecnologia e equipamentos para a construção e
viação cidade do aço ltda.
geraldo ozório rodrigueS
1951
222
a implantação da siderúrgica. Como parte do acordo, os Estados Unidos receberam a pleiteada autorização para instalar uma base no estado do Rio Grande do Norte. Era o começo da história da Companhia Siderúrgica Nacional.
A CSN foi criada no dia 9 de abril de 1941. Com base em estudos de clima, solo, transporte e localização dos mercados consumidores, a Comissão do Plano Siderúrgico escolheu a localidade de Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro, para sua instalação. O minério a ser processado viria de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, e Santa Catarina forneceria o carvão betuminoso, transportado por via marítima e ferroviária. O primeiro estágio da usina entraria em operação em 1946, já depois do fim da guerra.
(Aqui, cabe destacar que os resultados daquelas negociações se pro-jetariam sobre o futuro do País, permitindo alcançar um novo estágio de desenvolvimento e ajudando a criar as condições, por exemplo, para a implantação da indústria automobilística. Esta, por sua vez, possibilitaria a opção pelo rodoviarismo, com a construção de estradas e a implementação de um sólido sistema de transporte rodoviário de cargas e de passageiros.)
As obras para concretização do projeto da CSN geraram significativo volume de novos empregos em Volta Redonda, onde, no entanto, ainda não fora implantado um setor de moradias. Os trabalhadores tinham de ficar alojados em Barra Mansa, havendo, portanto, necessidade de trans-porte entre as duas cidades. No início, para o deslocamento do pessoal, eram utilizados os mesmos caminhões que, em outros horários, faziam o transporte das cargas. A empresa responsável pela prestação dos dois ser-viços pertencia a José Ferreira de Matos. Foi ele, portanto, o pioneiro do transporte na região. Mandou fabricar carrocerias de madeira, um tanto precárias, e iniciou o serviço de transporte por ônibus. Nos anos seguintes, o movimento cresceu no mesmo passo da expansão da cidade de Volta Redonda, que recebia gente de todo o Brasil, vinda para trabalhar na side-rúrgica. A empresa de Ferreira de Matos já operava com 20 ônibus — ainda assim insuficientes. Os trabalhadores do turno da noite, principalmente, tinham dificuldades de transporte.
Por essa época, em Barra Mansa, os irmãos Ozório Rodrigues atuavam na extração de madeira, produção de dormentes ferroviários e fabricação de
223
carvão vegetal. Os dormentes eram destinados à Estrada de Ferro Central do Brasil e à Light, que explorava o serviço de bondes da então capital brasileira. O mais velho dos irmãos — Geraldo — teve a ideia de lançar uma segunda linha de ônibus entre Volta Redonda e Barra Mansa, cuja operação, obviamente, dependia de concessão das autoridades. O pedido foi feito, mas negado, para não ferir os direitos adquiridos por José Ferreira de Matos.
No entanto, junto com a negativa, as autoridades sugeriram a aber-tura de uma linha de lotação. Geraldo Ozório Rodrigues associou-se aos fazendeiros Iraci Cambraia e Francisco Balte, seus amigos e, em 1951, a linha de lotação entre Barra Mansa e Volta Redonda começou a funcionar. Como o tráfego iria até a siderúrgica, mesmo tendo sido registrada em Barra Mansa, decidiram que a empresa teria o nome de Viação Cidade do Aço.
Ao contrário do que era comum naquele tempo, a Cidade do Aço não utilizou automóveis no serviço de lotação, mas jardineiras, com capacidade para 12 a 16 passageiros. A ideia deu certo; nos horários de maior procura, os carros das duas empresas operavam sempre lotados. A diferença se percebia nos horários de menor movimento, quando os carros do serviço de lotação chegavam a deslocar 60 passageiros, enquanto os ônibus da linha de José Ferreira de Matos, mesmo com tarifa 50% menor, trafegavam quase vazios.
A VISÃO PARA OS NEGÓCIOS havia se revelado muito cedo na vida do mineiro Geraldo Ozório. Nascido em área rural, no ano de 1911, na localidade de Passa Vinte, foi aluno do único internato da região naquela época, o Colégio Pedro Vaz, em Barra Mansa. Fez lá somente o curso primário: seu pai morreu, vitimado pela pneumonia, e ele, com apenas 12 anos, teve de começar a trabalhar para garantir o sustento da família (Maria Ignácia Rodrigues, a mãe, e mais seis irmãos — Olívio, Raimundo, Luiz Ozório, Maria Aparecida, Laudelina e Nair). Com exceção de uma das irmãs, que tinha 13 anos, todos os outros eram mais novos que ele. Foram anos difíceis, como recordou o veterano empresário em fevereiro de 1993, quando, já com 82 anos de idade e ostentando o título de comendador, conversou com Rúbio Gômara:
224
Quando meu pai morreu, fui trabalhar com um tio. Estive com ele
por muitos anos. Infelizmente, os negócios não foram muito bem naqueles idos de 1930, 1932, com revoluções em Minas, ameaças do integralismo, aqueles movimentos todos da época. As organizações viviam em dificulda-des, até mesmo o Estado. Eu me lembro de que meu tio, que tinha uma serraria, uma vez forneceu madeira para o estado de Minas, que não teve como pagar. Foi assim que eu e meus irmãos resolvemos tentar a sorte no trabalho com carvão vegetal. Na época, o mercado do Rio de Janeiro era grande consumidor do produto.
As dificuldades e a experiência acumulada permitiram a Geraldo Ozório Rodrigues desenvolver a capacidade de quase sempre optar pelas melhores alternativas em vários momentos de importância para a vida da empresa. Um deles, ocorrido ainda em seus primeiros tempos, era parti-cularmente lembrado pelo fundador, provavelmente por ter significado um ponto de inflexão nas atividades da companhia.
Quando as empresas Pássaro Marron, Eva e São José, que pertenciam ao grupo do seu Affonso Teixeira, entraram em dificuldades, amigos nossos sugeriram que um pedido da Cidade do Aço para implantar uma segunda linha de ônibus de Barra Mansa para o Rio de Janeiro, em concorrência com a Viação São José, poderia ser bem visto pelos poderes concedentes. Entramos com o pedido junto ao DNER, que era quem autorizava novas linhas, mas verificou-se que a empresa Passo Fundo já tinha essa concessão. Tivemos novamente a lembrança de requerer uma linha de lotação, mas a lei nos facultava operar com micro-ônibus. Escolhemos essa opção, pedimos a linha e comprovamos que o usuário tinha dificuldade de locomoção para o Rio de Janeiro. E assim nos foi concedida a linha de micro para o Rio. Eu me lembro de que o diretor do Departamento era Edmundo Régis Bittencourt. Essa concessão acabou sendo muito importante para a história da Viação Cidade do Aço.
Obtida a permissão, a Cidade do Aço passou a operar com micro--ônibus entre Barra Mansa e Rio de Janeiro, além de manter a linha de
225
lotação que ligava Barra Mansa a Volta Redonda. Como as dificuldades da Pássaro Marron persistiam e ela decidiu vender algumas de suas linhas, Geraldo Ozório Rodrigues entrou em negociações com a companhia e comprou Rio de Janeiro–Barra Mansa, Rio de Janeiro–Resende, Rio de Janeiro–São José dos Campos, Rio de Janeiro–Itajubá, Rio de Janeiro–Ca-xambu e Rio de Janeiro–Angra dos Reis. Vários dos ônibus que operavam essas linhas estavam em más condições; enquanto providenciava a substitui-ção, a Cidade do Aço utilizou micros. No curto prazo, ainda foi favorecida por uma decisão do DNER. O Departamento criou duas tarifas diferentes, uma para os ônibus e outra, um pouco mais alta, para os micro-ônibus, em virtude da melhor qualidade no transporte que ofereciam. Mais tarde, devido ao grande volume de tráfego de micro-ônibus na Via Dutra, e ao fato de esses veículos trafegarem com lotação tão limitada, cobrando mais caro e congestionando uma via importante para a malha rodoviária, o Departamento novamente unificou o preço das passagens. Mais uma vez, Geraldo Ozório escolheria o caminho correto:
Decidi então cancelar a linha de micro-ônibus para o Rio de Janeiro e colocamos a frota nas estradas de terra aqui da região. Elas nunca eram asfaltadas, apesar de, de tempos em tempos, saírem verbas para as obras. Enfrentamos os desafios e conseguimos vencer. A empresa alcançou muito sucesso, teve épocas de dar muita alegria e muita satisfação. Certa ocasião, o senhor Régis Bittencourt mandou fazer uma estatística e verificou-se que, naquele período, a empresa transportou 80 milhões de passageiros sem um único acidente fatal, nenhum acidente que tivesse tirado a vida de algum usuário. O único acidente fatal foi de um carona, um soldado que forçou a entrada no ônibus do Rio de Janeiro. O ônibus sofreu um acidente, a porta se abriu e ele caiu, vindo a falecer. Na estatística do DNER, a Viação Cidade do Aço obteve um índice muito bom, inclusive superando empresas de todo o mundo. Recebemos então um título de Segurança no Transporte Rodoviário de Passageiros. A não ser pequenos acidentes, por motivo de freadas bruscas para evitar choques com animais na pista, quando às vezes os passageiros acabavam sofrendo alguns arranhões, nenhuma vida jamais foi perdida, a não ser no caso já citado. Jamais tivemos qualquer tipo de discussão com indenização, o que para nós sempre foi motivo de grande satisfação.
226
Também motivo de satisfação para Geraldo Ozório Rodrigues eram as referências, sempre elogiosas, que os órgãos do poder concedente, e mesmo empresas concorrentes, faziam a respeito da Cidade do Aço:
Sempre fomos citados como empresa modelo para qualquer empresário que quisesse se engajar no ramo do transporte rodoviário.
Justamente por ser bem reputada, a companhia foi convidada pelo
DNER para entrar na linha Rio–São Paulo, ao lado da Viação Cometa e do Expresso Brasileiro. Já havia operado essa linha durante três anos, em caráter precário. Na mesma época, recebeu um segundo convite: criar a nova linha do Rio de Janeiro para Brasília.
Geraldo Ozório tinha uma explicação para a eficiência e os bons serviços prestados pela Cidade do Aço: nela havia implantado, segundo disse, um regime “quase de ditadura”, única forma, ele achava, de evitar que o funcionamento da companhia deixasse a desejar. A frota de 80 a 120 ônibus às vezes rodava 20, 30 dias sem que fosse preciso trocar uma correia de ventilador ou um pneu na estrada. Além da garagem bem equipada, havia montado uma boa equipe de manutenção.
Na verdade, os cuidados começavam bem antes, na hora de selecionar e contratar os motoristas. Em princípio, a empresa só aceitava profissionais com no mínimo cinco anos de experiência em estradas longas, e depois de aprovados em testes de sono e resistência. Houve até o caso de um moto-rista que já tinha trabalhado por 12 anos em uma concorrente conhecida nacionalmente por seu alto nível de exigências, e que não passou nos testes da Cidade do Aço. Geraldo Ozório orientava tudo pessoalmente. Exigia muita disciplina do motorista. Por mais tempo de casa que ele tivesse, nada fora das normas era permitido. Ser visto fumando durante o trabalho, por exemplo, podia ser motivo para demissão. Durante os 20 anos de sua administração, sempre existiu um livro de ocorrências onde era assentado tudo o que o motorista fazia, de bom ou de mau, conforme o julgamento do passageiro. No caso de uma ocorrência, o apontamento era assinado pelo passageiro, por testemunhas e pelo próprio motorista. Nos últimos tempos da era Geraldo Ozório não eram mais contratados motoristas fumantes.
227
Administrada de maneira eficiente, no decorrer dos anos a companhia pôde crescer com segurança, levando suas linhas a várias cidades dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sempre tendo como referência geográfica a capital, Rio de Janeiro. Quando, por exemplo, a empresa Evanil perdeu sua concessão, a Cidade do Aço foi chamada a operar suas linhas e chegou a Caxambu. Por muitos anos, também fez Rio–Itajubá. Mais tarde, requereu e obteve a linha Cruzeiro–São Lourenço, expandindo-se ainda para Três Corações e chegando a São José dos Campos e Juiz de Fora.
Porém, segundo Geraldo Ozório Rodrigues, no caso do convite para continuar fazendo a linha Rio de Janeiro–São Paulo, a empresa amargou uma decepção. Por ser o percurso excessivamente longo para ser coberto com carros fabricados no Brasil, a Cidade do Aço entrou com um pedido de Licença de Importação de 100 ônibus GM, idênticos aos da Viação Cometa, mas o pedido foi negado. As autoridades justificaram que estava sendo iniciada no Brasil a fabricação dos ônibus Mercedes-Benz. Diante disso, a Cidade do Aço preferiu não participar da linha. O Expresso Bra-sileiro e a Cometa permaneceram. Posteriormente, como está registrado em outro capítulo deste livro, o Expresso Brasileiro enfrentou o mesmo problema quando tentou importar ônibus de fabricação norte-americana.
EM 1993, QUANDO FOI entrevistado por Rúbio, fazia 21 anos que Ge-raldo Ozório Rodrigues não era mais o controlador da Cidade do Aço. Em 1972, havia passado o controle acionário aos irmãos Ariel Curvello, Abel-mar Curvello e Aldemir Curvelo. Mas até mesmo a decisão de se desfazer do negócio parece ter sido inspirada na sabedoria adquirida em muitos anos de trabalho, dedicação e conhecimento do ser humano. Vender a empresa, segundo ele, foi uma forma de liberar seus filhos para buscarem outros caminhos e se preservarem de frustrações que poderiam advir de uma atividade que vinha mudando muito rapidamente, com boa margem de imprevisibilidade:
Nós tínhamos um exemplo de organização e prestávamos um serviço público excelente. Disso eu tinha total certeza, pois eu mesmo só viajava nos
228
ônibus da empresa. Meu carro seguia do Rio para Barra Mansa, enquanto eu usufruía o conforto e a tranquilidade de seguir de ônibus, três, quatro vezes por semana, aproveitando para ver de perto todo o funcionamento do serviço. Com luta, seriedade e organização, construí uma empresa que, eu sabia, estava deixando para os meus filhos. Por isso, nunca consegui entender que, eventualmente, pessoas inescrupulosas se acercassem para tentar extrair vantagens indevidas. Assim, acabei desistindo da ideia de deixar para os meus filhos esse tipo de negócio. Eu já estava com minha vida realizada e vendi a empresa para não ter de nos sujeitar.
Apesar de ter-se desfeito da companhia, Geraldo Ozório nunca dei-xou de acompanhar sua trajetória. Ao referir-se aos novos controladores, qualificou-os de “pessoas dinâmicas, progressistas e organizadas”, e fez um prognóstico:
Tenho a certeza de que elas continuarão a merecer os títulos con-quistados pela empresa ao longo dos anos. Ainda agora estão terminando a construção de uma grande garagem, que dizem ser modelo. Ainda não visitei, querem me fazer uma surpresa, deixando a visita para a inauguração. É com muita honra que verifico que a Viação Cidade do Aço está progredindo cada vez mais.
E, de fato, naquele momento — fevereiro de 1993 — os novos donos estavam construindo o Parque Rodoviário, que passaria a abrigar a sede da empresa e suas principais instalações e serviços. Sob a direção de um executivo experiente, Joel Fernandes, também estava colocando em prá-tica uma política de investimentos contínuos em modernização da frota, qualificação dos colaboradores e ampliação dos serviços.
Nas mãos dos novos controladores, a Viação Cidade do Aço iniciou nova e vigorosa etapa de crescimento e modernização. O Parque Rodoviá-rio, construído às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, foi inaugurado em fevereiro de 1995 e representaou um importante salto em direção à qualidade total, transformada em política permanente pelo diretor executivo Joel Fernandes.
A frota que fazia a primeira rota da empresa. Os ônibus logo conquistaram a preferência dos passageiros, embora uma concorrente fizesse a mesma linha.
Em 1967, entraram em operação os novos Mercedes-Benz para viagens longas de turismo.
Foto tomada quando os ônibus da Cidade do Aço começaram a operar sua primeira linha, de Barra Mansa ao então distrito de Volta Redonda.
Foto
s: Ac
ervo
Cid
ade
do A
ço
Abelmar Curvello, um dos donos da Cidade do Aço,
homenageia com uma placa de prata o fundador
da empresa, Geraldo Ozório Rodrigues.
Vistos em dois ângulos, os ônibus Mercedes-Benz O 355, que eram operados em 1972.
1982: conforto ainda maior para os passageiros com o Diplomata Nielson montado sobre chassi Mercedes-Benz.
Foto
s: Ac
ervo
Cid
ade
do A
ço
Div
ulga
ção
231
EM 1941, O LAVRADOR Francisco Soares da Costa Filho, mais co-nhecido como Seu Chiquinho, decidiu trocar o trabalho na zona rural de Vassouras, no interior do estado do Rio, pela atividade de comércio. Reuniu economias, transferiu-se para a cidade e comprou um imóvel na então Av. Centenário, onde instalou uma padaria. Pai de oito filhos (sete homens e uma mulher), pôs os quatro mais crescidos para ajudá-lo no negócio. Trabalhou ali por mais de dez anos até decidir se aposentar. Mas antes, em 1952, constituiu a empresa Irmãos Soares Ltda. e entregou a padaria aos filhos Francisco, Arlindo, Hélio e Aladyr, para que continuas-sem tocando o negócio.
Naquele mesmo ano, uma pequena empresa de ônibus da cidade foi posta à venda. Seu Chiquinho e os filhos examinaram as duas jardi-neiras Ford oferecidas, com carrocerias de madeira e movidas a gasolina. Compraram. A partir daí, os quatro rapazes, ajudados pelo quinto e pelo sexto irmãos, Paulo e José Carlos, passaram a se revezar nas duas ativida-des: Francisco, Arlindo, Hélio e Paulo na padaria, Aladyr e José Carlos na empresa de ônibus, batizada de Viação Progresso.
As duas jardineiras operavam uma única linha, urbana, a Estação–Hos-pital, mas, cinco meses depois, os irmãos Soares compraram uma segunda, também pequena, entre Vassouras e Juparana. Quatro anos mais tarde, em 1956, conseguiram a concessão para operar a linha Vassouras–Barra Mansa.
Embora o retorno fosse lento, o empreendimento era seguro. Tanto que, em 1958, eles decidiram vender a padaria para comprar uma segunda empresa de ônibus, a Viação Nossa Senhora Aparecida, de Barra do Piraí.
viação progreSSo e turiSmo S. a.
Famíia SoareS da coSta
1952
232
O primeiro ônibus Mercedes-Benz, movido a óleo diesel, foi adquirido no mesmo ano, justamente para servir a linha Vassouras–Barra do Piraí. A sede das duas empresas foi transferida para Barra do Piraí.
Com mais cinco anos, adquiriram uma linha da empresa Rivera, que fazia a linha Barra do Piraí–Três Rios. No ano seguinte, 1964, com-praram a empresa Manchester, com 12 ônibus, e a Viação Popular, com dez, passando a interligar Barra Mansa e Juiz de Fora. Nesse mesmo ano, o irmão mais velho, Francisco Soares da Costa filho, deixou a empresa. Em 1968, José Carlos morreu em um acidente. Em 1972, também Aladyr saiu.
Arlindo, Hélio e Sebastião, que continuaram na direção da companhia, sentiram que teriam de se desdobrar para suprir a ausência de Aladyr, bom mecânico e responsável por toda a manutenção, um dos pontos fortes da Progresso. Hélio Soares assumiu as funções, como contou a Rúbio Gômara:
A primeira coisa que fiz foi entrar em contato com a Mercedes-Benz e pedir uma orientação. Ela nos mandou um técnico, que muito nos ajudou. Conversando com ele, fiquei sabendo que estava pensando em sair da Mer-cedes, e convidei: “Se sair de lá, você não quer passar uns seis meses aqui na empresa?” Ele aceitou o convite, veio para cá e orientou o nosso pessoal. Hoje, todos os empregados que temos, mecânicos, eletricistas, foram feitos na empresa, não tem ninguém que veio de fora.
Segundo Hélio Soares, pelo menos no caso da Viação Progresso e Turismo, a política de formar seus próprios profissionais, inclusive na área de manutenção, sempre deu os melhores resultados:
Acho que isso nos ajudou a chegar ao ponto a que chegamos. Não sei se nos dias atuais a gente teria condições de repetir o que foi feito. As coisas estão muito mais difíceis, já não há muita gente com paciência para aprender. Esta é uma questão que nos preocupa e sempre tratamos dela com nossos filhos: é preciso cuidar muito bem dessa parte dos serviços, ter uma boa manutenção, porque se a empresa chega a um determinado ponto e depois cai, para levantar de novo é difícil. Nós temos um bom número de empregados já com bastante tempo na empresa, e eu sempre digo que a gente tem que zelar por eles.
233
Fiel a essa orientação, desde a década de 1970 a Viação Progresso adotou a política de premiar motoristas e outros colaboradores com mais de dez anos de casa.
Seu Chiquinho viveria até 1973. Após sua morte, os filhos seguiram no ramo e, sempre que possível, fizeram novas aquisições de linhas e em-presas. Uma delas, bastante importante, ocorreu em 1975, envolvendo a Viação Salutaris, com a transferência de 32 ônibus, uma garagem em Três Rios, uma em Paraíba do Sul e 13 linhas intermunicipais que operavam em Três Rios, Paraíba do Sul e Petrópolis. Com isso, a sede da empresa foi de novo transferida, desta vez para Três Rios.
Não foi a última compra. Uma década mais tarde, em 1984, foram incorporadas cinco novas linhas até então operadas pela Viação Pedro Antônio, entre elas Barra Mansa–Carangola, Barra Mansa–Muriaé e Vas-souras–Paracambi. O negócio incluiu ainda 22 ônibus, uma garagem em Barra Mansa e outra em Carangola. Hélio Soares contou a Rúbio Gômara que a Progresso enfrentou momentaneamente alguma dificuldade ao assu-mir a linha Barra Mansa–Carangola. Passageiros não habituados à cultura da empresa, de respeito aos limites de velocidade, andaram meio arredios:
Nós sempre gostamos de preservar a segurança, mas o próprio pas-sageiro, às vezes, quer entrar no ônibus e fazer a viagem em menos tempo. Naquela ocasião, chegamos a ouvir de alguns o comentário de que a Pro-gresso era “roda presa”. Notamos inclusive que, nessa linha, transportáva-mos muitos passageiros no sentido Barra Mansa–Carangola, e poucos no sentido inverso. Com o passar do tempo, conseguimos empatar o número de passageiros nos dois sentidos. Para nossa surpresa, a partir de determinado momento passamos a receber cartas de passageiros que, ao invés de dizerem que éramos “roda presa”, elogiavam o conforto da viagem, a pontualidade e a ausência de quebras.
A entrada da terceira geração nos negócios se deu a partir de 1987, quando Arlindo, Hélio e Sebastião, os três irmãos remanescentes da socie-dade original, atentos à vocação e ao interesse que seus filhos e sobrinhos demonstravam pela empresa, decidiram afastar-se da direção e se tornaram
234
sócios-conselheiros. Em 1989, foi adquirida da Viação Pedro Antônio a linha São João Nepomuceno–Rio de Janeiro.
Entrevistado por Rúbio Gômara em 1993, Hélio afirmou:
Hoje, quando paramos e olhamos, ficamos admirados de ver onde conseguimos chegar. Podemos dizer que viemos do nada, sempre lutando e trabalhando. Todos os três temos somente o curso primário.
Em 1993, a Progresso passou a atuar também na área de cargas e encomendas. Para isso, criou e estruturou a Procargas, com lojas distri-buídas por várias cidades da região. Também foi adquirida a linha São João Nepomuceno–Rio de Janeiro. A desconcentração das linhas tornou aconselhável manter garagens — próprias ou alugadas — em Três Rios, Juiz de Fora, Além Paraíba, Carangola, Muriaé, Barra Mansa, Vassouras, Petrópolis e São José do Rio Preto.
A terceira geração da família Soares continua firme à testa dos ne-gócios da Viação Progresso, cuja sede se mantém em Três Rios, estado do Rio de Janeiro. Como resultado da implantação de um novo mode-lo de governança corporativa, foi modificada a estrutura administrativa, instituindo-se o Conselho de Família, ao lado da Diretoria e do Conselho de Administração.
Jardineira utilizada nos primeiros anos de atividades da empresa.
A Progresso cresceu valorizando a manutenção criteriosa e a utilização do melhor equipamento disponível no mercado para garantir os requisitivos mais elogiados pelos seus passageiros: conforto, pontualidade e ausência de quebras.
Acer
vo V
iaçã
o Pr
ogre
sso
Acer
vo R
odon
al
O ônibus Marcopolo Viaggio que recebeu a pintura comemorativa dos 50 anos da empresa.
Arlindo Soares da Silva, Esmeraldina Vieira Soares e Paulo Soares.
Foto
s: Ac
ervo
AB
RAT
I
237
NA ÉPOCA EM QUE Rúbio Gômara realizou as entrevistas para este livro, o Grupo Santa Cruz, de Mogi Mirim, estado de São Paulo, forma-do por três empresas de transporte rodoviário de passageiros, atravessava uma fase muito importante para o seu futuro. O grupo decidira dar maior ênfase à política de investir na compra de veículos voltados à prestação de serviços especiais do tipo executivo e de turismo. A opção permitiu que a empresa ganhasse impulso ainda maior e ampliasse sua atuação na área de fretamento contínuo para indústrias e outras empresas.
Há muitos anos o planejamento e a execução cuidadosa dos projetos faz parte da cultura do Grupo Santa Cruz, do mesmo modo como esteve presente em cada etapa da vida da empresa Viação Santa Cruz, desde o momento em que foi formalmente constituída, em 1958, e mesmo antes, em 1952, quando Eugênio Mazon comprou uma pequena jardineira para transportar diariamente um grupo de 14 estudantes entre as cidades de Araras, Conchal e Mogi Mirim.
Outro ingrediente dessa história certamente foi a visão de negócio de Mazon, um homem que, enquanto trafegava com seu modesto veículo pelas desconfortáveis estradas de terra de então, conseguia ver à frente o impulso desenvolvimentista que seria trazido pelas estradas asfaltadas e pelas nascentes indústrias da região da Baixa Mogiana.
Um começo modesto, como se viu, até que se tornasse possível estru-turar a Viação Santa Cruz. Muitos anos depois, Laércio Fernando Mazon, um dos filhos do fundador, diria que a companhia nada mais era do que o fruto de um sonho realizado com muita ética e respeito. E recordaria:
viação Santa cruz S. a.
eugênio mazon
1952
238
O início foi cheio de dificuldades e sonhos. Sonhos estes conquistados e realizados por Eugênio Mazon, que, sem nenhum medo de errar, com to-das as dificuldades possíveis, sem dinheiro nem escolaridade, sem estradas na época, sem veículos nas condições que temos hoje, já tinha o sonho de transportar pessoas.
O sonho ganhou nome próprio em 1958, quando o pequeno em-presário atingiu condição financeira suficiente para a aquisição de um veículo mais adequado ao que tinha em mente. Na época, como contou a filha Ana Tereza Mazon, a família morava em uma chácara chamada Santa Cruz. Ali havia uma fonte também chamada Santa Cruz e Eugênio Mazon não precisou pensar muito para batizar a empresa.
Ao registrá-la, Mazon decidiu, de antemão, que ela se dedicaria não mais apenas ao transporte intermunicipal, mas também a fretamento e turismo. Entendia que esses segmentos vinham evoluindo na região e apresentavam grande potencial de desenvolvimento. Era uma aposta, e, portanto, para bancá-la, a Santa Cruz teria de investir em tecnologia e conforto para os passageiros. Começou comprando o seu primeiro ônibus, um Ford F 600, veículo que as primeiras empresas-clientes logo aprovaram.
A partir da definição correta das áreas de atuação, o empreendimen-to registrou crescimento acentuado na década de 1960, e a Viação Santa Cruz sentiu-se encorajada a ingressar também no segmento de transporte coletivo urbano. Passou a operar linhas circulares nas cidades de Mogi Mirim e Araras. Foi ainda adquirida a linha entre as cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu.
Outro momento decisivo ocorreu na década de 1970, quando a região da Baixa Mogiana entrou em uma fase mais dinâmica de cresci-mento econômico, com a instalação de maior número de indústrias e incremento do setor de turismo. A demanda por serviços de transporte de pessoas aumentou. A Santa Cruz comprou então o seu primeiro lote de ônibus no tipo monobloco, modelo O 321, da marca Mercedes-Benz. A passagem para a tecnologia de chassi e carroceria integrais representou mais um importante passo na política da empresa de oferecer sempre mais conforto e segurança aos passageiros.
239
Ao mesmo tempo que melhorava e ampliava a frota, a companhia analisava as alternativas de crescimento ensejadas pelo mercado de trans-porte rodoviário de passageiros. Para ampliar os horários de atendimento em viagens para São Paulo, foram adquiridas as empresas Viação Bizzac-chi e Rápido Pinhal. Mais tarde, no início dos anos 1980, a Santa Cruz assumiu o controle da Expresso Cristália, da cidade de Itapira e operadora de serviços intermunicipais no estado de São Paulo. Da aquisição resultou um grupo empresarial mais sólido. O volume de passageiros transportados cresceu, os serviços de ambas as empresas foram aprimorados e criaram--se mais empregos e benefícios. Algum tempo depois, também passaram a contar com os serviços da Viação Santa Cruz as cidades de Poços de Caldas e Andradas, em Minas Gerais, assim como a cidade paulista de Espírito Santo do Pinhal.
Como consequência da intensificação das atividades na capital, surgiu a necessidade de se implantar lá uma garagem. Depoimento de Eugênio Mazon Jr. sobre esse período dá uma ideia de como era o empresário Eugênio Mazon, seu pai:
Em 1986, eu tinha acabado de adquirir o terreno da garagem de São Paulo e, nessa época, meu pai estava hospitalizado, com problemas de saúde. Mesmo assim, fui lá e o tirei do hospital para que fosse conhecer o terreno da garagem. O terreno por si só era marcado por árvores, mato e buracos. Mas, para minha surpresa, meu pai viu os ônibus circulando, viu tudo se transformando. Ele tinha uma visão anos-luz à frente da gente, enxergava aquilo que nós ainda estávamos por realizar.
Consolidada a posição na região da Baixa Mogiana, a empresa voltou--se para outros municípios de São Paulo e Minas Gerais. Novas localidades mineiras passaram a ser ligadas à capital paulista. Foi adquirida a Viação Nossa Senhora de Fátima e instalada uma garagem em Alfenas. Depois a empresa foi incorporada. O processo de consolidação das linhas implantadas prosseguiu no mesmo passo em que aumentava o volume de passageiros.
Finalmente, na década de 1990, como resultado dos investimen-tos para a prestação de serviços especiais, as operações no estado de São Paulo cresceram de importância, dando-se ênfase ao fretamento contínuo
240
para indústrias e outras empresas. Também foi adquirido integralmente o controle societário da Viação Nasser, dedicada a serviços intermunicipais e interestaduais. Dessa forma, o Grupo Santa Cruz passou a ser integrado por três companhias e estendeu seu atendimento às cidades de Mococa e São José do Rio Pardo, em São Paulo, e Guaxupé, Minas Gerais. As transportadoras de passageiros atuam nos segmentos urbano, suburbano, intermunicipal, interestadual, turismo e fretamento contínuo ou eventual. A companhia se destaca por seu moderno sistema de gestão, orientado por resultados e baseado em iniciativas e processos.
A primeira jardineira, usada por Eugênio Mazon para transportar estudantes entre as cidades de Mogi Mirim, Conchal e Araras.
A localidade de Tujuguaba também passou a
contar com o transporte via Conchal oferecido
por Mazon.
Foto
s: Ac
ervo
San
ta C
ruz
O primeiro ônibus, um Ford F 600. A recém-batizada Viação Santa Cruz iria se dedicar também a fretamento e turismo.
Na década de 1980, novo e expressivo
avanço na qualidade dos serviços: faziam
parte da frota os ônibus Marcopolo
Viaggio da Geração IV.
Frota de monoblocos Mercedes-Benz, modelo O 321. A passagem para a tecnologia de chassi e carroceria integrais foi um marco importante na história da Viação Santa Cruz.
Foto
s: Ac
ervo
San
ta C
ruz
Acer
vo R
odon
al
243
EM MEADOS DA DÉCADA de 1950, muito antes de ser dono de empresa de ônibus, o transportador mineiro José Augusto Pinheiro costumava ir às compras pilotando um avião monomotor. Era assim que se deslocava pe-riodicamente para Belo Horizonte, Uberlândia, São Paulo e Rio de Janeiro.
Trata-se de uma daquelas histórias que aconteciam quando Jusce-lino Kubitschek era presidente da República. E a explicação é bem mais simples do que se imagina.
Juscelino chegou à Presidência da República em 1956. Foi quando começou a construir Brasília, cumprindo promessa feita a eleitores de Goiás durante a campanha eleitoral. Como todo mundo naquele tempo fazia questão de acentuar — principalmente os críticos de JK —, Brasília era quase inacessível ao comum dos brasileiros. Na melhor das hipóteses, era preciso enfrentar muita poeira e caminhos pouco conhecidos. Não era à toa que o presidente só ia lá de avião, e quase sempre para ficar umas poucas horas.
Por isso, junto com a construção de Brasília, começou também a construção da rodovia BR-040, que ligaria Belo Horizonte à futura capital brasileira. Os 750 quilômetros da obra foram divididos em oito trechos e postos em licitação. Entre as vencedoras estava a empreiteira STER, responsável pelo trecho de Paracatu. A logística da obra previa que os materiais a ser empregados, com exceção da pedra britada, viriam do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Belo Horizonte. Daí a STER ter procurado um pequeno transportador em Paracatu — José Augusto Pinheiro — para cuidar dessa parte fundamental do empreendimento.
real expreSSo ltda.
JoSé auguSto pinheiro
1953
244
Dono de quatro caminhões, José Augusto nem pestanejou para aceitar o encargo, já sabendo que sua pequena frota era absolutamente insuficiente para dar conta da tarefa. Assegurado o contrato, tratou logo de providenciar o reforço de mais alguns caminhões. Homem de raciocínio prático — e rápido —, mostrou à STER que ganhariam tempo se ele se encarregasse pessoalmente das compras, já que era piloto de avião e a empresa dispunha de um. Começou comprando materiais no Rio de Janeiro, imediatamente transportados por seus caminhões para Paracatu, e indo mais tarde a Belo Horizonte, São Paulo e Uberlândia para comprar combustível. O certo é que o cronograma da obra foi mantido sem atrasos, sendo o trecho de Paracatu entregue no prazo contratado.
A vida de caminhoneiro e dono de empresa transportadora continuou até o início de 1960, quando José Augusto decidiu mudar de ramo. No fim de dezembro de 1959, casara-se e viajara em lua de mel, incluindo Brasília no roteiro. Além de ter gostado da cidade, percebeu que o fluxo de cargas transportadas para a nova Capital ia diminuindo, mas não o de gente. Quando voltou a Paracatu, já havia pensado em uma série de atividades ou áreas de negócios nas quais poderia tentar a sorte, entre elas o transporte rodoviário de passageiros. Coincidência ou não, apareceu-lhe a chance de ingressar como sócio na Vieira Cia. Ltda., dona da Empresa São Cristóvão, que fazia a linha de ônibus Patos de Minas–Brasília. Anos depois ele ainda recordaria que a frota da empresa era muito velha e dava muitos proble-mas. Ele os conhecia bem, pois trabalhava arduamente, inclusive dirigindo ônibus nas rotas Patos de Minas–Bra sília, Patos de Minas–Uberlândia e em outras. Além disso, era bom administrador e competente mecânico. Sabia o que dava para consertar e o que era preciso trocar. Aos poucos, os ônibus a gasolina foram substituídos por outros, novos, movidos a diesel. Recomposta a frota, apareceram os primeiros resultados. Então José Augusto Pinheiro sentiu que poderia crescer mais depressa se comprasse outra empresa já em funcionamento. Tentou uma negociação com a Nacional Expresso, de Uberaba, mas não teve sucesso. A abordagem seguinte foi à Real Autopeças, dona de 41 ônibus. A empresa havia sido criada em outubro de 1953 na cidade onde ainda tinha sua sede, Uberlândia. Operava no Triângulo Mi-neiro e também vendia peças, acessórios e veículos. Seu fundador, Anísio Curi, começara com duas peruas Chevrolet. Quando sentiu que a revenda
245
de autopeças prosperava mais rapidamente, decidiu passar adiante a parte de passageiros. Nos dez anos seguintes, a empresa trocaria de mãos duas ou três vezes, até que foi comprada por José Augusto Pinheiro e mais três sócios. Em 1973, eles mudaram o nome para Real Expresso.
JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO sempre se destacou pela precocidade. Quan-do menino, seu maior sonho era dirigir um automóvel. Tinha essa ideia fixa e 10 anos de idade ao se oferecer para conservar sempre limpo um carro de praça da sua cidade, Paracatu, Minas Gerais. O dono concordou, deu-lhe a chance de ganhar seus primeiros trocados e, algum tempo depois, ainda permitiu que ele aprendesse a fazer pequenas manobras com o veículo. Assim aprendeu a dirigir.
Aos 12 anos, já dirigia, como empregado, uma velha camioneta Ford 1929. Era motorista de boiadeiro e percorria as poeirentas estradas que interligavam Luziânia, Planaltina e Formosa, em Goiás. Por causa da pouca idade, não podia tirar carteira de habilitação. Em compensação, naquela época, principalmente no Planalto Central, isso não era fiscali-zado nas estradas.
No entanto, em Paracatu — contou José Augusto muitos anos depois —, havia um delegado que sempre ralhava com ele por dirigir pela cidade. Para fugir da vigilância, empregou-se como carroceiro, mas logo sentiu que aquilo representava um retrocesso em sua recém-iniciada vida profissional.
Também, durante breve período, foi vendedor em uma loja de tecidos. Aí mesmo é que não se adaptou. Ficava entediado tendo de passar o dia inteiro medindo pano. Já naquela época, trazia o diferencial que separa os grandes empreendedores das pessoas comuns: a inquietação que o empurrava para a frente, aliada a uma visão estratégica e a hábitos modestos, mantidos a vida toda, que lhe possibilitavam sempre gastar menos do que ganhava.
Por fim, sua mãe conseguiu que amigos assinassem um documento atestando sua competência como motorista e responsabilizando-se pelo seu comportamento ao volante. Com base nesse “termo de responsabilidade”, a delegacia local concedeu-lhe sua primeira carteira de motorista. Estava com 14 anos. Sempre guardou uma cópia dessa carteira.
246
Com ela, voltou à boleia do caminhão e despediu-se definitivamente da infância, passando a transportar materiais entre Patos de Minas e Paraca-tu, em um dos dois caminhões que o irmão tinha em sociedade com mais três sócios. Quando o irmão transferiu-se para Patos de Minas e passou a enfrentar dificuldades financeiras, pediu-lhe que trabalhasse sem ganhar por algum tempo, até a situação melhorar. Concordou, é claro. “Por isso é que, quando alguém me pergunta se realmente comecei do nada, eu digo que comecei um pouquinho antes do nada” — é a divertida explicação de José Augusto.
Aos 17 anos, sempre com o irmão Elmo, que acumulava as funções de seu tutor, pois perdera o pai muito cedo, aceitou o desafio de um sobrinho do governador de Minas, Benedito Valadares, para transportar dormentes entre João Pinheiro e Catiara. Foi nessa ocasião que surgiu o Expresso Pinheiro. Seriam cinco anos de trabalho duro, ao fim dos quais conseguiria comprar seu primeiro caminhão, um FNM 1956, e mudar de rota: passou a transportar charque de Minas para o Nordeste, enfrentando mais de 2.000 quilômetros de estradas de terra, poeira e lamaçais. De lá, trazia coco, tecidos das famosas Casas Pernambucanas, cachaça — e até passageiros, os “paus de arara”.
As viagens duravam um mês. Eu dirigia, era mecânico, cozinhava,
descarregava o caminhão. As estradas eram trilhas. De Juiz de Fora até Três Rios, eram de paralelepído. Dali até Além Paraíba, havia um asfalto precá-rio. Depois, asfalto novamente só perto do Recife —recordou José Augusto.
Como já vimos no início desta história, a aventura logo renderia bons frutos.
COM A COMPRA DA Real Expresso, José Augusto tinha duas empresas para administrar — uma em Uberlândia e outra em Patos de Minas. Mais uma vez, ser piloto brevetado foi-lhe de grande valia; podia deslocar-se de uma cidade a outra mais rapidamente, de avião, e também ficava fácil voar até o Rio de Janeiro, onde estava a sede do DNER, responsável pela gestão
247
do transporte rodoviário de passageiros, e onde o empresário procurava manter-se sempre informado sobre o setor.
Seu estilo de administrar era simples: melhorar constantemente a qualidade e a variedade dos serviços, estar sempre atento às oportunidades de adquirir mais empresas e, quando possível, participar de licitações para tentar conquistar novas linhas. Assim a Real Expresso cresceu.
Em novembro de 1974, com a saída de um dos sócios, a companhia foi dividida em duas, permanecendo uma com o nome Real Expresso e sendo a outra denominada Nacional Expresso. Em função da partilha das cotas, José Augusto Pinheiro ficou com 84% da Real Expresso (mais tarde comprou os outros 16%). Sempre mantendo a filosofia da sobriedade ad-ministrativa e do crescimento seguro, característica mais marcante de sua atuação como empresário do setor de transporte rodoviário de passageiros.
As operações da empresa se ampliaram na região Centro-Oeste e se estenderam para o Norte e o Nordeste, atingindo Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Acre e Rondônia. A sede foi transferida para Brasília.
Sob o comando firme e tranquilo de José Augusto, o Grupo buscou a diversificação, começando pela montagem de uma rede de revenda de veículos, cujas unidades foram espalhadas por vários estados. Outras empresas — mais de uma dezena, quase todas dedicadas ao transporte de passageiros, de cargas e atividades afins — foram sendo criadas e novas atividades foram assumidas pelo que já era um grupo empresarial. No mesmo ritmo do crescimento dos negócios, aumentou a quantidade de colaboradores.
Apesar dos outros negócios, a Real Expresso continuou sendo a menina dos olhos do fundador, do mesmo modo como se manteve como detentora da maioria das linhas que operava nos primeiros tempos. Escondendo-se por trás da modéstia de mineiro do interior, sempre teve a mesma resposta ao ser perguntado sobre se o menino apaixonado por veículos algum dia sonhou dirigir um grande grupo empresa rial como o Grupo Real Expresso:
Meu horizonte era pequeno. Primeiramente, meu desejo era ser moto-rista assalariado. Depois, ter um caminhão usado, em sociedade com meus irmãos. Mais tarde, o horizonte se ampliou um pouco e eu queria ter um caminhão novo. A seguir, dois ou três caminhões...
248
JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO destacou-se também como líder classista. Foi um dos fundadores da antiga Rodonal e seu presidente por dois mandatos consecutivos. Participou depois da fundação da ABRATI — Associação Brasileira das Empresas de Transporte de Passageiros — de cuja Diretoria fez parte por longos anos. Contribuiu de maneira decisiva para viabilizar importantes conquistas do setor de transporte rodoviário de passageiros, graças não só à sua grande capacidade de trabalho, mas ao seu invejável trânsito nos campos empresarial e político.
Nunca demonstrou interesse em parar. Ao contrário, continuou firme na condução dos negócios, com a convicção de pertencer a uma geração diferenciada de empresários. Sua explicação:
Eu diria que há uma força que comandou e continua comandando todo esse processo: é o amor que cada um de nós tem à sua empresa.
A Real Expresso foi uma das primeiras empresas interestaduais a equipar seus ônibus com cinto de segurança e com sofisticados sistemas eletrônicos de monitoramento e controle dos carros em viagem. Todos os grandes e pequenos avanços alcançados na área de informática, nas comu-nicações e em tecnologia automotiva, foram sistematicamente incorporados aos seus veículos, procedimentos e serviços. Graças a isso, conquistou e segue conquistando as principais certificações de qualidade.
No fim do primeiro semestre de 2009, o Grupo Jacob Barata adquiriu participação acionária na Real Expresso.
Em seu início, a Real Expresso tinha sede em Uberlândia, Minas Gerais, e não era o principal negócio do seu primeiro proprietário.
A linha Patos de Minas–Brasília foi uma importante
experiência para a São Cristóvão e para a própria
Real Expresso.
Foto
s: Ac
ervo
Rea
l Exp
ress
o
A Real Expresso também utilizou ônibus Marcopolo com chassi Scania.
Década de 1970: ônibus da Real Expresso em rota de Minas Gerais.
José Augusto Pinheiro
Júlio
Fer
nand
es
Acer
vo S
cani
a
Acer
vo R
eal E
xpre
sso
251
O DESAFIO ESTAVA EM UM PAPEL sobre a mesa de Octaviano Da Ros, dono da Empresa Sulamericana de Transportes em Ônibus, em sua sede de Curitiba, Paraná. Era o ano de 1961 e autoridades do governo paraguaio queriam saber se ele tinha interesse em explorar uma linha de ônibus entre Assunção e Paranaguá, o porto brasileiro que o Paraguai utilizava para exportar seus produtos.
Até então, ninguém se aventurara a estabelecer essa ligação. Nem ela era fácil. Além de não existir propriamente uma estrada, o percurso era interrompido pelo Rio Paraná. Não havia nenhuma ponte para a travessia. Também nunca houvera um serviço de balsa por ali. Aparentemente, a empreitada era inviável.
Octaviano Da Ros pensou durante alguns dias e concluiu pela via-bilidade do projeto, desde que a própria Sulamericana se encarregasse da instalação e manutenção de uma balsa no ponto em que os ônibus fariam a travessia. Aceitou o desafio, não só para abrir uma linha internacional entre Paranaguá e Assunção, mas também para explorar um serviço de balsa no Rio Paraná.
Oito anos antes, em 1953, Octaviano Da Ros, gaúcho de Ijuí, esta-va com 49 anos de idade quando adquiriu de alguns parentes uma firma semifalida chamada Empresa Sulamericana de Transportes em Ônibus. E assim se estabeleceu em Curitiba no ramo de transporte rodoviário de passageiros. Quarenta anos mais tarde, no dia 1o de abril de 1993, Da Ros conversou longamente com Rúbio Gômara sobre essa linha para o Paraguai:
empreSa Sulamericana de tranSporteS em ÔnibuS
octaviano da roS
1953
252
Respondi que tinha interesse em explorar o serviço e eles me deram a concessão. Na época, governava o Paraguai o presidente Alfredo Stroessner. Com a concessão, eu me dirigi às autoridades brasileiras e solicitei que fosse feito um acordo bilateral de transporte rodoviário de passageiros. Naquela época não havia nenhum acordo desse tipo entre o Brasil e o Paraguai. Aliás, continuou não havendo por muito tempo, apesar do meu pedido. No DNER ninguém sabia nada a esse respeito, e o Itamaraty também desconhecia. Precisei lutar muito até que saísse a concessão. Aí comecei a fazer a linha, em 1963. Quanto ao acordo, só foi formalizado em 1966, mas envolven-do Brasil, Argentina e Uruguai, e denominado Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre. Curiosamente, o Paraguai não assinou e só viria a aderir em 1977, quando saiu o segundo convênio, ao qual aderiram também o Chile, o Peru e a Bolívia.
Mas, aqui, interessa-nos aquela linha entre Paranaguá e Assunção. E, principalmente, como foi possível implementá-la em condições tão desfavoráveis. Octaviano Da Ros detalhou a história para Rúbio Gômara:
Não existia ponte. Aliás, muita gente nem se dispunha a enfrentar o rio Paraná, considerado muito perigoso naquele trecho. Aí eu fiz um porto de cada lado e coloquei uma balsa. Na época, o governo Juscelino Kubits-chek chegou a anunciar uma ponte, mas o que havia, de fato, era só um projeto. A ponte mesmo era a minha balsa, a que passava os meus carros. Aí eu iniciei a linha. Uma verdadeira aventura: às vezes, uma viagem até Assunção demorava três, quatro dias. Precisávamos parar no meio da estrada, com todo mundo dormindo dentro dos ônibus. E era tudo estrada de terra, de Assunção a Paranaguá. Ou era lama, ou era poeira.
Do lado de lá da fronteira, o governo paraguaio deu todo apoio à Sulamericana. O próprio presidente Stroessner participou da cerimônia de inauguração da linha. Depois, os ônibus da Sulamericana ficaram em exposição no pátio do palácio do governo paraguaio. Eram visitados à ra-zão de dez pessoas por vez, em esquema controlado pela própria polícia paraguaia. Os carros causavam admiração porque, até então, não havia no país ônibus com carroceria metálica e motor embutido, muito menos
253
ônibus com assentos de encosto alto. O Paraguai ainda utilizava jardineiras com carroceria de madeira.
QUANDO OCORRERAM ESSES SUCESSOS, dois anos depois da con-sulta-desafio do governo paraguaio, já fazia dez anos que Octaviano Da Ros vinha tocando a Sulamericana. Fundada em 1947, a empresa tivera como donos três primos de Octaviano, todos Da Ros: Zulmir, Guido e Arquimedes. E se aquele foi um bom negócio no início, a verdade é que a frota estava caindo aos pedaços quando, em 1953, Da Ros assumiu a companhia. Seu primeiro desafio foi passar uma noite inteira na rua, reparando o que era possível nos 12 ônibus, para que no dia seguinte estivessem em condições de rodar. Rodaram precariamente, mas rodaram. Durante um bom tempo, ele ainda foi uma espécie de doublé de empresário e chefe de oficina:
Houve vezes em que, durante o dia, eu botava uma gravata para ir atender a exigências de repartições públicas do sistema; e à noite, trabalhava para arrumar os meus ônibus.
Nessa época, a Sulamericana fazia três linhas: Curitiba–Campo Largo, Curitiba–Litoral e Curitiba–Paranaguá. Nos três casos, era preciso descer pela estrada Graciosa, também chamada estrada dos jesuítas. Pavimentada com paralelepípedos, era perigosa, com muitas curvas, onde mesmo os carros pequenos tinham de parar para manobrar. Ao nível do mar a estra-da era de terra até a praia. Depois, os ônibus que faziam Campo Largo e Paranaguá seguiam pela orla marítima, pois não havia outro caminho. Para avançar, era preciso que a maré estivesse baixa. Caso não estivesse, esperava-se. Ainda assim, o percurso aprontava suas surpresas:
Uma vez eu perdi um carro. O mar me levou um ônibus. Atolou, foi coberto pelas ondas e afundou aos poucos. Deve estar lá até hoje, não sei onde.
Os ônibus da Sulamericana enfrentaram a areia da praia e as estradas de terra também quando Octaviano Da Ros conseguiu permissão para
254
abrir uma linha entre Curitiba e Foz do Iguaçu. Posteriormente, em 1959, adquiriu do Expresso Oeste do Paraná, de Cascavel, uma segunda linha que passava por Foz e se prolongava até Escalada. As dificuldades eram ainda maiores por haver trechos inteiros em obras no oeste paranaense. O Batalhão de Engenharia do Exército estava fazendo a terraplenagem e a preparação do piso para receber pavimentação asfáltica e, quando chovia, virava tudo um lamaçal. A passagem se tornava impossível quando algum caminhão atolava: os que vinham atrás iam parando e atolando também. O ônibus da Sulamericana era a salvação deles, pois Octaviano Da Ros ficara amigo dos engenheiros militares responsáveis pela obra e havia feito um acordo com eles: custeava as despesas de dois tratores, cada um colo-cado em uma ponta do trecho mais crítico. Os tratoristas sabiam a hora aproximada em que o ônibus ia aparecer e ficavam a postos. Para o ônibus passar, os tratores desencalhavam os caminhões. No fim, todo mundo se beneficiava do acordo. Geralmente, a operação de resgate precisava ser repetida à frente mais duas ou três vezes até que conseguissem superar as áreas de atoleiro.
Essas dificuldades só deixaram de existir no fim da década de 1960, com a inauguração da rodovia BR-277, no trecho entre Curitiba e Foz do Iguaçu. O novo trecho possibilitou à Sulamericana estabelecer a ligação entre São Paulo e Assunção, Paraguai, passando por Curitiba e Foz do Iguaçu, num percurso de 1.500 quilômetros. Para operar na nova rodovia, a Sulamericana utilizava ônibus semileito, de 40 lugares, com chassis Scania Vabis encarroçados pela Nicola, e carros-leito de 17 lugares com carroceria Nielson. Os veículos tinham ar-condicionado, som estéreo, serviço de bar e toalete a bordo.
Todo esse conforto não podia sequer ser imaginado em 1959, quando os atolamentos eram tão comuns. Certa vez, em Guarapuava, a 280 quilô-metros de Curitiba, não havia trator para liberar um ônibus da Sulamericana enterrado na lama. Uma passageira a bordo entrou em trabalho de parto e o motorista se transformou em parteiro improvisado. Dentro do possível, tudo correu bem. Era um atoleiro enorme e havia muita gente retida na estrada, não só no ônibus da Sulamericana. Avisado, Da Ros alugou um avião teco-teco, comprou alimentos que pudessem ser jogados do alto e fez alguns voos rasantes sobre a estrada. Ninguém passou fome.
255
Gestos assim, de solidariedade espontânea e desinteressada, marca-ram a vida de Octaviano Da Ros, conhecido como empresário criativo, solidário e ético. Não era ingênuo, sabia zelar pelos interesses do seu empreendimento, mas isso não o impedia de buscar aproximação com os concorrentes e de enxergar os problemas também do ponto de vista dos outros. Da Ros revelou alguns exemplos práticos desse tipo de atitude:
A Penha por exemplo. Quando os Piccoli adquiriram a linha Curiti-ba–São Paulo, eles tinham muito poucos carros. A Penha começou do zero, como eu também comecei. Eu me lembro bem do Saúl Piccoli, de saudosa memória. Eu tinha adquirido dois carros novos em Porto Alegre, da Carro-cerias Eliziário. Comprei porque precisava demais dos carros, mas aí o Saúl Piccoli me procurou: ‘Olha! Eu adquiri uma linha e tenho que apresentar carros novos, caso contrário eles não vão autorizar a transferência da linha’. Peguei os carros novos que tinha recebido, emprestei para o Piccoli e ele começou a linha com carros novos. Os carros fizeram várias viagens para São Paulo naquelas estradas de terra da Ribeira, até ele conseguir os seus próprios carros. Digo que havia então uma certa amizade e coleguismo. A Penha conseguiu crescer e fomos nos unindo. Outros empresários se juntaram a nós e pudemos começar a pensar no setor como um todo, embora cada empresa também defendesse o seu interesse individual.
Devido talvez a essas qualidades, e por estar sempre antecipando aos poderes concedentes do Estado e da União determinadas reivindicações que considerava de interesse do conjunto do setor de transporte rodoviário de passageiros, Da Ros tornou-se presidente da entidade dos transportadores paranaenses. Usou o cargo para canalizar e encaminhar essas reivindica-ções. Depois foi vice-presidente e presidente do Conselho. Ao todo, esteve nesses cargos por mais de 20 anos. Segundo ele, nem sempre era possível conseguir a necessária unidade para um diálogo mais objetivo com os po-deres públicos, mas, de qualquer forma, o simples fato de poder reunir os colegas para conversar sobre os problemas do setor já era bastante positivo.
256
EM 1993, QUANDO Octaviano da Ros foi entrevistado por Rúbio de Barros Gômara, a Sulamericana havia deixado de fazer transporte internacional. Dedicava-se exclusivamente ao segmento intermunicipal e operava um número reduzido de linhas. Na fase mais atuante da empresa, haviam sido admitidos dois sócios. Depois, um deles morreu e o outro se desligou. Na cisão, coube a Octaviano da Ros o mercado do sudoeste do Paraná. Dentro da nova realidade, ele preferiu dar ênfase à atuação na área de turismo. A companhia ficou mais enxuta, inclusive porque o mercado de Foz do Iguaçu, que era um dos mais rentáveis da companhia, tornou-se excessivamente competitivo pela entrada de grande quantidade de novos concorrentes. Sem falar nos clandestinos, é claro. Ao despedirem-se, Da Ros confessou a Rúbio:
Eu faria tudo de novo. Aquela foi uma vida que até hoje me dá muita saudade. Me orgulho de dizer que fui um dos pioneiros.
Mais tarde, a Sulamericana interrompeu sua atuação no segmento de transporte de passageiros. A razão social Empresa Sulamericana de Trans-portes passou a identificar uma operadora do setor rodoviário de cargas.
Em 1961, foi iniciada a linha Paranaguá–Assunção, com ônibus Mercedes-Benz-Eliziário.
Em 1960, nas linhas para Caiobá e Guaratuba, a travessia dos ônibus da Sulamericana era feita por ferry-boat.
O primeiro ônibus-leito a fazer uma rota entre capital e interior, em 1968, era um Scania-Nielson Diplomata.
Ainda em 1961, foi aberta a linha Curitiba–Assunção, também com Mercedes-Benz-Eliziário.
Acer
vo R
úbio
Gôm
ara
Ônibus Scania-Nielson Diplomata também foram operados pela Sulamericana nas suas rotas pioneiras para Assunção, Paraguai.
A linha Foz do Iguaçu–Curitiba foi iniciada no ano de 1963 pela Sulamericana.
Octaviano da Ros
Acer
vo S
cani
a
Foto
s: Ac
ervo
Rúb
io G
ômar
a
259
NA DECISÃO DE UM JOVEM brasileiro de se apresentar como voluntá-rio para lutar nos campos de batalha da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, está, de certa forma, a origem de um dos maiores conglomerados de transporte rodoviário de passageiros do Brasil.
A história começa no início dos anos 1940, em Cachoeiro de Itape-mirim, Espírito Santo, quando o jovem Camilo Cola, na época fazendo o Tiro de Guerra, ofereceu-se para integrar a Força Expedicionária Brasi-leira, contingente militar que o Brasil iria enviar à Itália depois de haver declarado guerra à Alemanha, Itália e Japão.
Mais de 54 anos depois, em outubro de 1994, em longa conversa mantida com Rúbio Gômara na sua fazenda Pindoba, no município de Venda Nova dos Imigrantes, Camilo Cola explicou que a decisão de par-ticipar dos combates como voluntário foi motivada por divergências que tinha com seu pai. Descendente de italianos, o velho Cola nutria simpatias pelo fascismo de Benito Mussolini, como, aliás, era comum entre muitos dos integrantes da colônia italiana estabelecida no Brasil. E ele, Camilo Filho, abominava tanto o fascismo como seu criador. Incorporou-se então à Força Expedicionária Brasileira — FEB — e pôde, desde quando os escalões precursores desembarcaram na Itália, experimentar na pele as agruras da guerra. Permaneceu na tropa até o fim do conflito e a vitória dos Aliados, em 1945. Ao voltar, além da aura de ex-combatente, trazia no bolso o dinheiro do soldo economizado durante a longa mobilização, somado ao que conseguira ganhar com sua nascente habilidade de nego-ciante: sempre atento às oportunidades, Camilo percebera que, não sendo
viação itapemirim S. a.
camilo cola
1953
260
fumante, podia obter algum dinheiro vendendo aos colegas que fumavam suas rações diárias de cigarros, fornecidas pelo Exército. A seguir, concluiu que também podia comprar e revender as rações de cigarros dos colegas que não fumavam. Os soldados que fumavam sabiam sempre com quem arranjar uma ração extra.
Quando voltou a Cachoeiro de Itapemirim, essas economias foram o ponto de partida para os primeiros negócios feitos por Camilo Cola no ramo de compra e venda de caminhões. Curioso é que o ex-pracinha tenha se iniciado no comércio de veículos exatamente com a mesma fórmula bem-sucedida que havia praticado na Itália com os cigarros.
Em seu regresso ao Brasil, os pracinhas foram recebidos como heróis. No clima de euforia e patriotismo que tomou conta do País, tanto pelo retorno das tropas como pelo fim da guerra, alguém se lembrou de que, além dos aplausos e discursos de exaltação aos seus feitos, os expedicionários bem que mereciam ser recompensados materialmente. O ditador Getúlio Vargas foi sensível ao argumento e decidiu premiar cada expedicionário com o direito de importar um caminhão sem pagar os impostos aduaneiros (somente uma década depois o Brasil estaria fabricando os seus próprios caminhões). Imediatamente Camilo percebeu que isso lhe dava a chance de movimentar suas economias e providenciou a importação do veículo que lhe cabia. Quando o recebeu, livre e desembaraçado, em 1946, passou a usá-lo no transporte de cargas na região de Venda Nova dos Imigrantes e de Cachoeiro de Itapemirim — também uma forma de exibir o veículo zero quilômetro. Bom negociante, não demorou a passá-lo adiante, ao preço do mercado, sendo o lucro a diferença correspondente à isenção dos impostos aduaneiros. Com o dinheiro na mão, procurou outros ex--pracinhas e exortou-os a aproveitar o benefício do decreto presidencial. Prontificava-se a fazer o encaminhamento da papelada de importação, em troca do direito de comercializar o veículo. A diferença entre o preço de mercado e o preço de custo do caminhão livre de impostos era dividida entre os sócios. “Em 1946 e 1947, fiz várias viagens a Porto Alegre para vender caminhão”, recordou Camilo Cola.
O negócio não foi uma inspiração ditada pelo acaso. Camilo Cola tinha certa familiaridade com o ramo. Nascido em Venda Nova dos Imi-grantes, aos 15 anos viera tentar encontrar trabalho em Cachoeiro de
261
Itapemrim, distante 75 quilômetros. Acabou achando colocação em uma agência da Ford, a Vivacqua & Vieira.
Em seu depoimento a Rúbio Gômara, Camilo Cola atribuiu exclu-sivamente ao acaso o fato de haver se tornado empresário do transporte rodoviário de passageiros:
Até os 15 anos, eu mal pensava em transporte. Aqui chegavam os pri-meiros caminhõezinhos Ford 1929. Como nasci em 1923, a gente escutava falar nesse caminhão. Nós estamos distantes de Cachoeiro de Itapemirim, que é um centro conhecido, cerca de 75 quilômetros. Hoje, faço esse percurso de helicóptero em 15 minutos, mas na minha infância, para sair de Venda Nova dos Imigrantes e ir a Cachoeiro de Itapemirim, gastavam-se dois dias. Não havia estrada, muito menos automóvel. Viajava-se em lombo de animal.
De qualquer forma, para Camilo Cola, o negócio com caminhões foi apenas uma fase e durou de 1946 a setembro de 1948, quando participou da fundação da Empresa de Transporte Autos Ltda. — ETA —, na condição de sócio. A empresa tinha um único ônibus, mas cresceu rapidamente, tanto assim que no ano seguinte já partia para o segundo e o terceiro veículos. De 1951 para 1952, a ETA fez uma fusão com duas outras empresas, a São José e a São Jorge, cujos proprietários eram o sírio José Felix Chaim (mais conhecido como Chicrala, apelido que significava “homem de Deus”) e o descendente de sírios Jorge Chamown. À nova empresa surgida dessa sociedade — registrada em 4 de julho de 1953 —, deram o nome de Ita-pemirim, em homenagem à cidade onde ela tinha sua sede.
Posteriormente, morreu o sócio Vitório Perin, e houve um desmem-bramento da empresa, com os sócios Ilário Mocelin e José Feres Schen retirando-se da sociedade. Nessa ocasião, Camilo Cola fez uma escolha que se refletiria no futuro desenvolvimento da Itapemirim: ficou com as linhas da parte norte do Estado — Cachoeiro–Vitória, Cachoeiro–Mara-taízes, Vitória–Guarapari e Vitória–Colatina —, ou seja, com o lado de Vitória, que oferecia melhores possibilidades de crescimento, e abriu mão das linhas Cachoeiro–Castelo, Guaçuí–Alegre e Muniz Freire–Muqui. Entre 1951 e 1953, a Itapemirim absorveria a empresa Viação São José, das linhas Cachoeiro–Campos e Vitória–Campos. Camilo Cola recordou:
262
A maior empresa da época aqui na região era a do Arcelino Ramos, que, com muito sacrifício, fazia Cachoeiro de Itapemirim à capital do Estado. Passava em duas balsas, uma no rio Beneveti, que deve estar em Anchieta. Na Baía de Guarapari tinha outra balsa. Na época, Cachoeiro–Vitória era feita com seis, sete horas de viagem. Hoje se faz em duas horas. A Empresa Ramos também foi absorvida pela Itapemirim.
Para todas as linhas, da Itapemirim e das concorrentes, as estradas eram de terra. Consolidada a operação em praticamente toda a região norte do Espírito Santo, em 1956 a companhia se preparou para atingir o Rio de Janeiro. Na época, cada estado decidia sobre as permissões no seu território, mesmo que se tratasse de linha interestadual. Portanto, a permissão interestadual era a soma das permissões estaduais. Não foi fácil conseguir a permissão do estado do Rio de Janeiro. Mas, quando tudo se resolveu e a Itapemirim começou a fazer a linha, muitos passageiros que antes viajavam de trem passaram a usar o ônibus: mesmo que as estradas ainda fossem de terra, a viagem era mais rápida do que por trem. Claro, se não chovesse. Os carros já eram Chevrolet F7 e F8, do tipo pescoção, usados não só na rota Itapemirim–Rio de Janeiro como nas linhas Vitó-ria–Rio de Janeiro e Vitória–Niterói–Rio de Janeiro. Usavam-se também o inglês automático Aclo, na linha Cachoeiro de Itapemirim–Vitória, e o White, de motor traseiro, que rodou por pouco tempo. Em 1958, a empresa comprou dez ônibus com chassis Alfa Romeo, com encarroçamento Grassi. As carrocerias eram de madeira e os ônibus rodavam na parte da linha para o Rio de Janeiro que era de chão. Quando, no estado do Rio, o asfalto foi estendido até a cidade de Campos, entre 1959 e 1960, a Itapemirim comprou dez ônibus Mercedes-Benz de 32 lugares.
Transportávamos os passageiros entre Vitória e Campos nos Alfa--Romeo e lá baldeávamos para os Mercedes-Benz, completando a linha em trecho de asfalto até o Rio de Janeiro — contou Chyro Gazzola, diretor da Itapemirim e cunhado de Camilo Cola.
263
EM 1965, A FROTA já chegava a 70 ônibus quando se realizou a concor-rência da linha Vitória–Belo Horizonte. A Itapemirim participou e saiu vencedora. Outro passo importante no processo de expansão foi a compra da Expresso Salvador, em 1968, que possibilitou a operação da linha Rio de Janeiro–Salvador e a chegada à região sul da Bahia. O negócio projetou definitivamente a Itapemirim no cenário nacional do transporte rodoviário de passageiros. Quando veio a oportunidade de comprar a linha Rio de Janeiro–Brasília — até ali explorada em caráter provisório pelo empresário Francisco de Oliveira Rocha —, ela estava em condições de dar outro passo de grande repercussão nos seus negócios. Um detalhe é que, depois de formalizada a compra, o DNER colocou a linha em licitação, justamente baseado no fato de que a exploração ainda era feita em caráter precário. Foi preciso ir à Justiça para os direitos da Itapemirim serem reconhecidos. Helsio Pinheiro Cordeiro, diretor da companhia, relembrou a chegada da empresa à capital federal:
Nos nossos primeiros dias de operação em Brasília fazíamos cada ônibus da empresa passar pelo eixo rodoviário a 20 quilômetros por hora, em todas as viagens, na entrada e na saída. Aquilo criava uma expectativa favorável, todo mundo olhando. Então o ônibus retornava vagarosamente, saía da rodoviária e só no final do eixo, lá na ponta, é que ele tomava sua viagem. Na chegada era a mesma coisa. Assim, fazíamos com que a Itapemi-rim fosse considerada uma empresa que respeitava os limites de velocidade, a segurança, não queria que ocorresse nada com o usuário. E ainda dava aquela demonstração com um ônibus de porte, bonito, bem pintado — nar-rou Helsio Cordeiro.
Nessa altura, porém, não estava sendo fácil compatibilizar as longas distâncias das rotas com a exigência do governo de que as transportadoras utilizassem exclusivamente ônibus fabricados no Brasil. O País, no dizer de Camilo Cola, “era carente em equipamento adequado para operações de longa distância”, e isso era do conhecimento público. Não obstante, depois de conseguir a linha de Brasília, a Itapemirim se lançou na con-corrência para exploração da Rio de Janeiro–Belo Horizonte. Ganhou de novo e seu prestígio cresceu ainda mais.
264
Data desse período a ideia de Camilo Cola de implantar pontos de apoio ao longo das linhas de maior porte. Inicialmente, eles foram adotados nas linhas para Salvador e Brasília. Distribuídos a distâncias estratégicas, para que nenhum ônibus com problemas mecânicos ficasse sem socorro por mais de um tempo determinado, os pontos de apoio ofereciam quase todos os serviços de que os passageiros e veículos dispõem nos dias de hoje. Em 1971, quando o DNER introduziu o primeiro Regulamento para os serviços interestaduais e internacionais, lá estava, prevista em detalhes, a obrigatoriedade dos pontos de apoio, exatamente como idealizados pela Viação Itapemirim.
Ficava cada vez mais evidente que era a hora de investir mais nas linhas interestaduais e passar adiante as regionais operadas no norte do Espírito Santo. Foram negociadas com a Viação Águia Branca. Ao mesmo tempo, a companhia adquiriu da pernambucana Auto Viação Progresso suas duas linhas para o sul do País, Recife–Rio de Janeiro e Recife–São Paulo. Quase simultaneamente, comprou a empresa Planalto (Campina Grande–São Paulo via Rio de Janeiro), a Nordestina, a Nossa Senhora de Fátima (João Pessoa–Rio de Janeiro, Guarabira–Rio de Janeiro e Guarabi-ra–São Paulo) e a Nacional de Luxo (Campina Grande–Rio de Janeiro), todas empresas nordestinas. Em seguida, foram compradas Caririense, Princesa do Agreste, Expresso Teresina e Expresso Fortaleza. E depois, ainda, a linha Aracaju–São Paulo.
Finalmente, obteve em concorrência pública a linha Rio de Janeiro–São Luís, numa disputa acirrada com a Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha, que já vinha operando ali provisoriamente, por convite do DNER.
Eu me lembro de que a Empresa Nossa Senhora da Penha tinha sido convidada pelo DNER para fazer a linha em caráter provisório e aceitou o desafio. Quando veio a concorrência pública, a Itapemirim entrou na dis-puta. A outra empresa, a única que disputou acirradamente foi exatamente a Penha. Acho que fomos mais bem estruturados para poder entender o pro-cesso licitatório. E como a licitação era por número de pontos, tivemos mais pontos e ganhamos a linha São Luís–Rio de Janeiro — explicou Camilo Cola em seu depoimento a Rúbio Gômara.
265
Consumadas todas essas aquisições, somadas às vitórias em licitações, a Itapemirim tornou-se responsável pela ligação do Rio de Janeiro e de São Paulo a todo o Nordeste. Na direção do Sul, também foi conquistada em concorrência pública a linha Rio de Janeiro–Porto Alegre.
Em termos de aquisições, a maior de todas as feitas pela Itapemi-rim foi a compra da sua grande concorrente na licitação da linha Rio de Janeiro–São Luís: a Penha, de Curitiba. Era então, sem nenhuma dúvida ou contestação, uma das mais conceituadas transportadoras de passageiros do País. Os entendimentos se prolongaram por cerca de seis meses. Como a Penha tinha muitos acionistas, houve necessidade de várias negociações. Além disso, para que o órgão autorizasse a transação, foi preciso repassar a outras empresas algumas linhas como a Vitória da Conquista–Salvador, ou até setores inteiros como os de Mafra e Itararé. A ousada compradora teve de levantar pelo menos dois financiamentos, um no Banco Nacional, de 10 bilhões de cruzeiros (a moeda da época), e outro numa operação triangular com a Shell, deixando inclusive a impressão de que aquela dis-tribuidora também estava participando da aquisição. Isso foi desmentido por Camilo Cola no depoimento:
Naquele tempo nós já éramos consumidores expressivos da Shell. E eu já tinha recorrido a ela quando fizemos nossa sede em Cachoeiro de Ita-pemirim. Na compra da Penha, antes de fazer o negócio, recorremos a duas organizações importantes: a Shell e o Banco Nacional, que nos emprestou um dinheiro com carência de doze meses. Acho que tive uma coragem muito grande ao assumir um compromisso tão grande. Não era só a Penha que estava em situação difícil. A própria Itapemirim não tinha todo aquele dinheiro em caixa. Nós também fomos à Mercedes-Benz e conseguimos importar, para ser entregues à Itapemirim, 70 motores, numa época em que veio uma inovação rápida da Alemanha para o Brasil. Isso foi muito significativo para nós. Foi assim que a gente incorporou a Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha e se firmou no Sul do País.
Ultimados todos os trâmites e juntadas todas as pontas, a Itapemirim tornou-se dona de uma empresa cuja frota chegava a 500 ônibus. A razão social Penha foi mantida.
266
CONCLUÍDA A MONTAGEM da gigantesca malha que cobria o Nordeste, boa parte do Sudeste e do Sul do País, a Itapemirim, como seria de prever, passou a defrontar-se com alguns problemas operacionais e de logística. Uns, aparentemente, de mais fácil solução, como o da inexistência de terminais rodoviários adequados em boa parte das cidades servidas pelas linhas da empresa. Os técnicos da Itapemirim começaram a pensar num meio-termo, um projeto de posto rodoviário de implantação econômica que atendesse às principais necessidades da operação das linhas. Os ônibus chegariam, receberiam uma lavagem rápida antes de encostar, abasteceriam, teriam os pneus calibrados etc. Daí, evoluiu-se para a criação da Arco, Apoio Rodo-viário Coletivo — uma empresa que cuidaria da implantação dos postos, os quais poderiam ser utilizados por outras empresas que se associassem ao projeto. Vários postos rodoviários desse modelo foram implantados. Outros problemas eram bem mais complexos, como, por exemplo, o das comunicações.
Tornava-se absolutamente impossível administrar a enorme quanti-dade de linhas e alternativas de rotas sem dispor de uma eficiente rede de comunicação. O sistema telefônico era péssimo, as ligações interurbanas exigiam horas de paciência para ser completadas. A saída foi instalar um enorme e complexo serviço de rádiocomunicação, que passou a interligar Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Rio de Janeiro, Campos, São Paulo, Belo Horizonte, Governador Valadares, Brasília, Paracatu, Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, Campina Grande, Caruaru, João Pessoa, Fortaleza, Teresina, Maracassumé, Petro-lina e Belém do Pará. Como se vê, tudo tendia a ser grande na operação.
Evidentemente, o rádio não tinha a eficiência dos equipamentos de hoje. Em comparação com a telefonia, porém, era a única solução. Com ele, era possível falar melhor, pelo menos em determinados horários — das 3 horas da madrugada às 9 da manhã, por exemplo. De qualquer maneira, as estações permaneciam 24 horas no ar.
Outro problema sério era a situação das estradas. Para se garantir na operação de determinadas linhas, a empresa simplesmente tinha de
267
utilizar turmas próprias de conservação. Sem elas, dificilmente alguns trechos dariam passagem aos ônibus. Em determinados lugares — na re-gião de Caravelas, Bahia, por exemplo —, as estradas eram as mesmas que tinham sido abertas por madeireiros, em sistema de arrastão. Haviam sido utilizadas inicialmente para a retirada de madeira e depois praticamente abandonadas. Só mais tarde as empresas de ônibus vieram atrás, enquanto o poder público continuou ausente.
Vem dessa época outra inovação da Itapemirim que depois se universa-lizou no sistema interestadual e internacional: a criação de pontos de apoio para a troca de motoristas. Até então, quando se tratava de viagens longas que exigiam revezamento de motoristas, era usual que estes embarcassem todos juntos no ponto de partida. Obviamente, mesmo quando não esta-vam ao volante, não conseguiam descansar direito. Com o novo esquema, contando com instalações e dormitórios adequados, os profissionais tinham melhores condições para o necessário repouso. Outra vantagem é que eles podiam ser contratados em cada região e não precisavam deslocar-se além de certa distância: em cada turno de serviço, voltavam para suas cidades e suas famílias já no dia seguinte.
Embora o serviço leito não tenha sido criação da Itapemirim, ela deu sua contribuição para aperfeiçoá-lo. Quando introduziu o serviço nas linhas do sul da Bahia para o Nordeste, por exemplo, os motoristas — selecionados entre os mais cuidadosos e habilidosos na condução — passaram a receber treinamento específico. Ao dirigir, deviam evitar paradas bruscas, arranques repentinos ou trancos na passagem de marchas. Enfim, deviam zelar para que o sono dos passageiros não fosse prejudicado. Normalmente, os ônibus leito chegavam mais silenciosamente aos pontos de parada, estacionavam em áreas mais afastadas e depois partiam como tinham chegado.
Nos dias de hoje, quando a maioria das empresas utiliza sistemas informatizados de controle da manutenção corretiva e preventiva, fica difícil acreditar que, antes, os carros de uma frota não contavam com o controle individualizado de suas condições mecânicas. A Itapemirim foi pioneira na adoção de um sistema de fichas individuais para seus ônibus, parecidas com as antigas fichas de controle de aeronaves. Para isso, criou uma pasta de controle de manutenção, que era pendurada ao lado do mo-torista, e que ainda hoje pode ser encontrada em cada veículo. Continha
268
um histórico da vida física do veículo — indicando inclusive o momento programado para a substituição de determinadas peças ou componentes —, além de alvarás, licenças e outros documentos. Ajudava a ganhar tempo e eficiência sempre que se tornava necessário localizar um defeito mecânico ou atender a uma abordagem da fiscalização.
Ao lado de algumas outras empresas de ponta, a Itapemirim foi das primeiras a tirar proveito das vantagens da padronização da frota. A partir da década de 1950, passou a concentrar suas aquisições de equipamentos e insumos em uma pequena e seletiva quantidade de fornecedores. Foi ainda mais longe na década de 1970, quando concluiu que — pelas dimensões de sua frota e por suas necessidades específicas de carros mais confortáveis (como os de três eixos) ou de maior lotação — já dispunha de escala para produzir suas próprias carrocerias.
A fábrica foi montada em Cachoeiro de Itapemirim e produzia cerca de 200 carrocerias por ano, para exclusiva utilização nas linhas da Itapemi-rim. Com total autonomia, a encarroçadora da Itapemirim pôde lançar nesse período algumas das mais importantes famílias de veículos de transporte rodoviário de passageiros que já rodaram nas estradas brasileiras, entre elas os vários modelos da série Tribus. Mas Camilo Cola já olhava à frente:
A Itapemirim faz carrocerias para uso próprio. Produz um ônibus que só agora temos a segurança de que será fabricado pelas encarroçadoras na-quele padrão que desejamos: com toda a dimensão que o Regulamento nos permite, e para o qual precisamos de três eixos. Agora temos assegurado que a Mercedes-Benz faz, definitivamente, o ônibus de três eixos com potência muito adequada. A Scania tem o ônibus de três eixos, a Volvo também. A Itapemirim fez um esforço enorme produzindo esses ônibus até hoje, fora do centro de fabricação de peças, ela própria fabricando tudo, ou quase tudo em Cachoeiro de Itapemirim. Acho que não há mais tanta necessidade de a Itapemirim estar fazendo esse esforço. Nossa participação foi expressiva, fabricamos perto de 200 ônibus por ano, e foram ônibus de porte.
No início de 2000, a indústria encarroçadora nacional havia criado todas as condições para atender às necessidades das transportadoras de longo curso e a encarroçadora da Itapemirim começou a ser desativada.
A importação e venda de caminhões (como o Ford 1946 da foto), facilitada pelo governo aos ex-pracinhas da FEB, foi o ponto de partida de Camilo Cola.
A primeira versão do Rodonave: criado pela Itapemirim, era um carro leito com ar-condicionado, sanitário químico e outros itens de conforto.
Na metade da década de 1950, a Itapemirim ainda operava exclusivamente linhas intermunicipais no Espírito Santo.
Em 1959, com ônibus Mercedes-Benz, a empresa deu início ao processo de padronização de sua frota.
Foto
s: Ac
ervo
Itap
emiri
m
Em 1977, outra inovação: o ônibus executivo, com 32 lugares, poltronas mais espaçosas e ar-condicionado. Lançado em 1984, o Mercedes-Benz O-370 da foto tornaria esse serviço ainda mais sofisticado.
O casal Camilo Cola, o prefeito Palma Lima, de Belo Horizonte, e o casal Abel Henriques de Figueiredo, participam da cerimônia de inauguração do Parque Rodoviário Engenheiro Abel Henriques de Figueiredo, implantado pela Itapemirim na capital mineira em 1971.
Acer
vo R
úbio
Gôm
ara
O Starbus foi o ônibus utilizado na operação do primeiro serviço executivo do País.
Foto
s: Ac
ervo
Itap
emiri
m
271
POUCA GENTE CONSEGUE falar sobre o empresário paraense Jacob Barata sem acrescentar qualificativos variados para tentar retratá-lo como homem de sucesso e como pioneiro do transporte urbano e rodoviário de passageiros no Brasil. Como ninguém, ele soube sonhar e transformar seus sonhos em realidade. Por isso, geralmente todos os que trabalham no setor se sentem à vontade para falar dele. O único a se esquivar é o próprio Jacob Barata. Dona Glória, sua mulher, costuma dizer que “se houver possibilidade de não aparecer, ele prefere”. Não admira, pois, que não tenha sido possível entrevistá-lo para este livro.
O motivo está no temperamento de Jacob Barata — um homem simples, até mesmo tímido quando fora de sua empresa ou de seu ambiente familiar. E que se transforma no momento de fazer negócios, quando se mostra arrojado e dono de enorme visão comercial. Tais qualidades lhe permitiram, em pouco mais de meio século, construir um império que dá emprego direto a vários milhares de pessoas em muitos estados. Cerca de 100 mil pessoas dependem direta ou indiretamente de seus negócios.
Ele começou em 1950, com um ônibus lotação de 12 lugares, com o qual fazia transporte urbano na linha Madureira-Irajá, na cidade do Rio de Janeiro. Era transportador autônomo, com atividade devidamente regu-larizada, nos moldes da legislação então vigente, mas não estava ligado a nenhuma empresa de ônibus. Na época, muitos bairros não dispunham de transporte coletivo para o centro da então capital do País; daí a permissão para que os autônomos (ou “lotações”) realizassem o serviço. Jacob Barata foi pioneiro na ligação da Zona Oeste com o centro da cidade.
grupo guanabara
Jacob barata
1953
272
Sua atividade, porém, foi afetada quando a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu cassar as permissões concedidas em caráter precário aos serviços de lotação. Como não dispunha de capital para montar um ne-gócio só seu, teve de agregar seu único veículo à frota de uma empresa de ônibus do bairro de Rocha Miranda. Esse também era um arranjo comum na época, e lhe deu tempo e tranquilidade para reunir os recursos com que, mais adiante, iria adquirir outros dois ônibus, igualmente agregados à mesma empresa. O pendor de Jacob Barata para os negócios começou a se revelar com clareza a partir daí. Sua capacidade de trabalho, também. Permanecia ao volante durante todo o dia e em parte da noite. Exigia o mesmo dos dois motoristas que dirigiam seus outros dois ônibus.
Jacob Barata nasceu em Belém, Pará, em 13 de agosto de 1932. Seu pai era judeu e a mãe, católica. O casal foi sempre muito rígido na educação e formação do filho. Na capital paraense, quando adolescente, além de outros pequenos serviços, trabalhou em uma loja de discos. Mas sempre pensou em viajar para o Rio de Janeiro, onde achava que iria en-contrar melhores oportunidades. Fez a viagem tão logo juntou o dinheiro da passagem. Estava com 18 anos. Como sabia dirigir e percebera a carência de transporte coletivo nos bairros mais afastados da cidade, interessou-se imediatamente pela solução representada pelos lotações.
Em 1955, decidiu desfazer-se de um dos seus três ônibus para juntar--se a dois sócios na criação de uma empresa chamada Viação Elisabete. Cada sócio entrava com dois ônibus. A sociedade durou dois anos, após o que, em 1957, Jacob Barata se sentiu forte o suficiente para montar uma empresa só sua. Levava o nome de sua filha: Viação Rosane.
Nos 20 anos seguintes, empurrado por um verdadeiro deleite em ven-der e comprar, Jacob Barata iria crescer muito no segmento de transporte urbano de passageiros. Abraçaria também o setor de revenda de veículos — sempre comprando e vendendo muitas empresas, e frequentemente tro-cando uma pela outra, numa espécie de ciranda em que conseguia fazer as frotas aumentarem continuamente. Tornou-se um dos grandes empresários de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Repercutiu intensamente uma de suas maiores aquisições, a da Viação Parapuanã, com mais de 100 carros e linhas que ligavam, principalmente, a Ilha do Governador ao centro da cidade. Avultaram, nesse período, algumas características marcantes de sua
273
personalidade como empresário: o gosto pelo risco calculado, a enorme capacidade de trabalho, a habilidade para mobilizar e motivar pessoas.
Eurico Galhardi, um de seus colaboradores mais próximos, lembra que Jacob Barata sempre soube pinçar no mercado os melhores profis-sionais, dando a eles, posteriormente, a cada nova empresa que criava, a oportunidade de se tornar seus sócios.
Naqueles tempos ele nem horários tinha. Saía cedo de casa, avan-çava pela noite e não raro pela madrugada, acompanhava a rendição de motoristas, conferia a féria, analisava as escalas. Com toda essa dedicação, as compras e trocas sucessivas resultavam sempre em uma situação melhor para cada novo estágio dos negócios.
Sua esposa e seus filhos se lembram de um domingo de 1965 em que colocou todos no carro e, como de costume, saiu para dar uma volta. Havia se desfeito há pouco da Viação Parapuanã e anunciara à família: a partir dali, atuaria somente na revenda de automóveis, atividade que podia ser exercida em horário mais restrito e previsível, e na qual, entre outras vantagens, ficavam garantidos os fins de semana com a família. Dona Glória estava satisfeita tanto pela redução da carga de trabalho como pelos horários mais regulares para o marido. Naquele domingo, porém, durante o passeio, Jacob Barata levou o carro até a garagem de uma empresa chamada Viação Glória. Uma vez lá, convidou a mulher e os filhos para conhecerem as instalações. Daí a pouco, timidamente, mas feliz, anunciou que havia acabado de comprar aquela empresa. Quem relata é a filha Rosane, integrante da diretoria da holding que controla as empresas da família:
Minha mãe começou a chorar e reclamou dele o cumprimento da promessa de não mais trabalhar com empresa de ônibus. Ele explicou que não tinha conseguido resistir. Ainda mais que a empresa levava o nome de sua esposa... talvez aquilo fosse um sinal para ele comprar e começar tudo de novo...
Estava se arriscando mais uma vez, porém esse era o seu estilo. Sempre que Dona Glória ficava aborrecida por ele ter feito uma dívida, justificava: “Se eu não arriscar, se não fizer dívidas, não vou crescer.”
274
Nas ocasiões em que o marido anunciava novas transações, Dona Glória comentava com os filhos:
Toda vez que está tudo sob controle seu pai precisa arranjar uma
dívida. Ele não sabe ficar quieto.
A filha Rosane se lembra de que o pai gostava daquilo, era algo que o estimulava. Nada o deixava mais satisfeito do que pegar uma empresa desestruturada, corrigir o que estava errado, dar ênfase ao que estava certo e, ao aparecerem os bons resultados, passar o negócio adiante. Terminada a tarefa, quase imediatamente começava a procurar um novo desafio. Era o caminho que escolhera para crescer.
A compra da empresa Citran foi sua primeira experiência no setor rodoviário. Não deu muito certo, conforme relata Eurico Galhardi:
Operar o segmento urbano é bem diferente de operar o rodoviário. Naquela época, a cabeça dele era urbana e ele não se sentiu muito à vontade no novo negócio. Acabou se desfazendo dele.
O AFASTAMENTO NÃO DUROU muito, pois surgiu a oportunidade de adquirir a Normandy. Fechou o negócio disposto a aproveitar os ensina-mentos deixados pelo negócio da Citran. Com mais algum tempo, comprou algumas empresas no Ceará e criou a Expresso Guanabara, em Fortaleza. Fez dela uma empresa-padrão do segmento interestadual, bem ao estilo Jacob Barata. Mais tarde, comprou outra empresa-modelo, a UTIL, que era de Belo Horizonte e cuja sede ele transferiu para Juiz de Fora. Além da qualidade dos serviços, a companhia destaca-se pelas inovações que costuma lançar.
Desta forma, a “cabeça urbana” do empresário evoluiu rapidamente para um universo mais amplo, em que, acima da preferência por este ou aquele segmento, prevalece o seu feeling para os negócios. Os familiares lhe atribuem a capacidade de antecipar acontecimentos, enxergar à frente dos concorrentes.
275
Além das empresas rodoviárias, o grupo Jacob Barata é dono de con-cessionárias Mercedes-Benz que figuram entre as maiores revendedoras de chassis de ônibus da marca. Dona Glória testemunha que o fundador também gosta muito desse ramo, a ponto de envolver-se pessoalmente em operações de venda: “Se ele vende dois ônibus, chega em casa feliz”.
Além disso, controla grande número de empresas de transporte ur-bano de passageiros, inclusive algumas em Portugal. Também explora hotelaria fora do Brasil. Suas empresas de ônibus operam nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pará, Paraíba, Piauí e no Distrito Federal.
Já há muitos anos Jacob Barata tornou-se um empresário extrema-mente bem-sucedido. Se quisesse, a qualquer momento poderia parar de trabalhar. Mas tem gosto pelo que faz e simplesmente não está preocupado em ganhar ou não ganhar mais dinheiro. Diariamente, continua marcando presença no escritório central das empresas, onde é chamado de “Cabeça Branca” pelos mais íntimos — alusão à sua experiência, sabedoria e, é claro, aos cabelos totalmente embranquecidos. É conhecido como bom conselheiro e gosta de receber os funcionários que o procuram, e de orientá--los nos momentos mais críticos. Não faz distinção entre os colaboradores mais humildes e os mais altos executivos ou sócios.
O contato com os filhos é diário e reuniões mais demoradas são feitas às sextas-feiras. Prefere estar com a família nos fins de semana e não fala de negócios em casa. Não mantém vida social externa. Excetuados os filhos Jacob, Rosane e David e os netos e bisnetos, é bem reduzido o círculo dos que privam de sua casa. Mas fez grandes amizades ao longo da vida, ami-gos de 40, 50, 60 anos. A eles, como também aos filhos, costuma ensinar:
O dinheiro é um acidente na vida das pessoas. Elas podem ter hoje e não ter amanhã.
Dona Glória costuma referir-se ao marido como “um moderno em-presário que tem o ônibus como paixão”. Apesar dos vários outros negócios, garante que ele gosta mesmo é de ônibus. E afirma que Jacob Barata não é um homem centralizador; delega poder e é bastante discreto, o tipo de pessoa que nunca levantou a voz com ninguém:
276
Ele não é uma pessoa ambiciosa, no sentido de querer tudo só para si. Cresceu, mas teve a preocupação e o cuidado de trazer muita gente para crescer com ele. Para mim, esse é o grande mérito de Jacob como empresário.
Amigos ressaltam em Jacob Barata a ambição de construir, mas não de reter em suas mãos tudo aquilo que constrói. Também reconhecem nele, com entusiasmo e admiração, o comerciante nato, daqueles que têm o deleite de vender. E nunca deixam de destacar o seu dom de saber escolher aqueles que vão ajudá-lo a transformar um negócio difícil em empreendimento de sucesso.
Anos 1950: o jovem empresário Jacob Barata (ao centro, de camisa branca) participa da inauguração da sua linha urbana número 81, a primeira a ligar Padre Miguel ao centro da cidade do Rio de Janeiro.
Outra linha urbana de grande extensão, a número 82, operada por ele, também foi inaugurada com festa.
Foto
s: Ac
ervo
Gru
po Ja
cob
Bar
ata
Frota de ônibus urbanos Mercedes-Benz movimentada por Jacob Barata no fim da década de 1950.
Em 2005, Jacob Barata foi homenageado pela Mercedes-Benz como um dos maiores frotistas da marca. Acabara de adquirir para uma de suas empresas o ônibus número 1.500.000 produzido pela montadora no Brasil.
Acer
vo G
rupo
Jaco
b B
arat
a
Div
ulga
ção
279
COMO VIMOS NO INÍCIO deste livro, no ano de 1933, em Blumenau, o cidadão alemão Theodor Darius, fundador da Auto Viação Catarinense, declarava-se impossibilitado de voltar à Alemanha enquanto Adolf Hitler estivesse no poder. Mas houve um seu compatriota, Willy Stobäus, que também vivia em Santa Catarina, na localidade de Porto Feliz, à beira do Rio Uruguai, que fez exatamente o contrário.
Na década de 1930, mesmo longe de seu país natal, Willy enchia-se de fervor patriótico a cada notícia recebida da pátria, falando da incrível recuperação econômica do país e agigantando a figura carismática do ditador.
Willy Stobäus tinha vindo muito jovem para o Brasil e aqui casara-se com uma jovem alemã. Em 1939, com a guerra iminente, juntou a mulher e os filhos, todos nascidos no Brasil, e embarcou num navio de volta para seu país. Lá chegando, alistou-se na Werhmacht para lutar pelo Füehrer. Sabe-se que teria morrido em combate, mas, mesmo depois de encerrado o conflito, as circunstâncias e a data de sua possível morte não foram informadas à família. Deixou a mulher e quatro filhos. Com a derrota do nazismo e a ocupação do país, a família Stobäus foi obrigada a continuar vivendo na capital berlinense, quase totalmente destruída. Só em 1948 a mãe e os filhos conseguiram voltar ao Brasil.
Durante a guerra, em Berlim, o filho mais velho de Willy Stobäus, Manfred, havia frequentado uma escola técnica onde concluiu o curso de profissional salameiro e técnico em corte de carne. A partir daí, trabalhou como açougueiro no estabelecimento de um tio. Era responsável pelo transporte da carne, fornecida por um frigorífico da capital. A operação
ttl — tranSporte e turiSmo ltda.
mani StobäuS
1955
280
era feita em caminhão por Manfred e, em face da enorme dificuldade de se conseguir peças de reposição, era imprescindível que o jovem soubesse mecânica. Ele aprendeu na prática, e muito bem.
Algum tempo depois de a família desembarcar no Brasil e fixar-se novamente em Santa Catarina, Manfred Stobäus comprou um ônibus em sociedade com um tio, em 1950, passando a transportar passageiros. Estava com 21 anos. Sua linha ligava a cidadezinha brasileira de Santa Rosa a Porto Mauá, no Uruguai. Foi a primeira linha internacional de ônibus do Brasil. Os conhecimentos de mecânica adquiridos por Manfred lhe seriam de grande utilidade para garantir regularidade às viagens, já que na maior parte do tempo o ônibus rodava no meio do mato, em estrada de terra: dois sulcos entre a vegetação no trecho Tuparandi–Cinquentenário, cidade dentro da colônia italiana, antes de chegar a Porto Mauá. A manutenção e os reparos tinham de ser feitos à noite, em Porto Mauá ou em Santa Rosa.
Entrevistado por Rúbio Gômara em setembro de 1993, Manfred Stobäus revelou que o Uruguai estivera presente em sua vida desde quan-do ainda era muito jovem. Não era de se admirar, portanto, a escolha da primeira linha. Logo em seguida, porém, em 1951, ele se juntou a um sócio para criar a Expresso Azul, que tinha dois ônibus e atendia a linha Taquari–Porto Alegre. Ao deixar essa empresa, em 1954, o jovem levava 70 mil cruzeiros e um ônibus.
No ano seguinte — considerado o ano de fundação da TTL — passou a fazer excursões de Porto Alegre para Montevidéu, num ônibus modelo “gostosão”. Acabaria casando-se com uma uruguaia. A essa altura já era mais conhecido como Mani.
Em 1957, Mani registrou a Transporte e Turismo Ltda., já então conhecida pela sigla TTL. Naquele tempo, siglas, abreviaturas e mesmo nomes curtos de empresas não eram usuais no Brasil, embora fossem co-muns no Uruguai. “Copiei a moda de lá”, explicou.
Desde muito cedo a TTL tornou-se modelo de organização, de modo que não foi difícil obter do Departamento Nacional de Estradas de Roda-gem, em 1958, a autorização para operar a linha Porto Alegre–Montevidéu. Recebeu o despacho número 1. Ou seja, foi a primeira linha internacio-nal legalmente registrada junto ao DNER. Porém, sempre que falava no assunto, Mani era cauteloso:
281
É a linha mais antiga registrada, mas tenho conhecimento de que o seu Benoni, ex-sócio da Pluma, iniciou um serviço da Sulamericana, talvez um pouco antes que o meu. Só não era um serviço legalizado pelas autorida-des. Tenho conhecimento, mas não tenho certeza: a linha ligava Paranaguá a Assunção, Paraguai. Às vezes, o ônibus levava três ou quatro dias para chegar lá. Como em tantos outros lugares, não havia asfalto no Paraná, as estradas eram todas de terra, aquela terra vermelha do Paraná.
Mas, se não foi difícil conseguir a autorização do DNER, no Uru-guai as coisas se complicaram, com muita burocracia e exigências em excesso. Tantas que Mani precisou contratar os serviços de um amigo de Montevidéu, que ficou acompanhando o processo e cuidando de atender às exigências que iam sendo feitas. Levou praticamente dois anos para obter a complementação do despacho brasileiro. Por isso, a linha só entrou em funcionamento no ano de 1960, passando a transportar não somente passageiros regulares como, ocasionalmente, nas mesmas viagens, grupos de excursionistas.
Até que, em nome da reciprocidade, entrou em cena a empresa estatal uruguaia Onda, desde aquele tempo considerada um símbolo do povo uruguaio. Nos primeiros anos, não fazia propriamente a linha Monte-vidéu–Porto Alegre, operando apenas com excursões para a capital gaúcha. Quando passou a operar a linha, tornou-se uma concorrente difícil de enfrentar, e não só por ser estatal. Aconteceu que ela rodava com ônibus importados dos Estados Unidos, os famosos GM Coach, descritos por Mani como “muito conhecidos, muito bons, com ar-condicionado e mais pesados que os ônibus da TTL”. Depois de aposentados, foram substituídos por ônibus Mercedes-Benz trazidos da Alemanha, o que, evidentemente, não aliviou em nada a pressão exercida sobre a TTL, cujos ônibus eram cons-truídos a partir de chassis de caminhão e carrocerias brasileiras. Apesar de modernas na época, elas não tinham como concorrer com as estrangeiras.
Nada daquilo, porém, intimidou Stobäus. Consciente das limitações do seu equipamento, ele se dedicou ainda mais a aprimorar a qualidade do serviço, embora uma parte do conforto que ele costumava proporcionar aos seus passageiros esbarrasse na péssima qualidade dos caminhos de terra
282
por onde seus veículos trafegavam na maior parte do tempo das viagens entre Porto Alegre e Montevidéu. Entre os transportadores, esses caminhos eram conhecidos como Estrada do Inferno.
O primeiro ônibus utilizado pela Transporte Turismo Ltda. na linha para Montevidéu foi um F-7. Algum tempo depois, Mani passou a usar um F-600, com carroceria construída pela Eliziário. Mas a verdadeira novidade tinha sido mandada vir dos Estados Unidos pelo jovem empreendedor: um banheiro. Era uma espécie de armário de aço inoxidável, em peça única. Incluía pia e vaso sanitário, e viera pela Varig, como encomenda.
Naquele tempo era fácil trazer. Usava-se nos Estados Unidos em lan-chas, motor-home e talvez até em ônibus — explicou Mani.
Nesse mesmo veículo, ele acrescentou um “bar” e o estofamento em tecido. Todas essas comodidades eram um tremendo avanço em compara-ção com o primeiro veículo usado pelo empresário naquela sua linha para Porto Mauá, do outro lado do rio Uruguai. O carro pioneiro era um Ford 1938 com carroceria de madeira fabricada em Carazinho, com capacidade para apenas 28 passageiros. Os bancos dianteiros tinham sanefas em vez de vidros nas janelas. Mais tarde, quando passou a operar a empresa Expresso Azul, utilizou um Ford F-7 com motor de oito cilindros a gasolina, que se notabilizava pelo alto consumo. Esse detalhe contava pouco, porque o combustível ainda era muito barato.
Outra grande novidade foi a introdução, em 1964, dos ônibus-leito na linha entre Porto Alegre e Montevidéu. Em 1966, a Onda começou a fazer a linha regular Montevidéu–Porto Alegre, passando por Chuí. A TTL seguiu operando a mesma linha, só que via Bagé. Eram 26 horas de viagem, sempre em estrada de terra. De memória, Mani explicou o trajeto:
Saíamos de Porto Alegre e atravessávamos o Rio Guaíba de balsa. Naquele tempo a gente chamava de barca, mas era um ferry-boat norte--americano. Feita a travessia já começava a estrada de terra, e a trepidação durava a viagem inteira. Só depois da vigésima-quinta hora, já quase che-gando a Montevidéu, é que havia asfalto.
283
No início, as viagens eram interrompidas em Bagé para o pernoite. Mais tarde, com a liberação de uma estrada no Pântano Grande, o per-noite acontecia em Melo, já dentro do Uruguai, fazendo-se a travessia da fronteira em Aceguá. Somando-se as horas, totalizavam 26. Procurando diminuí-las e tornar as viagens mais confortáveis, Mani tentou várias alter-nativas de caminho. Em 1964, depois de passar por Bagé e pela fronteira em Aceguá, pulou para Jaguarão e Rio Branco, do lado uruguaio. Com mesma preocupação do conforto, e à base de muita ousadia, inaugurou no mesmo ano também o serviço de ônibus-leito.
Fez o trajeto por Jaguarão e Rio Branco durante aproximadamente um ano. Em 1965, começou a usar a verdadeira estrada prevista na auto-rização, que passava por Chuí.
Era uma estrada não de terra, mas de barro, muito barro. Tanto que para cobrir os 200 quilômetros da Quinta até o Chuí, na fronteira, levávamos de seis a oito horas, às vezes uma noite inteira. Sempre pelo trilho de barro. Foram anos e anos de trabalho e sofrimento.
FOI ENTÃO QUE, sempre preocupado em manter ou melhorar ainda mais a qualidade dos serviços, Mani cedeu à empresa Expresso Santos Du-mont 50% das cotas da TTL. Mais capitalizada, a companhia prosseguiu trabalhando duro. Quando os países do Cone Sul começaram a discutir o primeiro Convênio Internacional de Transporte, o DNER designou Manfred Stobäus e seu irmão Otto para representar o Brasil nas reuniões. Como pioneiros e conhecedores dos problemas do transporte na fronteira, eles participaram das discussões com as autoridades de transporte da Argen-tina e depois, em 1966, estiveram presentes ao ato de assinatura de um convênio, subscrito por Brasil, Argentina e Uruguai, e ao qual aderiram, mais tarde, Chile e Paraguai.
Em 1967, a Expresso Santos Dumont — que fazia todo o litoral rio-grandense, a partir de Porto Alegre — foi vendida à Unesul. Com a transação, esta última se tornou dona de 50% das cotas do capital social da TTL. Mais tarde, a Unesul incorporou a Santos Dumont e iniciou
284
entendimentos com Mani para aquisição do controle da própria TTL. O fundador concordou em negociar mais 35% das cotas e reteve apenas 15%. Como parte do acordo, permaneceu à frente da empresa.
Em certa ocasião, Mani foi convidado para visitar a matriz sueca da Scania Vabis, na Suécia, além de outras indústrias automotivas. Seus anfitriões não esconderam o interesse por sua experiência com ônibus e transporte de passageiros.
Avanços importantes se registraram na década de 1970, com a abertura da linha direta entre São Paulo e Montevidéu (1976). No ano seguinte, a TTL passou a operar a ligação entre Porto Alegre, Foz de Iguaçu e As-sunção. Posteriormente, foram instaladas filiais da empresa em São Paulo, Santa Catarina e Montevidéu.
Manfred e Otto Stobäus sempre foram perfeccionistas e haviam feito da TLL uma referência em transporte internacional por ônibus. Nunca se interessaram em crescer muito. Como a TTL só fazia linhas interna-cionais, achavam prudente manter a empresa no tamanho adequado ao mercado da zona de fronteira, muito sujeito às variações das estações do ano, agravadas pelas frequentes valorizações e desvalorizações das moedas dos países da região. Em compensação, os dois sempre se empenharam em introduzir nos seus serviços, bem como nos ônibus e na administração do negócio, todas as inovações e avanços possíveis. Um exemplo é o fato de que os ônibus da TTL entre Montevidéu e Porto Alegre, ou São Paulo, sempre contaram com o trabalho de comissárias de bordo — as azafatas, como são chamadas no Uruguai.
Sabiamente, a Unesul fez questão da presença de Mani e de seu irmão Otto Stobäus à frente da empresa, até como forma de assegurar-se de que a tradição de qualidade seria mantida e sempre melhorada.
Manfred Stobäus trabalhou na TTL quase até sua morte, aos 74 anos, em setembro de 2004. Seu irmão Otto Stobäus, que o acompanhava desde a fundação, em 1955, continuou na direção da empresa. A TTL continuou fazendo parte do Grupo Unesul e manteve fielmente a tradicional política de qualidade dos serviços implantada pelo criador.
Na ligação entre Porto Alegre e Montevidéu. a TTL utilizou o ônibus Mercedes-Benz O 321, encarroçado pela gaúcha Eliziário.
A primeira jardineira, em
1950, foi montada sobre um Ford
1938. A carroceria era de madeira
e comportava 28 passageiros.
O jovem Manfred (à esquerda) era o dono e o motorista. Sua vida sempre esteve ligada ao Uruguai. Acabaria casando-se com uma uruguaia.
Foto
s: Ac
ervo
Man
fred
Stob
äus
Na linha para o Uruguai, Manfred Stobäus também introduziu os carros leito. Este tinha chassi Scania e carroceria Nicola.
Ônibus com chassi Scania B 75 e carroceria Eliziário modelo Bicampeão (1976) também utilizado na linha entre Porto Alegre e Montevidéu.
Os ônibus internacionais da TTL se tornaram familiares aos habitantes da capital uruguaia.
Foto
s: Ac
ervo
Man
fred
Stob
äus
287
FORAM NECESSÁRIOS SETE MESES para concluir todos os prepara-tivos: a criação da empresa, o requerimento da linha, a compra dos ônibus, a contratação de pessoal e a articulação dos pontos de apoio e de parada. Começaram a trabalhar em outubro de 1958 e, no dia 23 de maio de 1959, o primeiro carro já saiu lotado na viagem inaugural. Ia atravessar boa parte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina, cruzaria o Paraná e cortaria um pedaço do estado de São Paulo, antes de chegar ao destino final: a capital paulista.
Desembarcados os primeiros passageiros, depois de vinte horas de viagem, comemoraram. Era uma grande vitória, merecia ser encarada como tal na história do transporte rodoviário de passageiros do Brasil. A autora da façanha chamava-se Viação Minuano.
Mas a empresa ainda precisaria trabalhar muito para transformar em rotina o sucesso inaugural. As estradas, se é que podiam ser chamadas assim, representavam um desafio difícil de vencer, uma ameaça permanen-te ao bom desempenho e à durabilidade dos ônibus. Também não havia garagem própria em São Paulo e foi preciso tomar emprestado um espaço nas instalações da Viação Cometa, cedidas por Tito Mascioli e Corrado Mascioli. Com isso, foi possível pelo menos fazer a manutenção dos ônibus.
Outro problema, de solução ainda mais complicada, seria narrado a Rúbio Gômara por Júlio Zamberlan, um dos fundadores da Minuano:
Nosso maior problema depois das estradas, e para surpresa nossa, foi a insuficiente tarifa concedida pelo DNER. De acordo com os nossos cálculos,
viação minuano
Júlio zamberlan
1959
288
era insuficiente para podermos continuar e ampliar a empresa. Uma tarifa muito menor do que a gente esperava.
Ainda assim, segundo Zamberlan, decidiram enfrentar a parada, pois esperavam pelo asfaltamento de pelo menos parte da rodovia. E, efetivamente, o asfalto veio. Primeiro o trecho Porto Alegre–Caxias do Sul, depois de Caxias a Vacaria até a divisa com Santa Catarina, no Rio Pelotas. A nova situação refletiu-se na imediata qualidade das viagens, embora Zamberlan sempre se queixasse da baixa potência e da mecânica dos ônibus disponíveis na época. Às vezes, contou Júlio Zamberlan, o outro dono da empresa, Humberto Albino Bianchi, ficava em dúvida:
Será que vai dar? Vamos forçar para ver.
Forçavam, acabava dando, e a Viação Minuano foi se transformando em sinônimo de ligação entre a capital gaúcha e a capital paulista.
Júlio Zamberlan nunca esqueceu algumas palavras que lhe foram ditas pessoal mente naquele tempo por Juscelino Kubitschek. O presidente iria comparecer à inauguração da estrada de Lages, no trecho Santa Cecília até Mafra–Rio Negro, divisa do Paraná com Santa Catarina, e o III Exército requisitou um ônibus da Minuano para transportar autoridades e pessoal de apoio de Porto Alegre ao local da obra. Zamberlan foi junto e, após o corte da fita, conseguiu que Juscelino entrasse no ônibus para uma olhada rápida no salão de passageiros. Ao sair, JK deu um tapinha no ombro do embevecido diretor da Minuano e disse uma única frase:
Precisamos de mais estradas! Na verdade, naquele momento o presidente pareceu estar fazendo
uma promessa. Tanto assim que em seu governo foi feito o desbravamento da rodovia Curitiba–São Paulo, em toda a região de Itapecerica da Serra e da chamada Serra da Onça.
289
QUANDO FORAM LANÇADOS no mercado brasileiro os primeiros chassis pesados, ainda parcialmente importados, a Minuano decidiu experimentá--los. Adquiriu dois, apesar das dúvidas sobre a manutenção. Tudo correu normalmente e eles partiram para a nova realidade: a partir dali, encarro-çamento, escolha da encarroçadora e obtenção da aprovação do DNER para os novos carros eram tarefas de responsabilidade do compradores.
Os dois ônibus receberam os números 17 e 18 na frota. De acordo com o testemunho de Júlio Zamberlan, com os novos veículos, muito mais adequados à operação de longa distância, a Minuano efetivamente iniciou uma nova fase, de maior produtividade, eficiência e pontualidade. Enquanto isso, uma empreiteira levou o asfalto de Rio Negro a Curitiba. A companhia decidiu comprar mais dez unidades do novo chassi.
A ideia de lançar um carro leito surgiu em 1953. Ainda não existiam poltronas-leito, precisavam ser criadas. Uma noite, Júlio Zamberlan e Seu Bianchi ficaram até mais tarde na garagem da empresa, na Cristóvão Co-lombo, tentando construir um modelo em madeira compensada. Fizeram várias tentativas, que geralmente esbarravam no problema da inclinação das pernas. Terminaram encontrando a solução, imediatamente levada à encarroçadora Eliziário, que aperfeiçoou o modelo e construiu poltronas suficientes para equipar um carro. Estava surgindo o carro leito — ainda meio rudimentar, mas já em condições de ser oferecido como novo serviço.
Outra intervenção nos ônibus foi feita com o aumento da capacidade dos tanques de combustível. A Minuano já tinha garagem em São Paulo e, com um tanque de maior capacidade, tornou-se possível fazer toda a viagem de Porto Alegre à capital paulista sem reabastecimento.
Depois, atacaram o problema da comunicação. Estações de rádio foram instaladas nas praças mais importantes, como Porto Alegre, San-ta Maria, Pelotas, Vacaria e Curitiba. A seguir, 11 equipamentos foram instalados em ônibus, para funcionar como estações móveis. A garagem construída em Vacaria, ao lado de um restaurante famoso, foi equipada com carro-socorro.
A companhia também teve passagens mais dramáticas. Certa oca-sião houve uma grande queda de barreiras nas imediações de Caxias do Sul, interrompendo a passagem de veículos. A Minuano imediatamente mandou para lá uma turma de trabalhadores com a missão de construir
290
uma estrada precária, margeando o asfalto, para que o tráfego pudesse ser restabelecido. De outra feita, a ponte sobre o Rio Pelotas desabou. Para esse caso não havia solução privada e foi preciso esperar 25 dias até que fosse restabelecida a passagem. A empresa sofreu forte perda de receita e o dinheiro das passagens já vendidas foi devolvido aos compradores.
Durante 13 anos, de 1958 a 1971, a Minuano foi uma empresa es-tritamente familiar, tocada por apenas dois sócios. A forma de gestão era peculiar e um tanto precária, já que tudo, obrigatoriamente, tinha de passar pelas mãos de ambos. A carga de trabalho sobre eles era enorme e isso provavelmente afetou a saúde de “Seu” Bianchi. Ele sofreu uma amea ça de derrame cerebral e viajou à Alemanha para tratamento.
Praticamente na mesma época, a Minuano pediu ao DNER au-torização para lançar uma nova linha para Curitiba, a ser operada pela BR-101, ou seja, pelo litoral. Todos os testes, aferições e cronometragens foram realizados. Também foi feita uma viagem experimental no percurso alternativo, transportando alguns funcionários do 10o Distrito Rodoviário, com a finalidade de demonstrar a viabilidade da nova rota. Pontos de parada foram acertados e uma frota de dez ônibus novos estava em condições de iniciar a linha imediatamente.
A Diretoria de Transportes de Passageiros negou o pedido. Os dois fatos — a doença de Humberto Bianchi e a negativa do
DNER — atingiram profundamente a Minuano. A empresa estava bem, financeiramente e no aspecto operacional. Tinha ótimo conceito no setor e, apesar do sacrifício pessoal imposto aos dois sócios, continuava oferecendo um serviço de alta qualidade. Porém, diante das dificuldades, os dois sócios se deixaram abater. Em 1972, decidiram aceitar a proposta de compra feita pelos irmãos Piccoli, da Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha.
A aquisição pela Penha resultou na incorporação das linhas da Viação Minuano nos primeiros anos da década de 1970, e a empresa foi extinta. Em 1974, o gaúcho João Theobaldo Krás Borges decidiu fundar uma transportadora de cargas com o nome Expresso Minuano. Como marca, adotou exatamente o mesmo cavalinho que antes identificara os ônibus da Viação Minuano.
Ainda com pintura da Empresa Bianchi, mas já usando a marca Minuano, um ônibus da linha Porto Alegre–São Paulo é fotografado em frente ao estádio do Pacaembu, que então era uma das referências da capital paulista.
Já com a pintura da Viação Minuano, outro carro da mesma linha, modelo Bicampeão, da Eliziário, é fotografado junto à estátua do Laçador, no centro de Porto Alegre.
Anúncio cooperativo das empresas Minuano, Scania
e Eliziário para a linha Porto Alegre–São Paulo.
Foto
s: Ac
ervo
Júlio
Zam
berla
n
Acer
vo Jú
lio Z
ambe
rlan
Mantendo o chassi Scania, a Minuano também utilizou carrocerias Nicola.
Júlio Zamberlan
Inauguração do serviço leito da Minuano (o primeiro do Brasil) na linha Porto Alegre–São Paulo.
Foto
s: Ac
ervo
Júlio
Zam
berla
n
293
QUINZE ANOS FOI O ESPAÇO de tempo que o gaúcho Wilson José Piccoli precisou para cumprir a trajetória que o levou de dono da humilde empresa gaúcha Rouxinol — cujo maior patrimônio era um único ônibus Chevrolet 1940 —, à condição de sócio majoritário da Empresa Nossa Senhora da Penha, em 1960. Mais 13 anos e ele transformaria a Penha em uma das maiores companhias de transporte rodoviário de passageiros do País, no início da década de 1970.
Wilson José Piccoli nasceu em Farroupilha, Rio Grande do Sul, em 3 de setembro de 1924. Era um dos 12 filhos do casal Luiza Verona e Modesto Piccoli, que, tempos depois, mudou-se com toda a família para Erechim. Aos 18 anos, em 1942, para tentar a independência financeira, o jovem Piccoli transferiu-se para a pequena cidade de Getúlio Vargas, onde começou a trabalhar. Ao completar 21, em sociedade com seu cunhado Olívio Soccol e ao volante de um ônibus Chevrolet 1940, abriu a linha Getúlio Vargas–Passo Fundo, iniciando-se na área de transporte rodoviário de passageiros. Definiu-se aí, sem margem para dúvidas, sua vocação para os negócios e, especificamente, para essa atividade. Estradas e motores fariam parte de toda a sua vida.
Como a Rouxinol não tinha na região mercado para expandir-se, Piccoli mudou-se em 1949 para Santa Catarina e comprou a Empresa União Catarinense Ltda., que fazia a linha Porto União–Canoinhas–Mafra. Em seguida, passou a ligar Chapecó a Porto União. Logo, já eram três linhas, com a abertura da Porto União–Curitiba. Ao mesmo tempo, ele acompa-nhava o ritmo de construção da estrada Curitiba–Lages, de início recente.
empreSa de ÔnibuS noSSa Senhora da penha S. a.
WilSon JoSé piccoli
1960
294
Dois anos depois, pôde estabelecer a primeira linha de ônibus entre as duas cidades, criando a Expresso Curitiba–Lages, mais tarde também responsável pelas linhas Porto União–Curitiba e Mafra–Curitiba. Sua li-nha talvez mais importante seria conseguida depois de três anos, quando obteve a concessão da Curitiba–Porto Alegre. Em 1956, criou a Expresso do Sul e, em seguida, a Expresso Piccoli.
O avanço prosseguiu em 1959, quando, em sociedade com seus ir-mãos Martim, Saul e Ipenor, e os cunhados Eracildes Pio Almeida, Nery Romualdo Thomé e Ivo Almeida, Wilson Piccoli adquiriu a Centauro S. A., que operava a linha Rio de Janeiro–Porto Alegre.
Qualquer outro empresário se daria por satisfeito ao conseguir con-cretizar tantos negócios e criar tantas alternativas em tão pouco tempo. Mas não Wilson Piccoli. Um ano depois, ao lado de Saul, Martim, Ipenor, Eracildes, Ivo, Nery e um novo sócio, Percy Schwind, ele desembarcaria no negócio bem mais vultoso da compra da Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha — disposto, mais do que nunca, a construir um império.
A transportadora que deu origem à Empresa Nossa Senhora da Penha chamava-se Empresas Reunidas São Paulo–Paraná, e fazia a linha São Pau-lo–Curitiba. Também era detentora das linhas (inativas) Porto Alegre–Rio de Janeiro — tida como a mais extensa da época —, Ponta Grossa–São Paulo, Itararé–São Paulo e Apiaí–Ribeira–Capão Bonito–São Paulo. A sede da empresa ficava na capital paulista. Ela havia surgido em 1948, mas a péssima situação das estradas ao longo da rota forçou a interrupção dos serviços e empurrou a empresa para a insolvência.
Em setembro de 1955, a Expresso Record Ltda., também de São Paulo, interessou-se pela aquisição dos ônibus e da linha. Logo seria, do mesmo modo, vitimada pelos caminhos absolutamente intransitáveis que tornavam muito alto o custo de operação da rota.
Em 1957, o empresário Albertino de Castro Prestes, que mantinha na cidade de São Paulo a firma individual Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha, assumiu o negócio. Conseguiu dar relativo equilíbrio à operação, mas morreu em 1959, em acidente de avião. A viúva, Ana Amélia de Galletti de Castro Prestes, tentou manter os serviços, mas em pouco tempo percebeu que não teria condições de gerenciar tudo sozinha. Aceitou então a proposta de compra feita por Wilson Piccoli e seus sócios
295
da Expresso Curitiba–Lages, ficando apenas com uma pequena partici-pação na nova companhia. O nome foi conservado. Em 1961, a Empresa Nossa Senhora da Penha passou a ser uma sociedade anônima e a sede foi transferida para Curitiba.
Quando começara com a Rouxinol, em 1945, Piccoli tinha apenas 21 anos. Quando adquiriu a Nossa Senhora da Penha, mal chegara aos 36. Haviam sido 15 anos absolutamente intensos, profícuos, durante os quais ele jamais perdeu uma única oportunidade para exercitar seu incrível talento para os negócios e a assombrosa capacidade de impulsionar rapi-damente cada novo empreendimento a que se lançava. Agora, não queria parar. Não tinha como parar.
E, de fato, após a formalização da compra, feita em 13 de dezembro de 1960, Wilson Piccoli precipitou a Penha em uma era de desenvolvi-mento que ela jamais conhecera. Nominalmente, no momento da aqui-sição, eram 19 ônibus, mas só oito estavam em condições de utilização. A situação econômica e financeira também era péssima. Além da frota envelhecida, havia só duas garagens, uma em Curitiba e outra em Lages, Santa Catarina. Quanto às linhas, embora se dissesse que eram duas, na realidade se limitavam à ligação entre Curitiba e São Paulo, via Estrada da Ribeira, passando por Ribeira e Apiaí, no estado de São Paulo. A linha número dois, Porto Alegre–Rio de Janeiro, jamais havia sido explorada.
Nas mãos de Wilson Piccoli e da Expresso Curitiba–Lages, de ime-diato a Penha recebeu, por incorporação, outras duas empresas, de menor porte. A compra de seis ônibus novos em substituição aos antigos FNM ainda em operação permitiu implementar a linha Porto Alegre–Rio de Ja-neiro, embora à custa de enormes dificuldades, principalmente por causa das estradas precárias.
A ABERTURA DA RODOVIA asfaltada — BR-2, hoje BR-116, batiza-da como Rodovia Régis Bittencourt — viria transformar radicalmente as condições da operação. Mas não sem que, antes, a Penha passasse por um tremendo sobressalto, em que se sucederam uma forte crise institucional no País e uma tentativa de terceiros empresários que, por meio de manobras
296
de bastidores, quiseram tirar proveito da situação. Ocorreu que a compra da empresa havia sido feita num momento de transição de comando no plano federal, em dezembro de 1960, quando chegava ao fim o governo Juscelino Kubitschek. Seu mandato encerrou-se em 31 de janeiro de 1961, quando assumiu Jânio Quadros. A inauguração da BR-2 estava marcada para outubro (1961), mas em agosto Jânio renunciou, desencadeando um processo de forte turbulência política.
Naquela altura, fazia dez meses que os novos controladores da Penha vinham executando o serviço entre Curitiba e São Paulo, via Estrada da Ribeira, tal como os antigos concessionários. A linha era direta, com tarifa única, e não tinha seccionamentos. Obviamente, a empresa mantinha-se atenta ao cronograma de construção da BR-2 e preparava-se para sua inau-guração em breve. Providenciara o pedido de autorização para trafegar pela nova rota, inclusive requerendo mais quatro horários além daqueles três. Para completar, investira mais de 68 milhões de cruzeiros na aquisição de novos ônibus com chassi Scania Vabis e carroceria Eliziário, alguns dos quais dotados de sanitário, poltronas reclináveis pulmann e luz individual de leitura.
Assim que a nova rodovia foi aberta ao tráfego, em outubro de 1961, a Penha transferiu para lá sua linha para São Paulo. Na primeira viagem, os 400 quilômetros entre as duas capitais, agora passando por Registro, foram cobertos em sete horas e meia de viagem. Um assombro, já que, até então, passando-se por Ribeira, Apiaí e Capão Bonito, sempre em estrada de terra, a viagem durava mais ou menos quatorze horas e meia.
Em 1993, o sócio Eracildes Pio Almeida comentou com Rúbio Gô-mara que, quando a linha era pela Ribeira, só a Penha fazia. Quando veio o asfalto, recebeu autorização para fazer mais quatro horários, chegando a sete. Só que também foram contempladas duas fortes concorrentes, a Boscatur (depois Pluma) e a Cometa, que receberam cinco horários cada. A Penha não foi consultada sobre sua capacidade de atender sozinha à demanda da linha pelo asfalto.
No fim do governo Juscelino Kubitschek entraram as duas empresas concorrentes. Logo no início do governo Jânio Quadros, conseguimos a ex-clusividade, depois de interpôr um mandado de segurança na Guanabara.
297
Ficamos vários meses trafegando na Régis Bittencourt sem concorrência, como acontecia quando fazíamos a linha na estrada antiga. Mas depois da renúncia de Jânio, voltou ao Ministério da Fazenda a antiga equipe que tinha deixado o governo, e foi cassado o mandado de segurança que tínhamos conseguido. A Penha apelou, o mandado foi bater no Supremo, em Brasília, e lá perdemos por 7 votos a 2. No dia seguinte os concorrentes voltaram a trafegar na Régis Bittencourt — recordou Eracildes Almeida.
Um documento produzido pela companhia na época e provavelmen-te encaminhado ao DNER, enfatizava que a Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha estava apta a oferecer os lugares necessários à vazão dos passageiros na linha, desde que lhe fossem concedidos os horários necessá-rios. Lembrava que, em 8 de maio de 1961, o ministro da Viação e Obras Públicas havia recomendado ao órgão a realização de um levantamento estatístico adequado da oferta e da procura de lugares nos primeiros 90 dias de exploração da linha Curitiba–São Paulo pela empresa antiga. Só depois disso, caso houvesse mercado, deveriam ser efetivados mais um ou dois licenciamentos, a uma ou duas empresas, obedecidas as normas em vigor.
Como informou Eracildes Pio Almeida, apesar de ter feito várias gestões, a Penha teve mesmo de enfrentar as duas concorrentes. E saiu-se bem, pela via da tradição e, principalmente, da qualidade dos serviços pres-tados. Como enfatizou Wilson Piccoli em depoimento a Rúbio Gômara, no dia 31 de março de 1993:
Nós sempre tivemos muito amor ao transporte. Não saía um carro da rodoviária que nós não estivéssemos acompanhando desde o carregamento da bagagem e para fazer cumprir o horário de saída. Zelávamos muito por isso.
Seu filho Paulo Roberto Piccoli, de 44 anos, acrescentou, na mesma data:
Oferecíamos aos passageiros, principalmente em carro-leito, caixa de chocolate, refrigerante, cafezinho, frutas e revistas como Manchete e O Cruzeiro, as mais conhecidas da época. Com relação aos motoristas, também tenho na lembrança um fato que merece registro: no trecho Curitiba–São
298
Paulo, por onde passava a maior parte das linhas vindas do Sul, nosso trei-namento chegou ao ponto de orientarmos o profissional até sobre a marcha que deveria usar em cada trecho da serra.
Wilson Piccoli recordou que, por muito tempo, graças ao atendi-mento oferecido desde a saída do ônibus, 60% dos passageiros davam preferência à Penha. As outras duas empresas dividiam os restantes 40%. E seu filho Paulo Roberto acrescentou que era norma na empresa: a cada fim de semana um diretor, obrigatoriamente, dava plantão no sábado e no domingo, na garagem e na rodoviária, acompanhando a saída dos ônibus até meia-noite. Por sua vez, o sócio Ivo Almeida foi taxativo:
A Penha batia suas concorrentes na preferência do público. Batia nas linhas para Santa Catarina. Batia na linha Curitiba–São Paulo. Como batíamos também, e bem batida, a concorrência na linha Rio–Salvador. E foi sem dúvida isso que, em grande parte, motivou a empresa concorrente a se interessar pela compra da Penha.
E assim, aquele susto inicial foi superado graças ao alto grau de identificação dos usuários com a companhia, tanto na linha Curitiba–São Paulo como em várias outras. A Penha iniciou uma fase de estabilida-de econômico-financeira e elevada produtividade, o que lhe possibilitou manter um esforço contínuo de expansão. O sucesso de Wilson Piccoli estava ligado diretamente ao seu profundo conhecimento da problemática de transporte de passageiros no País e à sua condição de estrategista nato. Cedo percebera a potencialidade do transporte rodoviário. Metódico e or-ganizado, soube cercar-se de sócios e assessores de alto nível e buscar para a empresa os mais atualizados recursos operacionais. Em pouco tempo a Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha se tornou reconhecida pelo elevado padrão dos seus serviços.
EM 1962, A PENHA inaugurou a linha Curitiba–Santos. A partir desse ano, passou a expandir-se também horizontalmente e consolidou sua estrutura,
299
instalando garagens e oficinas próprias e construindo, em Curitiba, a sede central de operações, com área coberta de 16.000 metros quadrados. Como na época as comunicações por telefone eram difíceis e não confiáveis, Wil-son Piccoli instalou um eficiente serviço de rádio, com 14 estações VHF e dez estações SSB, além de nove canais de telex. A qualquer momento, podia alcançar instantaneamente as unidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Joinville, Florianópolis e Porto Alegre.
Entre 1963 e 1964, foi incorporado o Rápido Sul Brasileiro, que explorava linhas em Santa Catarina (Florianópolis, Itajaí, Joinville, Blu-menau). Também em 1964, marcando o reinício da sua expansão vertical, a Penha passou a operar as linhas Porto Alegre–Blumenau, Porto Alegre–Rio de Janeiro e Curitiba–Brusque. No mesmo ano, comprou a Empresa Centauro e a tradicional Empresa Auto Viação Catarinense, de Blumenau, a segunda maior do Estado, e a Wogel Sanger, de São Francisco do Sul e Enseada, que fazia as linhas Joinville e São Francisco do Sul.
Em 1965, foi iniciada a linha Pelotas–Rio de Janeiro. A essa altura, a Penha já tinha ônibus-leito em várias de suas outras linhas. Em seguida, fez funcionar as linhas Florianópolis–Rio e Florianópolis–São Paulo, além de Rio do Sul–Curitiba — esta em 1966. Em 1968, deu importante passo ao assumir o controle acionário da Viação Real Bahia de Ônibus, que man-tinha várias linhas domésticas em território baiano, como Salvador–Feira de Santana, Salvador–Jequié e Salvador–Vitória da Conquista. Também era sua a linha Salvador–Rio de Janeiro.
O último grande passo foi dado em abril de 1972, quando a Penha assumiu o controle acionário da gaúcha Viação Minuano S. A., cuja prin-cipal linha era a Porto Alegre–São Paulo. No setor de transporte rodoviário de passageiros, era voz corrente que essa era a melhor linha do Brasil, a mais rentável. Wilson Piccoli confirmou:
Era, realmente, a melhor linha do Brasil. Toda noite, saíam oito ônibus de Porto Alegre para São Paulo, e vice-versa. Pertencia ao Bianchi, o primeiro a lançar um carro com toalete a bordo, e também o carro-leito.
Além das linhas, com a compra da Minuano a Penha incorporou 100 ônibus de uma só vez, tornando-se dona da maior frota rodoviária de
300
toda a América Latina no segmento de transporte rodoviário de passageiros. A extensão das linhas foi ampliada para 25.000 quilômetros. A aquisição ainda teve outro grande significado para Wilson Piccoli: estava de volta ao seu estado natal, de onde saíra 23 anos antes. A Penha era agora detentora de 51 linhas, desde Pelotas até Salvador. O percurso diário se elevara para 120.000 quilômetros e seus ônibus passavam a ligar nada menos que oito estados. Para tanto, mantinha oficinas próprias em Porto Alegre, Lages, Joinville, Blumenau, Florianópolis, Curitiba, Ponta Grossa, Registro, Itararé, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Tubarão e Vacaria. Suas instalações ocupavam 76.000 metros quadrados de área construída, e estava equipada para executar qualquer serviço, inclusive reformas completas de ônibus.
O ALUCINANTE RITMO de crescimento tornou mais difícil acertar sempre. E seria causa de um erro de avaliação que a Penha viria a lamen-tar mais tarde.
Na década de 1950, duas empresas — a Viação Cometa e o Expresso Brasileiro — dividiam a operação da linha Rio de Janeiro–São Paulo, pela Via Dutra. O fluxo de passageiros não parava de crescer e as operadoras já não conseguiam atender plenamente à demanda. Além disso, pelo excesso de usuários e pela impossibilidade de as duas empresas aumentarem ainda mais a frequência de horários, às vezes havia quedas de qualidade dos ser-viços. Motoristas de táxi, lotações, e mesmo donos de carros particulares, começaram a transportar passageiros, sem autorização, entre as duas capitais.
O DNER, que gerenciava o transporte rodoviário de passageiros no âmbito federal, decidiu requisitar o serviço de uma terceira empresa na linha Rio–São Paulo. Escolheu a Centauro, operadora da linha Porto Alegre–Rio de Janeiro, e que Wilson Piccoli havia adquirido em 1964. O irmão de Wilson, Saul Piccoli, responsável pelos contatos da Penha com o DNER, concordou com a requisição e a Centauro passou a fazer a li-nha. Logo veria que não tinha carros suficientes para atender, ao mesmo tempo, a linha Porto Alegre–Rio e a linha Rio–São Paulo. Por isso, de vez em quando, a linha do Rio de Janeiro para Porto Alegre era feita com um ônibus da Penha.
301
Certa noite, o engenheiro Marcello Rangel Pestana, diretor-geral do DNER, estava na rodoviária do Rio acompanhando algumas operações e observou um carro da Penha embarcando os passageiros com destino a Porto Alegre. Deu um ultimato: ou a Centauro providenciava mais carros, ou o DNER suspendia a requisição para a linha Rio–São Paulo.
Rúbio Gômara teve participação nesse episódio. Era advogado da Penha (da qual foi sócio e diretor em determinado período) e transmitiu a Saul Piccoli o ultimato do engenheiro Marcello. Piccoli pediu a Rúbio que explicasse as passageiras dificuldades da Centauro e confirmasse o in-teresse em continuar operando na Rio–São Paulo, mas não por requisição. Queria a garantia da linha para poder investir na compra de mais carros.
Marcello Rangel Pestana não concordou. Suspendeu a requisição e chamou a Cidade do Aço, que também impôs uma condição: precisava de uma licença de importação para trazer ônibus norte-americanos, iguais aos da Viação Cometa, para poder concorrer de igual para igual com as outras duas. Novamente o diretor da Divisão de Passageiros disse não e transmitiu o convite à Única, que aceitou a requisição, operou com ônibus nacionais e, posteriormente, obteve a garantia da linha.
Quarenta anos depois, Wilson Piccoli preferiu não comentar o epi-sódio. Explicou apenas que as questões relacionadas ao poder concedente eram conduzidas por seu irmão, Saul. Uma das maiores operadoras bra-sileiras havia deixado passar a oportunidade de explorar — ainda que em conjunto com outras duas — uma das melhores linhas interestaduais do Brasil. Paulo Roberto Piccoli justificou, sem esconder certo arrependimento:
Realmente, na ocasião havia falta de ônibus, devido ao nosso cresci-mento. Mas creio que foi uma perda bastante significativa, uma oportunidade excelente que se apresentou e foi perdida. Talvez, mesmo com a dificuldade de frota, se poderia ter conseguido mais dois carros para atender à linha. É o que se pode chamar de bobeira, aquele momento. Quando se acordou, já não dava mais.
Embora não sirva de consolo, é o caso de lembrar que, em outra oportunidade, quando a Penha se dispôs a prestar um serviço mediante requisição do DNER, acabou amargando enorme frustração.
302
Foi no caso da Rio de Janeiro–São Luís. Como a linha estava sem uma empresa titular, houve requisição do DNER para a Penha fazer, em caráter precaríssimo. Assinamos um termo em que reconhecíamos isso. Na época já havia a decisão do governo de implantar novas linhas interestaduais por meio de seleção pública, ou concorrência pública. A Penha executaria o serviço até que se elaborasse o edital e se realizasse a concorrência para escolha da empresa titular. A Penha fez a linha, creio, por mais de um ano e sabíamos que aquele termo assinado por nós gerava direitos — recordou Ivo Almeida em 1993.
E o que aconteceu? O DNER elaborou o edital, publicou-o, e ins-creveram-se para a concorrência, além de outras empresas menores, as gigantes Penha e Itapemirim. No dia marcado, as propostas foram abertas, avaliadas, e procedeu-se à contagem dos pontos: Itapemirim e Penha na frente. Verificou-se, então, que teria ocorrido uma irregularidade na do-cumentação apresentada pela Itapemirim. Tudo apontava para a vitória da Penha, mas quando foi anunciada a vencedora, era a Itapemirim. Em 1993, transcorridos tantos anos, Ivo Almeida ainda lamentava:
Aquilo nos causou uma frustração muito grande, um desencanto enor-me com a atividade. Foi realmente uma ducha de água fria no ânimo que a gente tinha em relação ao transporte de passageiros. Nós nos sentimos prejudicados, injustiçados, tanto que no primeiro momento tínhamos a firme intenção de entrar em Juízo. Não o fizemos porque, dentre outras coisas, o Dr. Urquiza Nóbrega, então chefe de gabinete do diretor-geral do DNER, nos aconselhou: ´Não façam isso, o País está crescendo, o governo está abrindo estradas, ligando grandes centros. O transporte de passageiros tem muito futuro e uma questão judicial sempre desgasta. Vocês vão demandar contra o poder concedente?´ Enfim, fez uma série de ponderações dentro dessa linha, o que realmente nos influenciou. Abandonamos a ideia do recurso ao Poder Judiciário.
303
EM DEZEMBRO DE 1973, muita gente no setor se perguntou se fa-tos como a divisão por três da linha Curitiba–São Paulo, a oportunidade perdida de operar na Via Dutra e a concorrência mal-resolvida da Rio de Janeiro–São Luís contribuíram para quebrar um pouco do ímpeto e do dinamismo do empresário Wilson Piccoli. Não há indícios de que o próprio Piccoli tenha dado resposta cabal a essa interrogação.
O fato é que, exatamente 13 anos depois de haver comprado a pe-quena Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha, e de ter dado a ela o melhor de suas energias, Wilson Piccoli aceitou a oferta do empresário Camilo Cola e vendeu a ele a grande Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha. Na história do transporte rodoviário interestadual de passageiros do País, poucas transações terão sido tão surpreendentes quanto essa. De repente, era como se o empresário Wilson Piccoli houvesse se desencantado por completo com a atividade que havia exercido durante toda sua vida.
Vinte anos depois, perguntado por Rúbio Gômara, ele não disse que sim, nem que não. Preferiu não revelar qual teria sido a razão fundamental que levara o grupo a se desfazer da empresa. Pareceu interessado em mudar de assunto e fez apenas um breve comentário:
Houve uns sócios que queriam sair do ramo. Queriam vender a parte
deles — ou eu ia vender a minha parte. No fim, nós, reunidos, resolvemos vender tudo junto. Cada um foi ter a sua atividade particular.
Eracildes Almeida não concordou com a versão no plural (de que os sócios, reunidos, teriam decidido a venda). Segundo ele, a iniciativa foi totalmente de Wilson Piccoli. Mas Eracildes não revelou o que teria movido o presidente da empresa. O que se sabe é que, desde a aquisição da Penha, quando ainda era uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, Wilson era amplamente majoritário, com 58% das cotas. Depois dele, quem tinha mais cotas era seu irmão Saul, com 21%. A participação dos demais sócios, somada, alcançava 20% das cotas. Quando já socieda-de anônima, a composição acionária foi alterada, mas Wilson continuou sendo o maior acionista.
Falando em 1993, Paulo Roberto Piccoli deu boas pistas para se entender o que aconteceu, mostrando-se bem menos reticente que o pai:
304
Devido ao crescimento contínuo, a empresa jamais chegou a ter uma reserva de caixa. Com o descontentamento de alguns, e não havendo dinheiro, já que tudo era reinvestido na empresa, na construção de novas garagens, na aquisição de novos ônibus, ocorreu um desgaste, já que se tornava necessário ceder braços da empresa a sócios que estavam saindo. A primeira perda sig-nificativa, importante, foi justamente a da Auto Viação Catarinense para os sócios Martim Piccoli e Percy Schwind, isso aproximadamente em 1969. Dois anos depois, desligou-se o sócio Saul Piccoli, que por sua vez saiu com os 50% que a Penha detinha na Pluma. Vê-se então que a venda do grupo foi, na verdade, o fim de um processo de desmembramento iniciado quatro, cinco anos antes. Ainda houve um crescimento de fato, que foi a compra da Viação Minuano, com uma única linha ligando Porto Alegre a São Paulo, mas uma linha com cem ônibus.
Independentemente de quais tenham sido as razões de Wilson Pic-coli, ele e a Penha, ao ser negociada, já tinham feito história e marcado seus nomes no setor de transporte rodoviário de passageiros do Brasil. Ivo Almeida, sócio da companhia naqueles estonteantes 13 anos, fez uma boa análise da trajetória da companhia:
Na época tivemos uma grande expansão da rede rodoviária, com a
construção de muitas estradas e a inauguração de Brasília. A pujança da indústria paulista colocou São Paulo como extraordinário polo de atração.Naquela época, qualquer linha para São Paulo tinha movimento e tinha passageiros. As linhas compradas pelo Expresso Curitiba–Lages eram linhas muito boas, porque ligavam a São Paulo. Para mim, a expansão do País, as linhas realmente boas e a equipe que dirigia e trabalhava na empresa, foram os três fatores fundamentais para o desenvolvimento da Penha.
Adquirida em 1973, a Penha esteve sob controle do Grupo Itapemi-rim nos 33 anos seguintes. Nesse período, manteve todas as suas principais linhas e área de atuação nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba e Ceará, além da linha internacional entre São Paulo e Argentina.
Ônibus Scania-Marcopolo que cobria a linha Curitiba–São Paulo. Com seus serviços, a Penha pôs fim a uma longa era de atrasos, imprevistos e interrupções no serviço de ligação entre as duas cidades.
Wilson Piccoli (no centro) era especialmente habilidoso para formar equipes e não hesitava em trabalhar com muitos sócios. Mas sempre como majoritário.
Foto
s: Ac
ervo
Rúb
io G
ômar
a
No Rio de Janeiro, ônibus Mercedes-Benz-Eliziário da Centauro (controlada da Penha), ostenta faixa de propaganda da primeira linha direta entre a capital gaúcha e a então capital do País.
Wilson José Piccoli. Em poucos anos, fez da Penha uma das maiores empresas de transporte
rodoviário de passageiros da América Latina.
Acer
vo R
úbio
Gôm
ara
Acer
vo S
cani
a
307
EM 1966, UM MOTORISTA e vários passageiros da Viação Sampaio tes-temunharam muito de perto um dos grandes desastres naturais da região da Serra das Araras. Uma chuva muito forte e prolongada provocou a queda de várias barreiras, interrompendo o tráfego na Via Dutra, num trecho da serra entre São Paulo e Rio de Janeiro. Um ônibus da Sampaio que fazia a linha Aparecida–Rio de Janeiro parou a alguma distância do lugar onde acabara de cair a primeira barreira.
Nosso motorista esperou para ver o que acontecia; quando percebeu que não poderia mesmo passar, achou prudente dar uma longa volta, passando por Três Rios e depois por Petrópolis para tomar o caminho do Rio. Perdeu com isso várias horas. Havia saído de Aparecida às 7 horas da manhã e só no dia seguinte, também às 7 horas, conseguiu completar a viagem. Além da tensão, os passageiros tiveram de ficar várias horas sem comer — narrou a Rúbio Gômara um dos sócios da empresa, Isaac Sampaio.
A situação de alguns veículos de outras empresas, porém, foi dramá-
tica. Um ônibus da Viação Cometa e outro do Expresso Brasileiro ficaram isolados sobre uma ponte, enquanto em volta deles barreiras desabavam. Testemunhas disseram que um dos passageiros do carro da Viação Come-ta era padre e procurou ajudar os demais, pedindo a todo momento para que rezassem e se mantivessem calmos. Um ônibus da empresa Centauro ficou imobilizado entre duas barreiras, felizmente sem ser atingido pelos deslizamentos.
viação Sampaio ltda.
iSaac Sampaio — orlando martini
1963
308
Para o pessoal da Sampaio — como contaram Isaac Sampaio e seu sócio Orlando Martini, em depoimento para este livro, gravado no dia 14 de setembro de 1994 —, foram muitas horas de apreensão pela falta de notícias do ônibus da linha de Aparecida. Só sabiam que o veículo partira desta última cidade às 7 horas da manhã e que, no momento em que as quedas de barreiras começaram, deveria estar passando pela região da serra. O trecho da estrada atingido ficou fechado por vários meses e só foi reaberto no ano seguinte.
Mesmo sem ter vítimas a lamentar, a Sampaio jamais esqueceria esse acontecimento, que era rememorado por Isaac Newton Sampaio e Orlando Martini sempre que falavam dos tempos difíceis em que a em-presa iniciou suas atividades. Isaac e Orlando haviam fundado a empresa apenas três anos antes, em 25 de abril de 1963. O acidente na serra foi o que de mais terrível aconteceu naquele período, mas a chuva, para eles, fatalmente era sinônimo de dificuldades. Na linha Volta Redonda–Angra dos Reis, por exemplo, a estrada era uma armadilha, principalmente quando chovia. Os ônibus inevitavelmente atolavam na descida da serra e tinham de ser resgatados por trator. Nem por isso os dois sócios pensaram alguma vez em desistir.
Criamos a empresa a partir do desmembramento de duas linhas até então pertencentes à Cidade do Aço, que, por sua vez, as havia adquirido da Pássaro Marron. O fundador e dono da Cidade do Aço, Geraldo Ozório Rodrigues, foi quem sugeriu o nome da nossa empresa — Viação Sampaio. As duas linhas eram Volta Redonda–Aparecida do Norte e Volta Redonda–Angra dos Reis. Depois, a Sampaio incorporou outras, como Rio de Janeiro–São José dos Campos, Rio de Janeiro–Aparecida, Rio de Janeiro–Pindamonhangaba e Volta Redonda–Mogi das Cruzes — explicou Orlando Martini.
A empresa já nasceu operando exclusivamente linhas interesta duais, sob a jurisdição do DNER. Seus ônibus passaram a ligar todo o Vale do Paraíba paulista à capital do estado do Rio de Janeiro. Principalmente nos primeiros tempos, Isaac e Orlando trabalharam muito para manter o ne-gócio. Mecânico, Orlando tratava de manter os ônibus em boas condições de rodagem. Isaac pegava no volante.
309
TANTO ISAAC NEWTON Sampaio como Orlando Martini procediam da zona rural de Barra Mansa, onde o pai de Isaac tinha uma fazenda. Ainda bem jovem, Isaac resolveu viver em Barra Mansa, onde abriu um bar, no tempo da guerra. Mais ou menos nessa época, inspirado pelo grande movimento de gente que chegava de todas as partes do País com a intenção de trabalhar nas obras de implantação da Companhia Siderúrgica Nacional, Isaac começou a pensar na possibilidade de fazer transporte de passageiros. Pouco depois, juntamente com o amigo Orlando, comprou uma empresa chamada Viação Falcão, que fazia o trecho que ligava Minas Gerais a Barra Mansa. Operavam com um único ônibus, um dos primeiros do tipo monobloco, modelo O 321 Mercedes-Benz. Veio a oportunidade de iniciarem uma linha de lotação e eles trabalharam nisso durante cinco anos. Transportavam passageiros entre Barra Mansa e Volta Redonda. Pos-teriormente, de 1957 a 1962, operaram o mesmo serviço com a Viação Sul Fluminense e a Viação Volta Redonda, empresas do pioneiro do transporte rodoviário na região, José de Matos.
Compraram então as duas linhas da Cidade do Aço. Agora, os ôni-bus eram da marca Volvo, com carroceria Carbrasa. Haviam pertencido inicialmente à Empresa Pássaro Marron, tendo sido mais tarde repassados ao empresário Geraldo Ozório Rodrigues, que por sua vez os incluíra na transação que deu origem à Sampaio. Mais tarde, Isaac e Orlando voltaram a utilizar versões modernas dos monoblocos Mercedes-Benz.
De modo geral, a atividade evoluiu bem e, aos poucos, eles puderam aumentar a frota. Mas houve também alguns insucessos, caso por exem-plo da linha que abriram para Itajubá, Minas Gerais. Parecia promissora, mas logo se mostrou pouco produtiva pela escassez de passageiros, pois, como as obras da siderúrgica já iam adiantadas, o fluxo de pessoas para Barra Mansa e Volta Redonda começara a diminuir. Mas a Viação Cometa tinha interesse na linha e ela foi negociada. A linha para Angra dos Reis, ainda feita em estrada de péssima qualidade, foi repassada à Empresa Viação Angrense, a Eval. Em compensação, a Sampaio estabeleceu uma linha para São José dos Campos, que posteriormente seria prolongada até
310
Jacareí. Começou com dois horários, que foram aumentando até chegar a nove por dia.
A linha Barra Mansa–Aparecida do Norte também ajudaria a marcar a história da Sampaio. Até então, seus passageiros de Barra Mansa que demandavam Aparecida eram transportados até a Churrascaria Santo An-tônio, à margem da Via Dutra, e em seguida embarcados em um segundo ônibus, procedente do Rio, para Aparecida. Quando o movimento aumen-tou muito, a Sampaio criou uma segunda empresa, chamada Viação São Luiz, para fazer a linha direta Barra Mansa–Aparecida. Numa segunda fase, a São Luiz foi incorporada à Sampaio. E numa terceira, foi novamente desmembrada, passando a chamar-se Viação San Martin. A denominação resultou da fusão dos nomes dos dois sócios, Sampaio e Martini.
Embora a sede continuasse em Barra Mansa, a Viação Sampaio pas-saria a ligar a cidade do Rio de Janeiro a todo o lado paulista do Vale do Paraíba. Seriam implantadas garagens em Aparecida do Norte, São José dos Campos e Rio de Janeiro, além de um ponto de apoio em Resende (RJ).
A San Martin foi vendida ao grupo Viação Agulhas Negras–Trans-portes Tupi, mas o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida — 12 de outubro — jamais deixaria de fazer parte do calendário festivo anual da Sampaio. Inclusive por ser o dia de maior movimento da empresa no ano. Nossa Senhora Aparecida sempre foi considerada a “madrinha” do negócio.
Isaac Newton Pereira Sampaio morreu em dezembro de 2004. Foi sucedido na direção da companhia por suas filhas Marina, Vera Lúcia e Solange. O sócio Orlando Martini continuou firme nas funções de diretor operacional.
Desde os primeiros anos a história da Viação Sampaio esteve estreitamente ligada à cidade de Aparecida do Norte, no lado paulista do Vale do Paraíba.
A criação da linha entre Rio de Janeiro e São José dos Campos (prolongada depois até Jacareí) foi uma das principais etapas no processo de crescimento da Sampaio.
Foto
s: Ac
ervo
Via
ção
Sam
paio
Orlando Martini, um dos dois fundadores da
Sampaio, tendo ao lado Letícia Sampaio Kitagawa,
da terceira geração.
Enquanto a Ciferal manteve a produção, suas carroçarias tiveram a preferência da Viação Sampaio. Anteriormente, ela utilizara monoblocos da Mercedes-Benz. Mas o começo da empresa foi com ônibus Volvo encarroçados pela Carbrasa.
Foto
s: Ac
ervo
Via
ção
Sam
paio
313
AS HISTÓRIAS DE MUITAS das empresas pioneiras de transporte de passageiros que chegaram aos nossos dias mantêm certas características comuns: começaram do nada, progrediram com esforço, fundiram-se com outras de menor porte, fizeram aquisições. De modo geral, preservaram o nome inicial, ou, quando assumiram nova denominação, isso se fez sem que os fundadores abrissem mão do controle direto do negócio.
O caso da Unesul, de Porto Alegre, não seguiu esse figurino. É verdade que o começo de tudo se deu nas condições mais humildes
e menos favoráveis. Na metade do caminho, porém, foi a fusão de empre-sas praticamente iguais em tamanho e capital que permitiu viabilizar um empreendimento vigoroso, que rapidamente ganhou impulso e se firmou em definitivo no mercado gaúcho e dos estados vizinhos.
Pode-se dizer que o momento crucial da história da Unesul foi aquele em que alguns empreendedores se juntaram em torno de uma mesa para, após várias tentativas, desenhar o modelo de empresa que desejavam tocar em conjunto. Definido o desenho, arregaçaram as mangas e seguiram em frente, sem hesitações nem desavenças, focados unicamente na qualidade dos serviços que pretendiam oferecer aos usuários. Esta seria a alavanca para impulsionar o negócio. E a história da Unesul é bem um exemplo de como, num determinado momento, a palavra de alguém mais experiente, ou dotado de maior ponderação, pode influir de modo decisivo nos destinos de uma empreitada.
Aconteceu em setembro do distante ano de 1964, quando o gaúcho de Guaporé Avelino Ângelo Andreis, então com 41 anos, e o gaúcho de
uneSul de tranSporteS ltda.
avelino andreiS — danilo zaFFari
1964
314
Erechim Danilo Zaffari, decidiram fundir três empresas sob uma nova razão social. A história foi contada a Rúbio Gômara em setembro de 1993 por Avelino Andreis e João Lourenço Zaffari, os homens que nas décadas seguintes à fusão viveram o dia a dia da nova empresa. Também partici-pou da conversa Belmiro Zaffari, primo-irmão de Danilo Antônio Zaffari, morto em 1971.
Melhor é que se conte tudo desde o começo. Em 1937, João Lourenço Zaffari tinha apenas 10 anos de idade
quando seu pai comprou a primeira jardineira e, em sociedade com o irmão Pedro, passou a transportar cargas e passageiros entre a localidade de São Valentim e a cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. O itinerário era de 60 quilômetros. João e Pedro eram italianos. Pedro cuidava da parte comercial da empresa e João ia para a estrada. E pelo menos parte dessa estrada ele conhecia muito bem, já que durante vários anos andara por ali com uma carroça puxada a burro. Como carroceiro, ganhava a vida transportando coisas de um lugar para outro.
Leão da Serra foi o primeiro nome da empresa e da linha. O único ônibus da Leão não demorou a ir mais longe, abrindo outra linha, desta vez entre Erechim e Porto Alegre. No jargão do transporte de passageiros daquele tempo, João “furou” — isto é, entrou numa área geográfica onde já atuavam outras empresas. Entre essas duas cidades, quando o tempo era bom, a viagem, feita toda em estrada de terra, demorava de dois a três dias. Com chuva, era preciso parar e, às vezes, esperar até por uma semana em algum hotel do percurso, já que a estrada virtualmente sumia. Nos primeiros tempos, João Lourenço, ainda menino, era o cobrador.
Passado mais algum tempo, a Leão da Serra “furou” de novo, desta vez na direção de Chapecó, Santa Catarina. Agora, pai e filho punham a jardineira na balsa, atravessavam para o outro lado do rio e enfrentavam outro longo pedaço de estrada hostil. “Cansamos de fazer essa viagem”, lembrou João Lourenço. A jardineira, construída em cima de um cami-nhãozinho Ford 1938, a gasolina, era valente:
Naquele tempo era tudo gasolina. Pneu simples, não existia pneu duplo. Depois, meu pai ainda enfrentou o gasogênio. Levantava-se às 4 horas da manhã para fazer o fogo. Eu e minha mãe ajudávamos a limpar
315
os filtros, esquentar tudo, meter o carvão. Gasolina, não se conseguia. Para conseguir cinco litros, eu tinha de viajar até a prefeitura. Cinco litros! O resto tinha de ser na base do gasogênio. Sempre me lembro daqueles tempos quando digo que subimos a escada devagarinho — recordou João Lourenço.
Na época do gasogênio, a empresa já tinha uns seis ou oito ônibus. Viera crescendo graças a fusões e aquisições de linhas e pequenas empresas. Em novembro de 1947, passou a se chamar União Erechim de Transportes Ltda. — Unetral — e se tornaria referência obrigatória no transporte de passageiros da região.
Ali perto também operava outra companhia, só que no ramo de carga: era a Companhia Transportadora Sulina, que um dia assumiu o contro-le acionário da Reunida da Serra, empresa de transporte de passageiros. Aparentemente, quis agregar novo segmento aos seus negócios. Como relatou Avelino Andreis, a Empresa Reunida da Serra operava entre Porto Alegre e Passo Fundo. Era propriedade de um grupo desta última cidade e administrada por Fioravanti Lunardi.
Era uma boa empresa, mas enfrentava dificuldades financeiras e ad-ministrativas, isso por estarem os sócios sempre em processo litigioso. Não se entendiam. Um dia, o seu Fioravanti Lunardi chegou na nossa empresa e desabafou: queria vender a empresa imediatamente, pelo preço que lhe fosse ofertado. E foi assim que nós, da Transportadora Sulina, que trabalhávamos com carga, compramos a Reunida da Serra, empresa de passageiros. Isso naquele mesmo dia, 13 de março de 1964, e pelo preço que ofertamos — contou Andreis.
Mas a história não terminava ali.
Nós mantínhamos relações muito chegadas com Danilo Zaffari, que era diretor da empresa Unetral, em Porto Alegre. Ele veraneava na praia de Atlântida, ao lado de um apartamento que eu tinha. Nós nos encontrá-vamos frequentemente na praia, nos fins de semana. Um dia, o Danilo me perguntou: “Compraste a empresa?” Eu disse: “Compramos.” E ele, com toda franqueza: “Mas aquilo não é a tua atividade.” Eu respondi: “Não
316
é, mas comprei para fazer um acerto com você. Quero uma fusão. O meu negócio de fato não é passageiro, é carga.” Aí nós começamos a desenvolver um estudo, um projeto de fusão, e nisso tivemos a colaboração do pai do Belmiro, Vitório Zaffari.
De início, não foi tão fácil quanto eles pensavam. E foi onde entrou a figura de um conselheiro experiente:
Eu me lembro de que quando fizemos a primeira montagem para criar a nova empresa, partimos da fusão dos departamentos de passageiros: a Reunida da Serra entrava com todas as suas linhas e a Unetral entrava com suas linhas que faziam Porto Alegre. Fomos a Erechim falar com seu Vitório, o falecido pai do Belmiro e do João. E ele, com aquela lucidez que todo mundo conhecia, disse: “Não me agrada. É melhor fazermos uma fusão completa. Não podemos fazer fusão parcial porque, daqui a pouco, estare-mos fazendo concorrência entre nós mesmos.” Tomamos aquele comentário como um conselho, uma orientação. Voltamos a Porto Alegre, estudamos tudo de novo por uns quinze ou vinte dias, até chegarmos a uma fórmula viável. Criamos a Unesul de Transportes. Isso foi em 30 de setembro de 1964. A Sulina pôde continuar trabalhando no seu ramo, o transporte de carga, depois de ter operado por apenas seis meses em transporte rodoviário de passageiros, por intermédio da Reunida da Serra.
A fusão era muito mais importante do que poderia parecer à primeira vista; dela resultou a maior empresa de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros do Rio Grande do Sul. Ela nasceu da soma de quase 20 anos de experiência na área de transportes de cada uma das fundadoras e já começou com frota de 65 veículos, rodando mensalmente cerca de 350.000 quilômetros. Eram operadas 16 linhas intermunicipais e interestaduais. No aspecto societário, os representantes da família Zaffari tornaram-se majoritários na sociedade e Avelino Andreiss ficou com 39% das ações.
Sobretudo, porém, o novo empreendimento surgia carregado de simbolismo e tradição. Tanto a Unetral como a Companhia Sulina vinham do tempo em que, principalmente no inverno, só conseguiam trafegar os
317
ônibus equipados com correntes nos pneus. Trechos que mais tarde seriam feitos em três ou quatro horas, naquele início do negócio chegavam a le-var dias inteiros. Isso quando os veículos não quebravam e os passageiros tinham de esperar pelo conserto, o que podia levar dias.
A fusão bem feita foi uma das razões para o sucesso da Unesul. Mas houve outras, também muito importantes, como por exemplo a política de reinvestir todos os ganhos na própria atividade-fim.
A Unesul nunca distribuiu dividendos. Começou com 60 ônibus, quan-do da fusão. Na década de 1990, chegou a 470, 480 ônibus e continuou sempre reinvestindo em termos de patrimônio. Quer dizer, patrimonialmen-te, a Unesul tem uma fortuna. Mas o desfrute dessa fortuna não se faz de acordo com aquelas concepções que muita gente costuma ter em relação ao dinheiro — explicou Belmiro Zaffari a Rúbio Gômara.
Avelino Andreis acrescentou:
A Unesul, nesse seu longo curso de tempo, como bem disse o Belmiro, além de não ter distribuído dividendos, não desvirtuou nenhuma aplicação, toda ela foi dedicada à empresa ou a empresas afins. Nós não temos nenhum investimento fora da nossa principal atividade, que é o transporte rodoviário de passageiros, quer direto, quer indireto. Nossa atividade nesses longos anos foi sempre voltada ao aprimoramento, ao melhoramento e ao crescimento proporcional à capacidade da própria empresa.
A Unesul também fez várias aquisições importantes. Uma delas, motivo de muito orgulho, ocorreu em duas etapas. E, ao contrário do que geralmente acontece nos casos de aquisição, a compradora preferiu não mexer no nome da empresa adquirida. Tinha razões para isso, como explicou Avelino Andreis:
Em 1967, compramos a Expresso Santos Dumont, que fazia todo o litoral rio-grandense, partindo de Porto Alegre. Acontece que a empresa era detentora de 50% das cotas do capital social da Transporte Turismo Ltda., a TTL. Ou seja, quando compramos a Expresso Santos Dumont, vieram junto
318
os 50% de participação que a empresa tinha na TTL. E assim ficamos sócios dela. Acontece que a TTL é uma empresa-modelo. Não é a maior, mas é a melhor. Nasceu e viveu sob o carisma do perfeccionista Manfred Stobäus, muito conhecido no setor como Mani. Aliás, uma coisa muito importante na TTL, que é uma empresa de 32 ônibus, aproximadamente, é que ela nunca se preocupou em crescer, mas sempre se preocupou em manter e melhorar a qualidade. Acabou sendo a única empresa com serviço de bordo desde Mon-tevidéu até São Paulo. E com comissária — a “azafata”, como se chama no Uruguai. Portanto, tínhamos muito orgulho em ser sócios dela. Mais tarde, adquirimos outros 35% da TTL e chegamos à participação de 85%. Não é porque pertence à Unesul, mas não temos o menor receio de dizer que é a melhor empresa do Brasil.
Tal aquisição, importante em si mesma, também colocou a Unesul num mercado cheio de peculiaridades, às quais foi preciso prestar muita atenção. Algumas já eram bastante conhecidas das empresas de transporte rodoviário do Rio Grande do Sul. Por exemplo, nem sempre o conceito de reciprocidade deveria ser interpretado linearmente — lição aprendida a duras penas pela TTL. No passado, pouco tempo depois de lançar sua linha para o Uruguai, a empresa de Manfred Stobäus tivera de dividir o mercado com uma companhia uruguaia, conforme exigiam os acordos de reciprocidade. O problema é que do outro lado estava uma empresa tradicionalíssima do país vizinho, a Onda, estatal que entrou com tudo na concorrência, utilizando modernos ônibus GM importados dos Estados Unidos, com motor traseiro e ar-condicionado.
APESAR DA SURPRESA, a TTL sustentou bem a concorrência com a Onda e, posteriormente, com suas sucessoras Uruguaia e CAUVI, Câmbios Uruguayos de Viajes. E não só sustentou, como ainda obteve uma segunda concessão, em 1977, passando a operar outra linha internacional, desta vez para Assunção, Paraguai. Operou-a durante dois anos. Havia negociado 50% de seu controle acionário com a Expresso Santos Dumont, que mais tarde foi comprada pela Unesul.
319
Consumada esta última transferência, a Unesul logo percebeu que, pelas características mercadológicas ao longo do itinerário da linha Porto Alegre–Assunção, tinha condições de proporcionar à TTL o necessário apoio de infraestrutura no trecho Passo Fundo–Erechim e no trecho Me-dianeira–Cascavel. Desse modo, a TTL continuou tocando a linha. Mas depois, tendo em vista a característica do equipamento e a conveniência da administração ao longo do itinerário de 1.383 quilômetros, na sua maior parte de estradas de terra, a TTL achou melhor que a Unesul se encarre-gasse da operação. Em 1979, já entrando em 1980, foi feita a transferência.
Manfred Stobäus continuou administrando a TTL mesmo depois que a Unesul assumiu o controle total da empresa. Os controladores nun-ca se cansaram de admirar sua criatividade e obsessão pela qualidade. A certa altura, por exemplo, decidiu que os motoristas da TTL deveriam saber espanhol para se comunicar melhor com os passageiros uruguaios. E assim, o Centro Cultural Brasil-Espanha, em Porto Alegre, ganhou uma turma de novos e aplicados alunos. Belmiro Zaffari comentou o assunto com Rúbio Gômara:
Veja a preocupação do Mani com a qualidade do serviço. Eu faço parte quase da terceira geração do transporte coletivo e me entristece muito esta época, porque, na realidade, antigamente, os que tinham o transporte como atividade eram reconhecidos pelo seu esforço. Eram, não digo endeu-sados, mas muito considerados pelo trabalho e pelas dificuldades que pas-saram. Eram desbravadores. Hoje, lamentavelmente, como a sociedade está numa explosão de interesses, de corporativismo muito grande, às vezes somos considerados monopolistas, detentores do poder econômico. Na verdade, a história dos nossos anos passados reflete com exatidão as dificuldades por que passamos para chegar até aqui.
De 1971 a 1973, a Unesul construiu sua grande garagem central, em Porto Alegre, enquanto estendia as operações para todo o litoral e para a região noroeste do Rio Grande do Sul. Conforme lembrou Avelino Andreis, durante muitos anos mais de metade das linhas da companhia no interior do Estado ainda foram feitas por estradas de terra: “Dia de chuva era uma loucura, precisava boi e corrente para desatolar!”
320
Além da participação na TTL, a empresa também mantinha uma companhia de táxi aéreo (chegou a dispor de uma frota de 12 aparelhos Navajo). Havia ainda a Unesul Turismo, que se tornou a maior empresa de turismo do Rio Grande do Sul. Data dessa época a construção das ga-ragens de Erechim, Passo Fundo, Joaçaba, Cascavel, Torres, Santa Rosa, Carazinho, Chapecó e Caxias do Sul. Foram implantadas várias linhas intermunicipais no Paraná e em Santa Catarina.
Belmiro Zaffari tornou-se um observador privilegiado da evolução da Unesul no tempo. Quando afirma ser um empresário que faz parte “quase da terceira geração do transporte coletivo” é porque, na verdade, teve uma carreira bem extensa antes de fixar-se no setor. Nascido em de-zembro de 1938, em Erechim, formou-se em Engenharia Mecânica em 1964, exatamente o ano em que a Unesul brotou da fusão. Entrou para o serviço público e trabalhou por quatro anos na Secretaria de Assuntos Econômicos do governo federal. Mais tarde, trabalhou por dois anos como engenheiro mecânico na Sudepe, Superintendência do Desenvolvimento da Pesca. Voltou a Erechim e ficou lá até 1971, dedicando-se à venda de tratores, além de caminhões Mercedes-Benz.
Em 1971, com a morte de Danilo Antônio Zaffari, seu primo-irmão (que era um dos diretores da Unesul Transportes por indicação da Unetral S. A.), Belmiro foi escolhido para substituí-lo. E foi assim que ingressou para valer no setor de transporte rodoviário de passageiros.
A sede da Unesul está instalada em Porto Alegre. Para obter maior agilidade nas decisões locais, foram estrutuadas duas agências regionais, uma em Erechim e outra em Passo Fundo. Existem ainda 18 bases ope-racionais estrategicamente situadas em cidades-chaves ao longo das rotas atendidas pela companhia.
Depois de criada a Unesul, ônibus com carroceria Nicola, montados sobre chassi Mercedes-Benz, faziam a ligação entre Erechim e Porto Alegre.
Ônibus da Unetral montado sobre chassi Scania. A carroceria era Eliziário.
Foto
s: Ac
ervo
Une
sul
19 de setembro de 1993: diretores da Unesul recebem Rúbio de Barros Gômara em Porto Alegre. Da esquerda para a direita, João Lourenço Zaffari, Belmiro Zaffari, Rúbio e Avelino Ângelo Andreis.
O mesmo ônibus Marcopolo FNM visto de lado.
Aqui já eram utilizadas as carrocerias Marcopolo. A mecânica era FNM (Alfa Romeo).
Foto
s: Ac
ervo
Une
sul
Acer
vo R
úbio
Gôm
ara
323
NO ANO DE 1965, UMA transportadora de carga de Caxias do Sul, a Galioto, decidiu acrescentar um novo segmento às suas atividades. Em sociedade com a Transportadora Aurora, também de Caxias do Sul e igual-mente da área de carga, a Transportadora Galioto comprou a Expresso Boscatur, de Curitiba, que era detentora das linhas de ônibus Curitiba–São Paulo, Curitiba–Porto Alegre e Curitiba–Santa Maria.
Foi um começo difícil, e não só pela inexperiência. Os maiores problemas eram com a frota de 32 ônibus Alfa-Romeo. A marca inspirava confiança, mas os veículos estavam muito desgastados. Por isso, apresen-tavam alto índice de quebras e interrupções de viagens. O pior é que não havia como resolver isso de uma hora para outra. Os novos sócios mal haviam assumido o negócio e já tiveram que de amargar, em dezembro daquele ano, 175 quebras na estrada em 219 viagens dos ônibus da empresa. A imagem da Boscatur entre os passageiros era péssima, o que se refletia na sua situação financeira, naquele momento muito pouco satisfatória.
Esse foi o quadro encontrado pelo jovem Oscar Conte, de apenas 23 anos, que o presidente Dorvalino Galioto, com a concordância dos sócios da Transportadora Aurora, havia despachado para Curitiba com a missão de tomar conta do negócio. Conte desembarcou no dia 19 de novembro com as credenciais de sua juventude, garra, disposição para o trabalho, alguma experiência em transporte de carga e nenhuma em transporte de passageiros. Até então, na Galioto, respondera pela área de contabilidade. Recentemente, como prêmio por sua dedicação, fora contemplado com uma pequena participação acionária no negócio.
pluma conForto e turiSmo
oScar conte
1965
324
Como eu era muito dinâmico, o Galioto achou que eu poderia vir para Curitiba, dada a garra que eu vinha demonstrando. Eu carregava comigo uma grande vontade de abandonar a pobreza e a miséria. A ideia de superar a pobreza e as dificuldades sempre me perseguia. Nos tempos em que eu ainda morava em Caxias do Sul, antes de servir o Exército, eu tinha realmente passado muita fome e frio. Mas carregava comigo a ideia de vencer, eu não tinha outra alternativa.
A situação da empresa recém-adquirida podia ser desanimadora, mas não para aquele jovem.
Claro que a empresa era pequena, mas já existiam problemas. Vi que as dificuldades eram imensas. Para se ter uma ideia, naquele tempo, houve uma ocasião em que, para poder completar uma viagem entre Curitiba e Porto Alegre, nunca me esqueço, foram trocados seis ônibus. Os ônibus quebravam, quebravam, quebravam... — relatou Conte em depoimento a Rúbio Gômara, em abril de 1993.
Conforme o relato de Conte, as quebras não se deviam à má con-dição das estradas. Na verdade, as linhas da Boscatur corriam quase todas por estradas já asfaltadas. Só a linha para Santa Maria era de terra. O problema, realmente, era a frota muito velha. Por isso, com ou sem recur-sos suficientes, era preciso substituir aqueles carros o mais rapidamente possível. Novos ônibus foram sendo adquiridos e os velhos Alfa-Romeo começaram a ser aposentados. A situação financeira da empresa ainda era muito difícil, porém não havia maneira de sair dela a não ser fazendo novas dívidas, como explicou Oscar Conte a Rúbio Gômara:
Só com a coragem, fomos comprando Scania Vabis. Pagava-se em cartório, e com aquelas dificuldades todas. Quantas vezes saía na boca do povo o boato de que a Boscatur ia falir, ou que já tinha falido. Na verdade, não faliu nunca. Eu sempre tive uma atitude: a Boscatur devia muito, mas em vez de me afastar do credor, eu sempre ia lá avisá-lo de que não podia pagar. Ao invés de me esconder, eu me expunha. E assim pagamos tudo.
325
À medida que os carros novos iam entrando em operação, voltavam os passageiros. Mas reequilibrar a situação financeira da empresa demorou um pouco mais.
Os novos donos também não gostavam do nome Boscatur, que parecia estranho para uma empresa de ônibus. Em fevereiro de 1966, acatando sugestão do gerente Agostinho Kuster, Oscar Conte instituiu um concurso de sugestões entre os funcionários. O autor da melhor sugestão receberia um prêmio. O próprio Agostinho Kuster apresentou a sua: que a empresa passasse a chamar-se Pluma, transmitindo a noção de conforto, leveza. A ideia agradou à Administração, que acrescentou as palavras Conforto e Turismo. Nasceu assim a Pluma Conforto e Turismo, que se tornaria uma das grandes transportadoras de passageiros do País e levaria seu nome também aos vizinhos Argentina, Paraguai e Uruguai.
Os anos seguintes seriam de aprendizado e acumulação de experiência para os novos controladores, mas aprender e saber acumular experiência eram traços vigorosos da personalidade de Oscar Conte, que impôs-se naturalmente como o homem responsável, em grande parte, pelo rápido desenvolvimento da companhia. Com o passar dos anos, ela teve um cres-cimento espantoso e, segundo Oscar Conte, não foi preciso investir a não ser os recursos gerados pela própria atividade.
Foi tudo gerado pelo próprio trabalho, pela nossa garra. As lutas fo-ram aquelas já conhecidas de todo o sistema de transporte de passageiros, e nelas eu me joguei com tudo. Além de enfrentar dificuldades internas com divergências entre sócios, ainda tinha de comandar e enfrentar as brigas com concorrentes, porque buscava para nossa empresa a defesa do mercado.
CONTE SABIA APROVEITAR em benefício dos negócios da Pluma cada nova oportunidade no mercado, enquanto cuidava de implantar e dinamizar os mais modernos métodos de gestão. Sabia como poucos valorizar cada pequeno novo avanço nos negócios e nos serviços prestados, inspirado talvez na decisão que o levou, ainda jovem, a separar-se de sua família, que trabalhava a terra e produzia uva e vinho em Bento Gonçalves, Rio
326
Grande do Sul. Separou-se para tentar ganhar a vida na cidade. Ele resumiu para Rúbio Gômara essa parte de sua história:
Nasci no interior, na roça, de família muito pobre. O lugar se chama-va Monte Belo, mas desde cedo senti que ali não era o meu lugar. Jamais gostei de trabalhar e viver no interior. Sempre que meu pai me mandava para as lides da roça, eu inventava uma história qualquer. Ou tinha dor de cabeça, ou me doía um pé. Meu pai não gostava daquelas desculpas que eu inventava por não gostar daquilo. Sempre parti da premissa de que a gente só consegue alguma coisa na vida se o trabalho for feito com amor. E eu não amava aquilo lá. Por isso, eu tinha 9 anos de idade quando abandonei as lides da roça e fui estudar num colégio de padres. Não escolhi o colégio por vocação, escolhi porque era a única oportunidade que tinha de sair e estudar sem pagar nada. Mas o colégio adotava um sistema: os alunos trabalhavam meio período na lavoura e na horta, na criação de porcos e em outros trabalhos dessa natureza. No outro turno, estudavam. Meu pai não precisava pagar pela escola e lá fiquei até os 15 anos de idade. Quando ficou claro que eu não tinha vocação religiosa e estava ali só pelos estudos, fui convidado a deixar o colégio. Voltei para a roça.
Mas foi por pouco tempo. Duas semanas depois, decidiu sair de casa para não ter de trabalhar na lavoura. Numa madrugada, cerca de 5 horas da manhã, sem avisar ninguém, pegou uma sacola com alguma roupa, pulou uma janela e foi embora. Andou uns 12 quilômetros, depois pegou carona com um motorista de caminhão, que o levou até a rodoviá ria de Bento Gonçalves.
Eu queria ir para Caxias do Sul, que era um centro maior. Queria continuar os estudos, trabalhar, fazer qualquer coisa. Eu tinha uma irmã que morava em Caxias do Sul. Fiquei na estação rodoviária sem um tostão no bolso. Já eram umas 9 da manhã e eu estava com fome. Também precisava arranjar uma passagem para Caxias do Sul. Cheguei-me a um colono e, com muito jeito, pedi dinheiro para comer uns pastéis. Ele desconfiou que eu ia ficar com o dinheiro, me levou a uma lanchonete e mandou que me dessem dois pastéis e uma gasosa. Fiquei satisfeito por comer, mas ainda tinha um
327
problema, que era conseguir o dinheiro da passagem. Fiquei por ali, olhava um colono, olhava outro, sem jeito de falar e acabei achando que quem podia me ajudar era mesmo aquele primeiro, que já havia pago os pastéis. Voltei a ele e pedi dinheiro para a passagem, ele continuou desconfiando de mim. Chamou a mulher e disse: “Vai ali com ele e compra a passagem. Mas não dê dinheiro.” Ela comprou e foi assim que consegui chegar a Caxias do Sul.
Em Caxias do Sul, Oscar Conte foi em busca da irmã, mas acabou ficando com ela apenas três dias, ela tinha poucos recursos. Começou a tirar o sustento das pequenas oportunidades que apareciam. Entre outras ocupações, comprava e revendia roupas e toalhas de mesa, de casa em casa. Ao mesmo tempo, passou a frequentar um colégio público. Sobreviveu assim até chegar a hora de prestar o Serviço Militar.
Isso foi em fins de 1959 e inícios de 1960. No dia em que deixei o Exército, por intermédio de um colega do colégio vim a saber de uma vaga de auxiliar de contador na Transportadora Galioto. Antes mesmo de ir pro-curar uma pensão para morar, fui direto para o escritório da Transportadora Galioto. Conversei com o Dorvalino Galioto e ele me admitiu na mesma hora. Eu estava lá havia quatro meses quando o contador da firma saiu. Eu não tinha quase nenhuma experiência de contabilidade, mas pedi a oportunidade. O Dorvalino concordou. Estudei muito, particularmente, fui um autodidata da contabilidade, mas mantive tudo em dia no escritório. Fui responsável pela contabilidade da empresa de 1960 a 1965. Nesse ano surgiu a oportunidade da compra do Expresso Boscatur.
Em 1972, a Pluma decidiu abrir caminho para atuar em transporte internacional. Na época, duas empresas — uma argentina e uma brasilei-ra — faziam a ligação entre Porto Alegre e Buenos Aires. A brasileira era a Expresso Porto Alegre–Brasília, do empresário Adelchi Rota. Apesar do nome, nunca tinha feito uma só viagem para Brasília. O nome surgiu por-que Rota sonhara um dia implantar uma linha ligando a capital gaúcha à capital do país. Quase obteve a concessão na época, chegou mesmo a pintar o nome nos carros e a registrar a razão social da empresa. Na última hora não conseguiu e então resolveu requerer a linha Porto Alegre–Buenos Aires.
328
Era uma aventura que durava de 36 a 40 horas de cada vez. A estrada era de terra pedregulhada em sua maior parte e os para-brisas estouravam com frequência. Como proteção, era instalada uma grossa tela de arame na frente do veículo, tal como era feito nos jipões militares. Além disso, em alguns trechos havia a necessidade de transposição por balsa. Com todas essas dificuldades e sem muito fôlego financeiro, a Expresso Porto Alegre–Brasília não demorou a aproximar-se do momento da falência. Apesar disso, quando foi sondado pela Pluma sobre a possibilidade de vender a linha, Adelchi Rota recusou-se até mesmo a discutir a hipótese.
A companhia argentina que fazia a mesma linha em reciprocidade chamava-se Expresso General Urquiza e também estava praticamente falida, provavelmente devido às dificuldades da operação. Conte, sem condição de negociar com Adelchi Rota, resolveu subverter as regras do jogo. Foi à Argentina, comprou sem muita dificuldade a Expresso General Urquiza e imediatamente pôs carros novos para rodar na linha, em agressiva concor-rência com a Expresso Porto Alegre–Brasília. O empresário Adelchi Rota desesperou-se. Desta vez foi ele quem procurou Conte para negociar. O ex-contador da Galioto montou então toda uma estratégia para evitar qual-quer possibilidade de perder a Expresso Porto Alegre–Brasília para outro concorrente. Uma tarde, ali pelas 16 horas, juntamente com o advogado Darcy Norte Rebelo, fechou-se com Rota em um escritório e, sem jantar, sem lanche e sem descanso, submeteu-o a um bombardeio de argumentos para que fosse baixando a pedida inicial, que havia sido considerada muito alta. Rota capitulou depois da longa negociação, que se estendeu até as seis da manhã do dia seguinte, quando o contrato foi finalmente assinado e o vendedor se retirou exausto. Havia cedido a empresa para ser paga em 12 anos sem juros. Segundo Conte, quando tudo parecia sacramentado, às 9 horas o vendedor voltou, desesperado, ao escritório da Pluma, dizendo--se arrependido da transação. O prazo para pagamento foi mais uma vez negociado e baixou para sete anos.
Assim, a Expresso Porto Alegre–Brasília foi incorporada à Pluma, que imediatamente passou a movimentar-se junto ao poder concedente para estender a linha até a cidade do Rio de Janeiro. Este era o seu verda-deiro objetivo, pois era no Rio que estavam as praias preferidas dos turistas argentinos na época.
329
O problema é que uma segunda empresa brasileira — a Penha, de Curitiba — também estava interessada na rota. Outro obstáculo era um desequilíbrio nas condições de reciprocidade: para autorizar a extensão, o governo brasileiro teria de permitir o ingresso de uma companhia argen-tina em 2.000 quilômetros do território brasileiro (da fronteira até o Rio de Janeiro), enquanto a operadora brasileira só entraria 700 quilômetros no território argentino (da fronteira a Buenos Aires). Foram necessárias longas negociações entre os dois países e persistentes gestões da Pluma na Divisão de Transportes de Passageiros e Cargas, do DNER, até que, em 1973, o prolongamento fosse finalmente autorizado. Nem por isso Os-car Conte deixou de registrar, em seu depoimento a Rúbio Gômara, que durante todo esse tempo a ideia do prolongamento da linha esbarrou na oposição do diretor Salvador Schmidt, do setor de passageiros do DNER. Ele teria afirmado que para a linha ser autorizada teriam de passar por cima do cadáver dele.
Mas depois que veio a ordem de concessão da linha, ele passou a trabalhar rapidamente para montar o esquema junto com a Pluma. Foi convidado especial na inauguração da linha e tornou-se um seu entusiasta — acrescentou Conte para fazer justiça a Schmidt.
Além do Rio de Janeiro, a linha atendia também São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.
Concluída essa operação, a companhia voltou sua atenção para uma segunda possibilidade de linha internacional: a ligação entre o Rio de Janeiro e Santiago do Chile. Era um assunto bem mais complexo, pois a montagem da rota dependia da autorização de dois países, Argentina e Chile, além do Brasil.
E, de fato, foram necessários alguns anos para que os ônibus da Plu-ma recebessem autorização para cobrir aquela rota de 4.118 quilômetros, que exigia 68 horas de viagem, com paradas estritamente nos horários do almoço, jantar e café da manhã. Oscar Conte rememorou:
Só eu sei as dificuldades que a Argentina criava. Dificuldades para atravessar o território argentino com destino ao Chile, porque a Argentina
330
exigia a justa compensação pelo uso de sua infraestrutura, na condição de país transitado. Houve muita dificuldade, a gente conseguiu ir vencendo uma a uma até que se implantou a linha Rio–Santiago do Chile.
E se aquela era uma das linhas de ônibus mais longas do mundo, o lance seguinte da Pluma foi conquistar uma das mais curtas rotas in-ternacionais. Cobre a distância de apenas nove quilômetros entre Foz do Iguaçu e Ciudad Del Este, Paraguai, então chamada Presidente Stroessner.
Dessa forma, a empresa atingiu o invejável índice de 40% de in-ternacionalização de suas linhas. Ao mesmo tempo, por um processo de seccionamento da parte brasileira das mesmas linhas internacionais, fir-mou sua presença nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As ligações Rio de Janeiro–Foz do Iguaçu e São Paulo–Foz do Iguaçu tornaram-se as de maior fluxo de passageiros da Pluma Conforto e Turismo.
A Pluma operou com esse desenho até 2002, quando, já com frota de 240 ônibus, seus acionistas se afastaram do comando da empresa, que foi passada ao grupo comandado pelo empresário Roger Mansur, de Botucatu, São Paulo. Os novos controladores buscaram a ampliação dos serviços e maior eficiência interna e operacional; adotaram nova logomarca e implan-taram um sistema de administração por objetivos e gestão de qualidade.
No fim da década de 1960, a Pluma equipou sua frota com carrocerias Nielson montadas sobre chassis Scania B 110, mais adequados à operação em longas distâncias.
A Pluma consolidou-se definitivamente como operadora de transporte rodoviário internacional de passageiros quando conseguiu estender para o Rio de Janeiro a linha Porto Alegre–Buenos Aires.
A transposição da Cordilheira dos Andes, uma das etapas mais desafiadoras da linha Rio–Santiago.
Acer
vo S
cani
aFo
tos:
Acer
vo R
odon
al
Grandes extensões de áreas desérticas também fazem parte das linhas da empresa.
A região dos Caracoles, na Cordilheira dos Andes: além de bonita, é um desafio operacional que poucas empresas se dispõem a enfrentar.
Manutenção e qualidade do material rodante sempre foram fundamentais para a Pluma, inclusive pelas especificidades das suas rotas.
Dorvalino Galioto, o fundador.
Foto
s: Ac
ervo
Rod
onal
333
REALI JR., Elpídio. Às margens do Sena. Editora Publicações, 2007
PELEGRINI, Domingos. Viação Garcia: 60 anos de história. Londrina, 1994
CORRÊA, Ricardo. Arthur Bruno Schwambach: perfis pernambucanos. Mongraf Gráfica e Editora, 1999
1001, Auto Viação. 50 anos de 1001 e uma breve história dos transportes. Memória Viva Cultura, 1998
CORRÊA DA COSTA, Sérgio. Crônica de uma guerra secreta. Editora Record, 2004
RC Propaganda. Gontijo: 1943/1993. Edição Gontijo — 1993
RODRIGUES, Ernesto. Jogo duro: a história de João Havelange. Editora Record, 2007.
COSTA COUTO, Ronaldo. Matarazzo: a travessia. Editora Planeta do Brasil, 2004
COSTA COUTO, Ronaldo. Matarazzo: colosso brasileiro. Editora Planeta do Brasil, 2004
SILVA, Hélio. 1954, um tiro no coração. L & PM Pocket. Porto Alegre, 2007
MOTTA PIRES, Lucas Rodrigues. O Brasil de Juscelino Kubitschek. Landy Editora, 2006
SANDER, Roberto. O Brasil na mira de Hitler. Editora Objetiva, 2007
bibliograFia/FonteS de conSulta
334
BARROS GÔMARA, Antônio Rúbio. O transporte interestadual e interna-cional de passageiros: um acrescentamento histórico. Edição ABRATI, 1999
KOIFMANN, Fábio. Presidentes do Brasil: de Deodoro a FHC. Cultura Editores/Editora Rio, 2002
ABRATI, Revista. Números 1 a 58. Edições ABRATI, 1990 a 2008
RODONAL, Revista, Números 1 a 55. Edições Rodonal, 1983 a 1990
PLANALTO, Viação. Transportando a História: Vida e Obra de José Moacyr Teixeira. Edição Viação Planalto, 2011
335
entreviStadoS
Abílio Pinto Gontijo Empresa Gontijo de Transportes Ltda. 30/11/1993
Agostinho Kuster Informações sobre a Pluma e a Penha 03/05/1994
Arnor Damiani, Zelindro Damiani Empresa Santo Anjo da Guarda 22/06/1994
Belmiro Zaffari, Avelino Ângelo Andreis, João Lourenço Zaffari Unesul de Transportes Ltda. 17/09/1993
Camilo Cola, José Alves de Souza (Juca) Viação Itapemirim 14/10/1994
Chyro Gazzolla, José Alves de Souza (Juca)Viação Itapemirim S/A 09/03/1993
Dimas José da Silva Viação Presidente e outras empresas Entrevista a Nélio Lima em outubro de 2003
Glória Barata, Rosane Barata, Eurico Galhardi Grupo Jacob BarataDepoimentos a Nélio Lima em outubro de 2003
336
Francisco Sebastião Noel, Joaquim Sebastião Noel, Sérgio Noel Viação Salutaris e Turismo S/A 14/01/1993
Geraldo Ozório Rodrigues Viação Cidade do Aço 19/02/1993
Hélio Soares da Silva Viação Progresso e Turismo Ltda. 28/01/1993
Hélsio Pinheiro Cordeiro Viação Itapemirim S/A 28/08/1993
Isaac Newton Pereira Sampaio, Orlando Martini Viação Sampaio Ltda. 14/09/1994
Jelson da Costa Antunes Auto Viação 1001 Ltda. 09/02/1993
José Augusto Pinheiro Real Expresso Depoimento a Nélio Lima e Ciro Marcos Rosa em outubro de 2003.
José Luiz TeixeiraEmpresa Pássaro Marron Ltda.17/12/1992
José Moacyr Teixeira, Jacob Antonello Planalto de Transportes Ltda. 16/09/1993
337
Júlio Zamberlan Viação Minuano 15/09/1993
Lourival Friedler, Raul Darius, Heinz Kumm Junior Auto Viação Catarinense 21/06/1994
Manfred Stobäus (Mani) TTL Transporte e Turismo Ltda. 15/09/1993
Odilon Santos Viação Araguarina Breve depoimento de próprio punho do empresário
Oscar Conte Pluma Conforto e Turismo S/A 01/04/1993 e 04/05/1994
Otaviano Da Ros Empresa Sulamericana de Transportes em Ônibus Ltda. 01/04/1993
Therezinha Coelho de Souza Caramori, Sandoval Caramori Reunidas Transportes Coletivos 25/06/1994
Wilson Piccoli, Paulo Roberto Piccoli, Eracildes Pio Almeida, Ivo Almeida Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha 31/03/1993
338
documentação/FonteS peSquiSadaS
Companhia São Geraldo de ViaçãoAcervos Rodonal e ABRATI
Empresa Auto Viação ProgressoAcervos Rodonal e ABRATI
Empresa Unida Mansur & FilhosDocumentos diversos com cópias cedidas pela empresa
Expresso Brasileiro Viação Ltda. Ofício ao Delegado da Comissão de Racionamento de Combustíveis em Santos, em 18/05/43; ofício ao presidente Juscelino Kubitschek, em 01/10/1956; telegrama ao presidente Juscelino Kubitschek, data ignorada; acervo ABRATI.
Expresso Princesa dos Campos Informações de Marcílio Luiz Mezzomo em 1994; jornal Folha do Oeste, de Guarapuava, edição de 14/10/1993; acervo ABRATI.
Real AlagoasAcervos Rodonal e ABRATI e publicação “Perfis pernambucanos 15”.
União Transporte Interestadual de Luxo — UTILAcervos Rodonal e ABRATI
Viação Águia BrancaAcervo ABRATI e publicação “50 anos de estrada”, da empresa.
Viação AndorinhaAcervos Rodonal e ABRATI
339
Viação Cometa Jornal Correio da Manhã, edições de 14, 15 e 16 de janeiro de 1931— Biblioteca Nacional — Rio de Janeiro; acervo ABRATI.
Viação Garcia Acervos Rodonal e ABRATI; publicação “Aqui tem história”, da empresa.
Viação Santa CruzAcervos Rodonal e ABRATI, publicação “Grupo Santa Cruz, 50 anos”, da empresa.
Empresa Sulamericana de Transportes em Ônibus Ltda.Revista Estrada no 8 — Scania do Brasil S/A