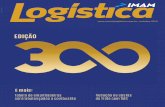Revista Terminal #1 - Out 2013
-
Upload
revista-terminal -
Category
Documents
-
view
217 -
download
1
description
Transcript of Revista Terminal #1 - Out 2013


REVISTA TERMINAL
Número 1 - Outubro de 2013
EDIÇÃO
Renan Santos
ARTE
Renan Santos
TRADUTORES
Bernardo CampellaCarlos Guilherme SilveiraEmílio CostaguáHenrique GarciaHugo de Santa Cruz Marcos Monteiro
ESCRITORES
Miguel LópezRicardo Almeida
A Revista Terminal é um projeto sem fins lucrativos que busca simplesmente reunir e divulgar bons trabalhos de tradução, ensaios, poemas e contos.
Entre em contato conosco e envie o seu:
http://[email protected]
© Revista Terminal 2013

#1 Outubro de 2013


5
OU
TUB
RO
20
13
ÍNDICE
FILOSOFIA
Da Mitocosmologia Tradicional, Jean Borella...............................................................................................................................................................................6
Adeus a Descartes, Eugen Rosenstock-Huessy..............................................................................................................................................................................11
Copleston sobre a história da filosofia............................................................................................................................................................................................22
Culpeper e os temperamentos..........................................................................................................................................................................................................29
O lugar da lógica no pensamento aristotélico, Éric Weil..........................................................................................................................................................34
LITERATURA
Kannitverstan, Hebel.................................................................................................................................................................................................................................47
O indecifrável Mann....................................................................................................................................................................................................................................49
A uma amante pós-tudo ..................................................................................................................................................................................................................52
HISTÓRIA
O planeta redondinho, Jeffrey B. Russell..........................................................................................................................................................................................53

6
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
Da Mitocosmologia Tradicional, Jean BorellaArtigo 1 do capítulo I do livro “La Crise Du Symbolisme Religieux” (1990)
A propósito de um rito xamânico realizado por um Índio Cuna, com a intenção de auxiliar uma mulher a dar à luz, C. Lévi-Strauss observa o seguinte: “Uma vez
que a sociedade e a mulher creem na mitologia do xamã, pouco importa o fato de que ela não corre-sponda à realidade objetiva”.1 Eis uma observação feita en passant e que parece justificada. Os ociden-tais imaginam, de bom grado, que o rito consiste numa espécie de “placebo sócio-cultural”, que fun-ciona como se fosse uma verdadeira autossugestão coletiva.2 Só loucos pensariam de outra forma. Nesse caso, o que a episteme3 moderna se recusa a aceitar é o que chamaremos de causalidade sim-bólica ou semântica, isto é, a eficácia do conteúdo inteligível do signo. Tal ou qual signo causa a saúde porque a significa, direta ou indiretamente, através de uma analogia ou de uma semelhança de natureza semântica entre ambos; este axioma é indisso-ciável de uma concepção tradicional da simbólica. Nos ritos sagrados, na astrologia, nas operações alquímicas, o que age não são tanto as forças ocultas, mas a potência própria das similitudes inteligíveis, as relações semânticas de expressão que unem os signos às coisas — como os sacramen-tos cristãos, que produzem o que significam não por força mágica, mas porque a forma simbólica partic-ipa realmente do ser de seu referente, que por sua vez comunica a ela sua virtude. Voltaremos a tratar, mais adiante, quando discutirmos Kepler, da noção de causalidade semântica. Vê-se, entretanto, desde já, que coloca-la em questão é colocar em questão todo o simbolismo sagrado bem como a relação ontológica que ele estabelece entre os signos e as coisas. Em uma palavra, é proceder a uma neutrali-zação onto-cosmológica do símbolo.
Não são apenas os filósofos ateus que participam da referida neutralização. Os pensadores cristãos fazem o mesmo: “Quem ouve o discurso originário do mito, escreve Antoine Vergote, não crê nele em sentido estrito. (…) A época mitológica acabou. (…) Não mais podemos nos colocar sob a luz originária do mito”.4 Todavia, a posição do pensador cristão é mais delicada que a do filósofo ateu. A rejeição da causalidade semântica, para este, não causa, pro-priamente, nenhum problema. O crente, porém, depara-se com o fato de que sua própria religião se apresenta sob uma forma simbólica que parece implicar, justamente, a fé na eficácia dos signos. Poderia ele manter sua fé religiosa, isto é, con-tinuar a crer no que diz a Revelação, sem aderir, por essa razão, à maneira como é dita? Não seria necessário, justamente, lançar-se mão de uma hermenêutica? Não se está arriscando a “jogar fora a criança juntamente com a água do banho”, como já temia Kepler com relação ao procedimento dos adversários da astrologia?5 Como separar, dos
1. Anthropologie structurale, Plon, 1958, p. 218, capítulo X: “L’efficacité symbolique”.
2. Ademais, o modo de ação de tal processo não é menos misterioso que o do xamã.
3. Em um sentido semelhante ao de Foucault (Les mots e les choses, p. 13), designamos por episteme a concepção que uma época ou cultura
tem do saber verdadeiro.
4. Interprétation du langage religieux, éd. Du Seuil, 1976, p. 85, n.1.
___________________________________________________

7
OU
TUB
RO
20
13
dados revelados, o que pertence à hermenêutica – porque de natureza puramente figurativa – do que pertence à expressão própria e direta? Acaso a fronteira deve ficar à mercê do gosto dos herme-neutas? Como se vê, o acavalamento das questões é quase inextricável.
Começaremos pela pergunta mais simples: por que C. Lévi-Strauss e A. Vergote não creem mais(ou não podem crer) no que o mito afirma? A resposta é evidente: é em virtude de suas próprias ontologias de referência que eles recusam aquela que o mito lhes parece implicar. Mas esta mesma resposta coloca duas objeções: por um lado, seria exato afir-mar que o discurso religioso implica uma ontologia de referência inadmissível? Por outro lado, seria verdade que a ontologia do mito é cientificamente inaceitável?
Se a ciência moderna permite, sob certos pontos de vista, restaurar um sentido ao cosmos simbólico, a física galilaica, por sua vez, opõe-se absolutamente a isso. A essa última questão pretendemos responder numa obra futura. Digamos somente que, se a ciência moderna permite, sob certos pontos de vista, restaurar um sentido ao cosmos simbólico, a física galilaica, por sua vez, opõe-se absolutamente a isso. Ora, embora, atualmente, ela não possa se gabar de fornecer uma representação adequada dos
fenômenos materiais, essa física continua a pre-valecer, na maioria dos espíritos, como o modelo geral da realidade6; modelo esse que contradiz tão diretamente o cosmos da revelação judaico--cristã, que ambos não podem coexistir na mesma inteligência, senão ao custo de uma esquizofrenia cultural.
Resta a primeira questão, concernente à solidarie-dade entre o discurso religioso e sua ontologia de referência. Haveria, propriamente, vantagem em dissocia-los? E essa dissociação não daria à luz, precisamente, a verdadeira consciência do “sím-bolo”? Apreender a natureza “simbólica” de um enunciado religioso não é justamente compreender que ele diz algo diferente do que parece afirmar? Que, segundo a expressão de Ricoeur, ele visa a um sentido segundo através de um sentido primeiro? Desde logo, não seria necessário admitir que a consciência “simbólica” deveria se erguer sobre a desaparição da inconsciência mítica? Não se deve-ria reservar o termo “mito” para qualificar um pensamento incapaz de perceber a natureza “sim-bólica” dos enunciados escriturais, isto é, no fundo, incapaz de dissociar as palavras das coisas que elas designam? Essa é, seguramente, a convicção de um grande número de exegetas contemporâneos, e em particular de Bultmann: “As concepções mitológi-cas podem ser usadas como símbolos ou imagens, que talvez sejam necessários para a linguagem religiosa e, consequentemente, também para a fé cristã. (…) os enunciados que descrevem a ação de Deus sob a forma de uma atividade cultual onde Deus aparece, por exemplo, oferecendo seu Filho como vítima sacrificial, não são legítimos a menos que sejam entendidos em um sentido puramente simbólico”7. Dessa maneira, restitui-se ao mito
5. “Preocupação de alguns teólogos, médicos e filósofos, e especialmente de Philippe Feselius, de, ao condenar as superstições dos obser-
vadores de estrelas, não jogar fora o bebê com a água do banho…”(Réponse de Röslin, citado por Gérard Simon, Kepler, astronome astrologue,
Gallimard, p.92).
6. “Quantos desconfiam, hoje, de que as noções de trajetória de um móvel, de rapidez de um corpo no espaço, de distância percorrida por um
foguete são noções pré-galilaicas, às quais é impossível dar uma significação precisa a menos que se constitua em dogma o referencial à
Terra imóvel”; J.M. Souriau, professor de matemática da Universidade de Aix-Marseille I, “L’évolution des modele mathématiques em
mécanique et em physique”, em Revue de l’Enseignement philosophique, 22ª année, nº 3, février-mars 1972, p. 8. Não nos deixemos confundir
por menções a noções pré-galilaicas com relação à concepção(newtoniana) de espaço e tempo absolutos. Nesse artigo, o autor sustenta a tese
de que, na verdade, o espaço-tempo galilaico é relativo, fato que, segundo ele, teria escapado a Newton. Existe, com efeito, um princípio de
relatividade em Galileu. Mas é duvidoso que o próprio Galileu tenha tirado dele todas as consequências, pois que ele não chega a conceber
um espaço absolutamente infinito, e ainda restam nele alguns traços de aristotelismo. (Galilée, Dialogo, I, Opere, vol. VII, p.43; cf. Koyré,
Etudes galiléennes, p. 209).
7. Jésus. Mythologie et demythologisation, trad. por Florence Freyss, Samuel Durant-Gasselin et Christine Payot, prefácio de Paul Ricoeur,
Seuil, 1968, p. 230 et 232.
___________________________________________________

8
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
sua verdadeira significação: “contra seu propósito verdadeiro,(o pensamento mitológico) representa--se o Transcendente como uma realidade distante no espaço, e sua potência como uma intensificação qualitativa do poder humano”8. Por conseguinte, o verdadeiro cristão deveria ser grato à ciência moderna, capaz de nos conduzir a tal desmitifi-cação. É exatamente isso o que afirma um teólogo católico, aliás tomista: “a expansão da cosmologia só é possível se o céu for ‘desmitificado’, cessando de ser a morada dos deuses. Ora, nada alcança tão plenamente esse efeito de desmitificação quanto a afirmação monoteísta e o reconhecimento de um Deus que não habita nenhuma parte do espaço cósmico. Nesse sentido, a obra de Galileu é profun-damente cristã…”.9
A situação do simbolismo sagrado parece, portanto, estar em ótima forma, sobretudo no Ocidente. Libertada, graças à Ciência, da coisificação e do realismo ingênuo de uma mitologia ignorante de sua verdadeira significação, o simbolismo deve-ria poder exprimir adequadamente a verdade da revelação religiosa. Contudo, e mesmo sem levar em conta as refutações evidentes que nos mostram a realidade dos fatos, a via da desmitificação está longe de resolver a questão. Pois agora a ques-tão seria certificar-nos das verdadeiras intenções dos textos sacros e das mitologias tradicionais. A problemática ainda persiste. O que nos garante que a intenção verdadeira dos mitos não é justa-mente alojar o divino dentro do espaço distante? Seríamos, talvez, levados a admiti-lo caso o dis-curso mítico se desdobrasse inteiramente sobre o estado de inconsciência simbólica. Ele poderia, então, converter-se em “símbolo”. Mas parece que as coisas não funcionam assim sempre. Seria necessário, de início, e restringindo-nos à cultura ocidental, levar em consideração as contestações mais antigas ao discurso mitológico(as do racio-nalismo grego e as que impõe a fé cristã), como mostra Jean Pépin em seu estudo sobre Mito e Alegoria. O nascimento da consciência simbólica seria, portanto, bem anterior ao aparecimento da
ciência galilaica. A noção mesma de alegoria nos dá testemunho disso. Mas isso não é tudo. É preciso nos perguntarmos se os próprios textos sagrados não fazem uma distinção entre o que é mítico e o que é histórico, como no caso do Novo Testamento (cf. noção de parábola). Também dá testemunho disso a famosa distinção medieval entre alegoria nas palavras e alegoria nas palavras e fatos, men-cionada por quase todos comentadores10.
Ora, essa distinção complica singularmente o pro-blema do ponto de vista filosófico. Pois se torna necessário nos perguntarmos: por onde passa a linha divisória entre allegoria in verbis e allegoria in factis? Que critério usaremos para traçá-la? Fica evidente que tal critério não é o mesmo para um Agostinho e para um Bultmann, ambos cristãos. Onde está, pois, a diferença? Justamente em suas respectivas “ontologias de referência”. Enunciados factuais para Agostinho são puramente “simbóli-cos” para Bultmann, porque contrários, desde o seu ponto de vista, àquilo que é fisicamente possível.
Somos então obrigados a afirmar que depende-mos da física galilaica na questão do simbolismo? De certa maneira, sim; mas, no fundo, que pétrea certeza! Há bastante tempo o mundo já o percebeu. Resta, somente, dir-se-ia, tirar dela as conse-quências Escriturais, isto é, passar para o regime “simbólico” aquilo que, para Agostinho, pertence ao regime da história. É bem verdade que subsiste certo número de cristãos que acreditam na historicidade da revelação judaico-cristã, sem contar o grande número daqueles que preferem nem sequer colocar a questão. Coisa que não surpreende; é preciso tempo para beber um vinho tão amargo, mesmo já estando bastante envelhecido. Em todo o caso, isso em nada altera a questão do “simbolismo”, que, pelo contrá-rio, pode até mesmo adquirir plena consciência de si. Se bem que a objeção permanece: a física gali-laica marca, talvez, o desaparecimento do referente ontológico do “símbolo”; mas, longe de constituir o primeiro estágio da crítica (isto é, da desconstrução) do “símbolo”, ele antes a torna possível.
8. Foi et compréhension, t. II: Eschatologie et démythologisation, trad. por André Malet, Seuil, 1969, p. 390.
9. Jean-Michel Maldamé, o.p., “Cosmologie et théologie. Réflexion théologique sur la Science cosmologique moderne”, na Revue thomiste,
janvier-mars 1978, LXXXVIº Année, t. LXXVIII, nº 1, p. 83.
10. Expusemos essa distinção no livro Le mystère du signe, cap. 1, art. 4, sec. 2: Jean Scot. Mas já a encontramos, evidentemente, nos
Padres,(Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, Tertuliano etc.); cf. Cal. de Lubac, Exégese Médievale, t. II, pp. 493-498, et t. IV, pp. 131-149.
___________________________________________________

9
OU
TUB
RO
20
13
O sentido histórico e o simbólico não se justapõem segundo uma bipartição horizontal, mas eles se superpõem segundo uma hierarquia vertical.
Há um ponto que nossa análise deixou de lado, por-que tendemos a afastar sua possibilidade a priori, como que inconscientemente, mas que é, todavia, a questão essencial. A “compatibilidade” herme-nêutica de um texto sacro não se faz apenas com duas colunas, colocando-se na coluna da direita as passagens “factuais” e, na da esquerda, as pas-sagens alegóricas. É preciso acrescentar-se uma terceira coluna, que tratará das passagens histó-ricas e simbólicas ao mesmo tempo, isto é, que tratará de fatos sacros. E não é precisamente neste caso que recai a gesta divina narrada nos livros do Antigo e do Novo Testamento, do sacrifício de Abraão à ressurreição e à ascensão do Cristo? É essa, segu-ramente, a convicção que anima a hermenêutica judaica, cristã e islâmica. O sentido histórico e o simbólico não se justapõem segundo uma bipar-tição horizontal, mas eles se superpõem segundo uma hierarquia vertical. É por esta razão, na ver-dade, que só a “coluna do meio” é essencial; o que significa que é a ela que se deve relacionar as duas outras, que não são senão seus aspectos fragmen-tários. Dito de outro modo, não há, nas Escrituras sacras, um sentido puramente factual ou histórico, não importando o que digam os exegetas, mesmo os mais ilustres e abertos ao simbolismo11. E, longe de volatizar a realidade dos fatos históricos, é somente essa relação simbólica que pode a fundar
e a fixar. Seguramente, pode-se considera-los somente do ponto de vista de sua manifestação espaço-temporal, mas, enquanto fatos sacros, eles permanecem, neles próprios e por ele próprios, abertos em possibilidade a uma significação simbó-lica. A hermenêutica que a desvela não acrescenta essa significação desde o exterior, mas atualiza a realidade do fato e da história12. Do mesmo modo, não há, nas Escrituras sacras, nenhum sentido puramente simbólico, isto é, um sentido que não implique possivelmente a realidade efetiva do sig-nificante que ele exprime. Em última análise, toda expressão simbólica se apoia sobre a relação onto-lógica que o significante corpóreo estabelece com a realidade exprimida.
Ora, são precisamente esses dois tipos de rela-ções que a física galilaica torna impossíveis. O símbolo, como já mostramos mais de uma vez13, constitui uma ordem de realidade sui generis e autônoma, lugar de comunicação entre o sensível e o inteligível, onde se dão suas transformações comuns – espécie de atanor universal. Há, por-tanto, correlação entre o símbolo e um cosmos que seja compatível com a referida alquimia. O sím-bolo pressupõe um universo corpóreo no qual seja possível introduzir o espiritual(como o fato his-tórico está aberto ao simbólico), do mesmo modo que pressupõe um inteligível no qual se possa introduzir o corpóreo(como o simbólico se rela-ciona com a natureza de seu significante). Ora, o mundo galilaico recusa ambos: o corpóreo se torna pura espacialidade, e o inteligível pura raciona-lidade matemática. Com Galileu, não é apenas o mundo aqui de baixo que se transforma e se esva-zia de toda e qualquer presença qualitativa, mas também o céu inteligível, restringido então ao pensamento humano. Nada é mais significativo, a esse respeito, do que o dualismo cartesiano de
11. Eis o que afirma o Cardeal Daniélou: “A cruz tem grande importância para o cristão não por seu valor simbólico, mas porque Cristo
morreu pendurado em um instrumento composto de dois pedaços de madeira. É este dado histórico que tem precedência. Como esse objeto
tinha vagamente a forma de uma cruz, a liturgia o carregou, ulteriormente, com o simbolismo natural da cruz, significando as quatro
dimensões ou o eixo do mundo. (…) Mas tais simbolismos são secundários se comparados aos fatos históricos”. (Planète Plus, nº especial
consagrado a René Guénon, 4ª trim. 1969, p. 130). Tal doutrina é, a nossos olhos, a negação pura e simples da encarnação do Verbo em Jesus.
É bem verdade que o ilustre erudito parece exprimir uma opinião diferente quando escreve: “A cruz é, pois, para o judaico-cristianismo,
algo diferente da madeira sobre a qual foi crucificado Jesus. Ela comporta uma realidade espiritual, misteriosa, viva, que acompanha o
Cristo ressuscitado”. (Théologie du judéo-christianisme, Desclée, p. 294). Ela é, segundo São Justino, “o grande Símbolo da força e da potência
de Cristo” (I Apologie. LV, 2; P.G. t. VI, col. 412).
12. É o simbolismo que confere ao evento histórico realidade e consistência. Nós o mostramos particularmente com relação ao simbolismo
das chagas de Cristo: cf. Le sens du surnaturel, Ed. De La Place Royale, 1986, pp. 73-115.
13. Le mystère du signe.
___________________________________________________

10
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
alma e corpo(embora o Descartes metafísico leve em conta a presença do céu divino na substância da alma humana), e do que o desenvolvimento “humanista” da filosofia de Locke e de Hume.
De fato, a revolução galilaica, mesmo se res-tringirmos a análise ao mundo corpóreo, não só tornou impossível a produção de certos fenômenos(narrados na Santa Escritura) no inte-rior da estrutura geral do universo, mas também transformou a própria estrutura geral, ou antes ela a fez desaparecer como totalidade finita de existentes corpóreos: a possibilidade de uma cos-mologia parece definitivamente descartada. Mas para isso se tornar claro, será preciso esperar por Kant, a dialética da razão pura e a resolução das antinomias cosmológicas, o que Kant chama de Resolução crítica do conflito cosmológico da razão com ela mesma.
Tradução por Carlos Guilherme Silveira

11
OU
TUB
RO
20
13
Adeus a Descartes, Eugen Rosenstock-HuessyTradução do Capítulo I de “I Am an Impure Thinker” (1970)
O ano do tricentenário de Harvard, 1936-1937, foi também o tricentenário de um grande acontecimento intelectual. Trezentos anos atrás foram estabeleci-
dos os fundamentos racionais da ciência moderna. Foi então que o “Weltanschauung” que radica em nossas universidades modernas foi pela primeira vez colocado em um livro. Seu autor tinha a inten-ção de escrever alguns volumes abrangentes sob o orgulhoso título de Le Monde. Mas esse filósofo, René Descartes, foi, por riscos religiosos, dissua-dido de publicá-los por completo, e restringiu sua tarefa aos famoso Discours de la Methode. Nele foi formulado o grande postulado idealista do “cogito ergo sum” (“penso, logo existo”), e com ele o plano da conquista científica da natureza pelo homem. O “cogito ergo sum” de Descartes abriu caminho para trezentos anos de incrível progresso científico.
Quando Descartes apresentou-se com o seu “maravilhosamente estranho” Discourse, a uni-versidade de tipo escolástico há muito já estava em
decadência. Com seu “cogito ergo sum”, ele substi-tuiu os princípios que haviam guiado o pensamento medieval desde o “credo ut intelligam” de Anselmo (“creio para entender’). Entre os pontos de par-tida possíveis para os nossos poderes da razão, o escolasticismo destacara a fé do homem no poder revelador de Deus; Descartes a colocou atrás da sua fé não menos paradoxal no caráter racional da existência e da natureza.
O “cogito ergo sum”, por sua rivalidade com a teolo-gia, era unilateral. Nós, pensadores do pós-guerra, preocupamo-nos menos com o caráter revelado do Deus verdadeiro ou com o caráter verdadeiro da natureza do que com a sobrevivência de uma socie-dade verdadeiramente humana.
Eu sou um pensador impuro. Eu me machuco, oscilo, abalo-me, exalto-me, desiludo-me, entro em choque, reconforto-me, e tenho de transmitir minhas experiências mentais, senão eu morro.
Ao pedir por uma sociedade verdadeiramente humana, nós mais uma vez colocamos o problema da verdade; mas nossa empreitada específica é a realização viva da verdade na humanidade. A ver-dade é divina e foi divinamente revelada: credo ut intelligam. A verdade é pura e pode ser cientifica-mente enunciada: cogito ergo sum. A verdade é vital e deve ser socialmente representada: respondeo etsi mutabor (respondo, mesmo se serei mudado).
Nosso ataque ao cartesianismo é inevitável, uma vez que o pensamento “puro” invade por toda parte o campo dos estudos sociais. Os historiadores,

12
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
economistas e psicólogos não podem suportar a idéia de não serem pensadores “puros”, cientistas de verdade. Que frustração!
Eu sou um pensador impuro. Eu me machuco, oscilo, abalo-me, exalto-me, desiludo-me, entro em choque, reconforto-me, e tenho de transmitir minhas experiências mentais, senão eu morro. E apesar de eu poder morrer. Escrever um livro não é um luxo. É um meio de sobrevivência. Ao escre-ver um livro, um homem liberta sua mente de uma impressão esmagadora. O teste para um livro é a sua falta de arbitrariedade, o fato de que ele tivesse de ser feito para abrir caminho para ainda mais vida e mais trabalho. Eu, por exemplo, fiz tudo em meu poder para repetidas vezes esquecer o plano do “Out of Revolution”.1 E aqui está ele, mais uma vez.
Através da própria experiência revolucionária do homem nós conhecemos mais sobre a vida do que mediante qualquer observação exterior. Nosso movimento ecodinâmico pela sociedade é a base para todas as nossas ciências da natureza. A natureza distante nos é menos conhecida do que o renascimento do homem, através da constante seleção do mais forte e através da variação cons-ciente. As memórias que o homem tem de suas próprias experiências formam o fundo de todo nosso conhecimento da sociedade e da criação.
A ciência e a história em sua era positivista subes-timaram o elemento bio-lógico tanto na natureza quanto na sociedade. Elas tomaram a física e a metafísica, a matéria mensurável e pesável, e as idéias lógicas e metafísicas, como os fundamentos básicos e elementares sobre os quais construímos nosso conhecimento. Ao iniciarem com figuras abstratas na física, ou idéias gerais na metafísica, elas nunca fizeram justiça ao ponto central da nossa existência. Pois nem a física nem a meta-física podem nos oferecer qualquer base prática para entrar nos campos da biologia ou sociologia. Nem a partir das leis da gravidade, nem a partir das idéias da lógica ou da ética há uma ponte que nos leve ao reino da vida, seja a vida das plantas e ani-mais ou da sociedade humana. Coisas mortas estão para sempre separadas das vivas; figuras e idéias
pertencem ao limbo da irrealidade.
Nós podemos dispensar os métodos do passado. Os esquemas daquele tempo, quaisquer que fos-sem, eram baseados ou na física ou na metafísica. Alguns eram subjetivos e outros eram objetivos; alguns eram idealistas e outros materialistas; e muitos eram uma mistura de ambos. Mas eles eram unânimes em assumir que o pensamento cien-tífico deveria proceder desde os simples fatos da física ou das idéias gerais. Eles eram unânimes em assumir que as leis da gravidade ou da lógica eram verdades primárias e centrais sobre as quais se devia construir o sistema do conhecimento. Todos eles acreditavam numa hierarquia, com a física e a metafísica na base, como ciências primárias, e uma escada subindo até os segundo e terceiro andares do edifício do conhecimento. Assim que percebemos a falácia cardinal dessa suposição, Marx torna-se um filho de época passada tanto quanto Descartes, ou Hume, ou Hobbes. Todos eles se parecem de uma maneira incrível. Todos eles partiram de gene-ralidades abstratas sobre a mente do homem e a natureza da matéria.
Nós renunciamos à sua abordagem do conhe-cimento. O “pensamento” e o “ser”, a mente e o corpo, não são os pontos de partida corretos para os mistérios da vida e da sociedade. A física, interessada no mero ser da matéria abstrata, e a metafísica, que especula sobre as idéias dos homens, são, na melhor das hipóteses, métodos marginais para se lidar com a realidade. Elas não tocam no núcleo, porque começam investigando coisas mortas ou noções abstratas. Elas não estão preocupadas com a vida real, seja das criaturas naturais, seja da sociedade. É bem verdade que o universo está repleto de coisas mortas, e as biblio-tecas dos homenas repletas de conceitos abstratos. Isto pode explicar a presunção anterior de que, ao se estudar uma vasta quantidade de pedras, cascalho e poeira, ou uma série interminável de doutrinas e idéias, atacassem-se as substâncias preponderan-tes no mundo. Porém, essa presunção segue sendo um círculo vicioso. Num vale inteiro de pedras e lava, uma faixa de grama é o bastante
1. Obra monumental do autor publicada em 1993, em que Rosenstock acabaria por propor um novo tipo de historiografia, mais ou menos
conforme as linhas gerais estabelecidas neste presente artigo.
___________________________________________________

13
OU
TUB
RO
20
13
As duas ciências modernas da vida, a biologia e a sociologia, precisam deixar de receber ordens das ciências da morte, a física e a metafísica.
para refutar um sistema que pretende explorar a grama pesando e medindo todo o cascalho do vale. Da mesma forma, a presença de uma única viva alma entre os três milhões de volumes de uma grande livraria oferece prova suficiente contra a noção de que o segredo dessa alma será encontrado ao se lerem aqueles três milhões de livros. O carvão pode ser explicado como o cadáver embalsamado de florestas antigas, mas nenhuma árvore pode ser explicada investigando-se apenas o antracito. A física lida somente com cadáveres, e a metafí-sica com fórmulas onde não há mais vida. Ambas as ciências ocupam-se com formas secundárias de existência, restos de vida. O tratamento científico desses restos pode ser muito útil; porém, ele segue sendo uma forma secundária de conhecimento. A vida precede a morte; e qualquer conhecimento da vida em suas duas formas, a social e a cósmica, pode com razão reinvidicar precedência sobre a física e a metafísica. As duas ciências modernas da vida, a biologia e a sociologia, precisam deixar de receber ordens das ciências da morte, a física e a metafísica.
Numa série recente de publicações sobre biolo-gia, chamada “Bios” e inaugurada pelos melhores biólogos americanos, alemães e ingleses, o pri-meiro volume, escrito por A. Meyer e publicado em 1934, é dedicado à revolução copernicana. Meyer mostra que a física lida unicamente com um caso extremo da natureza, a sua mais remota aparên-cia. Portanto, a física pode ser mais propriamente descrita como o último capítulo da biologia, ao invés de o primeiro capítulo da ciência natural. O mesmo se dá com as ciências sociais em sua relação com a metafísica. E os detalhes que interessam às ciências da morte e da abstração são inúteis para a tarefa que há diante dos exploradores da vida no seu caminho entre o céu e a terra, nos campos da economia e bionomia.
Aliás, como as ciências sob o encanto da velha hie-rarquia da física e da metafísica são geralmente caracterizadas pela terminação –ologia (p. ex., sociologia, filologia, teologia, zoologia, etc.), seria conveniente um sufixo distinto para as ciências emancipadas. Quando falamos de fisiologia, psi-cologia, etc., nós geralmente queremos dizer as ciências em sua forma antiga, ainda adulterada pelos erros do físico e do metafísico. Enquanto ao se falar de “teonomia” – como agora comumente fazem os pensadores alemães com “bionomia” – e economia, temos em mente as maduras e independentes ciências da vida que se tornaram conscientes de sua não-dependência das ciências da morte. Como estamos nos deparando com a emancipação dessas bio-ciências com relação às “falsas naturezas amalgamadas”, é extremamente recomendável uma mudança no nome para se dis-criminar entre suas condições de escravizadas e de emancipadas.
A realidade que confronta os bionomistas e econo-mistas não pode ser dividida em sujeito e objeto: esta costumeira dicotomia não é capaz de nos transmitir nenhum significado. Na verdade, o Sr. Uexkuell e a escola moderna de bionomia insistem no caráter subjetivo de cada objeto vivo que chega ao microscópio. Eles descobriram, em todo alegado “objeto” de sua pesquisa, a sua qualidade de ser um “Ego”. Mas, se somos forçados a concordar que cada Coisa (“it”) é também um Ego, e que cada Ego contém a Coisa, a nomenclatura inteira de sujeito e objeto revela-se ambígua e inútil para qualquer fim prático. Sociológos como MacIver partiram do mesmo ponto de vista nas ciências sociais. A divisão da realidade em sujeito e objeto está se tornando desprezível – até mesmo enganosa. Deveria estar claro que nos campos da bionomia e da economia é um ultraje ao senso comum divi-dir a realidade em sujeito e objeto, mente e corpo, idéia e matéria. Quem algum dia agiu como um mero sujeito ou um mero corpo? O Ego e a Coisa estão limitando os conceitos, felizmente difíceis de se encontrar na realidade vital. A palavra “coisa” (“it”), que pode não ser ofensiva quando aplicada a uma pedra ou um cadáver, é uma metáfora impos-sível para um cão ou um cavalo, que dirá para um ser humano. Aplicado aos homens, ela os reduz a “mão-de-obra barata”, “mãos”, engrenagens na máquina. Assim, uma filosofia errada deve neces-sariamente levar a uma sociedade errada.

14
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
Os quatrocentos anos de dominação da física ine-vitavelmente prepararam a revolução social das Coisas, a “quantidade” na qual os trabalhadores são rebaixados por uma sociedade mecanicista. A política e a educação dos últimos séculos se mostra-ram um desastre sempre que tentaram estabelecer como normas os extremos anormais e mais desu-manos do Ego e da Coisa. Uma imaginação que possa dividir o mundo em sujeito e objeto, mente e matéria, não só aceitará a engrenagem na máquina com perfeita tranqüilidade, como menos ainda irá se abalar com o frio ceticismo do intelectual. A sua atitude desinteressada, embora auto-centrada, típica do deraciné, será tratada como normal.
Ademais, quando a humanidade se aproxima de um desenvolvimento pelo qual um dos seus mem-bros, uma classe, uma nação, ou uma raça, deve ser escravizado e transformado numa Coisa, uma mera pilha de matéria bruta para o trabalho, ou liber-tada para se tornar, como grupo ou classe, o mero Ego tirânico – surgirá uma revolução que destruirá esses extremos, o sujeito idealista, o Ego, e o objeto materialista, a Coisa; ambos são folhas mortas na árvore da humanidade. Nossa investigação sobre a revolução mostra que esses dois extremos são indefensáveis. As posições do Ego e da Coisa são entorpecentes caricaturas da verdadeira locali-zação do homem na sociedade. A grande família européia das nações não estava preocupada com a produção ou fomento de ideais ou coisas materiais, mas com a reprodução de tipos do homem perpé-tuo, como a filha, o filho, o pai, a irmã, a mãe, e, é claro, suas combinações.
As abstrações e generalidades que prevaleceram na filosofia de Descartes até Spencer, e na polí-tica de Maquiavel até Lênin, fizeram caricaturas dos homens vivos. As noções de objeto e sujeito, idéia e matéria, não visam o coração da nossa exis-tência humana. Elas descrevem as possibilidades trágicas da arrogância ou mesquinhez humana, as potencialidades do déspota e do escravo, do gênio ou do proletário. Elas erram o alvo no qual fin-gem atirar: a natureza humana. Embora o homem tenda a se tornar um Ego e seja pressionado por seu ambiente a se comportar como uma Coisa, ele jamais é o que essas tendências tentam fazer dele. Um homem pressionado ao behaviorismo por cir-cunstâncias estranhas, de um modo tal que acaba reagindo como matéria, está morto. Um homem
tão completamente auto-centrado, que esteja constantemente se comportando como o Ego sobe-rano, fica louco. O homem de verdade aproveita o privilégio de ocasionalmente sacrificar a perso-nalidade à paixão. Entre a ação como um Ego e a reação como uma coisa, a alma do homem só pode ser encontrada em sua capacidade de se voltar para a iniciativa ativa ou para a reação passiva. Errar por entre o Ego e a Coisa é o segredo da alma humana. E enquanto o homem puder retornar ao seu feliz equilíbrio, ele estará são. Nosso conhecimento da sociedade não deve mais ser construído sobre abstrações inexistentes, como Egos de deus ou Coisas de pedra, mas baseado em você e eu, “vozes médias” defeituosas e reais, como somos nós em nossa interdependência mútua, conversando um com o outro, dizendo “você” e “eu”. Uma nova gramática social está por trás de todas as tentativas bem sucedidas nas ciências sociais do século XX.
Os gramáticos do rei Ptolomeu na Alexandria foram os primeiros a inventar aquela tabela que todos nós tivemos de aprender na escola. “Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam”. Provavelmente essa tabela de tempos verbais colo-cou a pedra angular no arco da psicologia errada. Pois, nesse esquema, todas as pessoas e formas de ação parecem ser intercambiáveis. Esse esquema, utilizado como a lógica da filosofia desde Descartes até Spencer, e como o princípio da política desde Maquiavel até Marx, é uma gramática de caricatu-ras humanas.
Até que ponto, de fato, o “Eu” se aplica ao homem? Para responder a essa pergunta, vejamos o impe-rativo. Um homem é comandado desde fora por mais tempo em sua vida do que pode dispor do “Eu”. Antes que nós possamos falar ou pensar, o imperativo está nos visando o tempo todo, através da mãe, da babá, das irmãs e dos vizinhos: “Come, vem, bebe, fica quieto!” A primeira forma e a forma permanente sob a qual um homem pode se reco-nhecer a si mesmo e à unidade da sua existência é o imperativo. Somos chamados de Homem e somos convocados por nossos nome muito antes de estar-mos cientes de nós mesmos como um Ego. E em todas as frágeis e infantis situações posteriores nós nos vemos na necessidade de ter alguém para nos falar, chamar-nos pelo nosso nome e dizer-nos o que fazer. Nós falamos conoscos mesmos nas horas de desespero e nos perguntamos: Como você pôde?

15
OU
TUB
RO
20
13
Onde você está? O que você fará em seguida? Aí nós temos o verdadeiro homem, aguardando e espe-rando por seu nome e imperativo. Aí nós temos o homem sobre o qual construímos a sociedade. Uma nação de Egos filosofantes entra em guerra; uma nação de puras “engrenagens na máquina” cai na anarquia. Um homem que possa ouvir ao seu imperativo é governável, educável, respondível. E quando deixamos a idade da infância para trás, nós recebemos nossa personalidade mais uma vez pelo amor: “É minha alma que chama pelo meu nome”, diz Romeu. Não pode ser nossa intenção aqui seguir as implicações dessa verdade em todos seus detalhes. O momento para tal discussão irá surgir muito naturalmente depois que os fatos expostos neste volume tiverem recebido melhor considera-ção do público geral.
O homem como um sujeito ou como um objeto é na verdade um caso patológico.
Contudo, não podemos esconder um resultado central mesmo nesta fase inicial do “realinha-mento das ciências sociais” através do estudo da revolução humana: que este estudo oferece noções mais realistas para o homem do que o estudo de sua mente ou seu corpo. Pois os famosos conceitos derivados da mente ou corpo eram, como dissemos, “sujeito” e “objeto”; eles não podem ser encon-trados num homem ou numa sociedade saudáveis. O homem como um sujeito ou como um objeto é na verdade um caso patológico. O homem perpé-tuo como um membro da sociedade só pode ser descrito ao revermos as faculdades que ele exibiu no devido processo de revolução. Ele mostrou-se como um iniciante e um continuador, um criador e uma criatura, um produto do ambiente e o seu pro-dutor, um neto ou um ancestral, um revolucionário ou um evolucionista. Esse dualismo que permeia cada perfeito membro do mundo civilizado pode ser resumido em duas palavras, que adequadamente deveriam suplantar as enganosas “objetividade” e “subjetividade”, tão caras aos cientistas natu-rais. Os novos termos são “trajeto”, i.e., aquele que é levado por caminhos conhecidos do pas-sado, e “prejeto”, i.e., aquele que é lançado para fora desse processo em um futuro desconhecido.
Todos nós somos ambas as coisas, trajetos e preje-tos. Contanto e enquanto nossa civilização seguir uma direção clara, todos nós estaremos sentados em seu barco de evolução pacífica e seremos con-duzidos com segurança pelo trajeto até as margens do amanhã, conforme as regras do jogo. Por outro lado, sempre que a sociedade não mostrar sinal nenhum de direção, quando o velho barco de suas instituições não parecer mais boiar, seremos desa-fiados pela pressão da emergência de assumir uma embarcação desconhecida que nós mesmos tere-mos de construir, e em cuja construção poderá ser consumida mais de uma geração. Construir um novo barco sem precedentes é uma emergência, é o imperativo do revolucionário. Então, nossa tra-jetidade e nossa prejetidade são nossos imperativos sociais. A interação entre eles é o problema das ciências sociais. O trajeto é evolutivo; o prejeto é o predicado revolucionário do homem.
Estamos cientes do que acarreta esse ataque à ciência cartesiana, unida como ela é à fórmula de Descartes, “cogito ergo sum”. Nós assumimos com-pletamente o risco de abandonar para sempre essa plataforma. O pensamento não prova a realidade. O homem moderno – e não é preciso voltar-se a exageros como o Ulisses de Joyce – é transformado num monte de nervos pelo pensamento. O homem moderno é invadido por tantas idéias “vindas do estrangeiro” que ele corre o risco da desintegra-ção pelo pensamento. A mente não é o centro da personalidade.
Antes de dar adeus ao “cogito ergo sum”, deve-ríamos uma vez mais perceber seu poder e grandiosidade. Essa fórmula nos convidava a todos a entrar no exército da investigação em sua luta contra a natureza irracional. Sempre que um homem era treinado para o Ego abstrato do obser-vador, estava em jogo nosso domínio da natureza. Nesse unificador grito de guerra do “penso, logo existo” o homem fundou sua gloriosa conquista técnica das forças e matérias-primas “objeti-vas” do mundo. A ponte George Washington que atravessa o Hudson é talvez um dos melhores resultados dessa religiosa cooperação entre Egos racionais. Ninguém pode permanecer impassível diante de sua forma cristalina. É certamente inspi-radora a aliança entre todos os milhares e milhões cuja cooperação era necessária antes que o homem fosse capaz de tal milagre técnico. Ou, como o

16
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
presidente Coolidge disse quando recebeu em sua casa Charles A. Lindbergh vindo do seu vôo a Paris: “Foi particularmente agradável ele se referir ao seu avião como se de algum modo ele possuísse uma personalidade e fosse, junto com ele, igualmente merecedor do crédito, pois nós nos orgulhamos de como esse silencioso companheiro representou em cada detalhe o gênio e a diligência americana. Fui informado de que mais de cem diferentes empre-sas forneceram materiais, partes ou algum serviço em sua construção.” E o próprio Lindbergh acres-centou: “Além disso, deve-se dar importância às pesquisas científicas que tem ocorrido há incontáveis séculos.” Esse exército do homem alistado contra a natureza sob a senha do “cogito ergo sum” merece nosso apoio perpétuo.
Mas, entre os homens na sociedade, a vigorosa identidade a nós exigida pelo “cogito ergo sum” tende a destruir os imperativos orientadores da vida sã. Nós não existimos porque pensamos. O homem é o filho de Deus, e não trazido à existên-cia pelo pensamento. Somos chamados à sociedade por uma poderosa súplica, “Quem és tu, homem, para que eu me importe por ti”? E, muito antes de nossa inteligência poder nos ajudar, o indivíduo recém-nascido sobrevive a essa tremenda per-gunta graças à sua fé ingênua no amor dos seus antecessores. Nós crescemos como sociedade base-ados na fé, ouvindo a todos os tipos de imperativos humanos. Mais adiante, nós, nações e indíviduos, balbuciamos e gaguejamos, no esforço de justi-ficar nossa existência respondendo ao chamado. Nós tentamos distinguir entre as muitas ofertas tentadoras feitas aos nossos sentidos e os apetites por parte do mundo. Queremos acompanhar a per-gunta mais profunda, o chamado central que ruma direto ao coração e promete à nossa alma a certeza duradoura de estar inscrita no livro da vida.
O homem moderno não acredita mais em nenhuma certeza da existência, devido à razão abstrata. Porém, ele é dedicado, de coração e alma, à grande luta do homem contra a decadência da criação. Ele sabe que toda sua vida terá de ser uma resposta ao chamado. A pequena fórmula que propomos no início deste capítulo pode ser de algum proveito para condensar toda nossa empreitada em um tipo de quintessência: “respondeo etsi mutabor” –res-pondo, mesmo se serei mudado. Essa fórmula que propomos como o princípio básico das ciências
sociais, para a compreensão da vida humana em grupo, é tão curta como o “cogito ergo sum” de Descartes. Descartes supôs, em sua fórmula, que o mesmo sujeito que faz uma pergunta e levanta uma dúvida resolve o problema. Isso pode ser verdade na matemática ou na física, embora hoje em dia, com Einstein, até mesmo essa limitada hipótese tenha se tornado indemostrável.
Nosso conhecimento e nossa ciência não são um luxo próprio para um momento de lazer. Eles são nossos instrumentos de sobrevivência, para responder, a qualquer momento da vida, ao problema universal.
Em todo problema vital, ele que pergunta e nós que respondemos estamos separados por uma grande distância. O problema nos é colocado por um poder que transcende em muito nosso livre-arbítrio e por situações que transcendem a nossa escolha. A crise, a injustiça, a morte, a depressão, são problemas que nos são colocados pelo poder que moldou nos-sas desgraças. Nós só podemos dar uma resposta momentânea, a nossa resposta, à perpétua e prótea pergunta. Nosso conhecimento e nossa ciência não são um luxo próprio para um momento de lazer. Eles são nossos instrumentos de sobrevivência, para responder, a qualquer momento da vida, ao problema universal. As respostas dadas pela ciên-cia e pela sabedoria são como uma corrente em que cada elo se encaixa a uma engrenagem especial na roda do tempo. As maiores e mais universais res-postas que o homem tentou dar, como a Reforma, ou a Grande Revolução, mesmo estas, como vimos, foram respostas temporárias, e tinham de ser suple-mentadas depois que um século se passou.
O “penso” tem de ser dividido no divino “Como tu escaparás desse abismo do vazio?” e na resposta do homem ou nação, dada pela devoção de toda sua vida e trabalho: “Seja esta minha resposta!”. “Homem” é a segunda pessoa na gramática da sociedade.

17
OU
TUB
RO
20
13
Tendo descoberto, em cada grave problema, o diálogo entre o poder sobrehumano que o coloca e aqueles entre nós para quem ele apela, o “Eu” que pergunta nós transferimos para regiões mais poderosas do que o indivíduo. O ambiente, o des-tino, Deus, é o “Eu” que sempre precede nossa existência e a existência de nossos semelhantes. Ele se dirige a nós: e, embora nós possamos talvez dar voz à pergunta, não somos Egos ao servir como seu porta-voz. Nós nos tornamos pessoas como destinatários, como “você”. Nós somos filhos do tempo, e a urgência do dia está sobre nós antes que possamos nos erguer para resolvê-la.
Sempre que uma classe governante se esquece de sua qualidade de destinatários, uma parte reprimida da humanidade erguerá sua voz por uma resposta. De um dualismo indefensável do Ego altivo e da Coisa reprimida, a sociedade passou para o seu lugar adequado de destinatário de Deus no ponto da erupção de toda grande revolução. Um novo tipo psíquico assumia parte da resposta à pergunta de então toda vez que uma província da cristandade tinha sua própria voz negada. Quando a Itália era uma mera ferramenta nas mãos do Sacro Império, como em 1200, quando a Rússia era uma colônia explorada do capitalismo ocidental, como em 1917, um novo suspiro foi exalado pelo aparente cadáver: e não foi um Ego, mas um novo grupo apelável que nasceu. Nenhuma classe governante jamais sobre-vive como um Ego meramente auto-afirmativo. Ela sempre sobreviverá ao responder à sua reinvidica-ção original de ser o “você” de Deus.
As nações agradecem. Enquanto um retalho do pro-blema original estiver diante da nação e enquanto os membros do grupo governante derem a mais tênue resposta a isso, as nações irão tolerar as mais atrozes excentricidades com perfeita paciência. Esta paciência e gratidão pode de fato ser chamada de a religião de uma nação. Quando um homem – ou uma nação, ou a humanidade – deseja renas-cer, seja desde uma solidão excessiva, seja desde uma multidão, ele precisa deixar para trás tanto o estudo do pensador platônico quanto a maquinaria da sociedade moderna, e se tornar novamente um destinatário, livre das perguntas egocêntricas e das correntes materiais da Coisa. Em nossa situação natural, a de ser um destinatário, nós não somos nem ativos, como o Ego super-enérgico, nem passivos, como o sofredor explorado. Nós somos
nadadores em um meio flutuante e perpétuo. É che-gada a aurora da criação, e nós aguardamos a nossa pergunta, o nosso mandato específico, no silêncio dos princípios do tempo. Quando tivermos apren-dido a ouvir a pergunta e a servir em direção à sua solução, teremos avançado para um novo dia. Essa é a forma pela qual a humanidade tem batalhado, século após século, durante os últimos dois mil anos, construindo o calendário dos seus re-aniver-sários como um verdadeiro testamento de sua fé.
A responsabilidade de inventar perguntas não é própria da alma vivente. Só o diabo se interessa em trazer problemas supérfluos e fúteis. Com razão Tristram Shandy começa com um rompante contra os “se’s”. Os verdadeiros enigmas são colocados diante de nós não por nossa própria curiosidade. Eles caem sobre nós vindos do céu azul. Mas nós somos “respondentes”. Este é o orgulho do homem, isto é o que o faz se encontrar como um ser humano entre Deus e a natureza.
Nossa fórmula foi dada em três simples palavras: respondeo esti mutabor, respondo, mesmo se serei mudado. Isto é, eu darei uma resposta à pergunta porque Tu me fizeste responsável pela reprodução da vida sobre a terra. Respondeo etsi mutabor: por uma resposta de auto-esquecimento, a humanidade permanece “mutante” em cada um de seus mem-bros responsáveis. O “cogito ergo sum” torna-se então uma versão da nossa fórmula, aquela versão que era a mais útil quando o caminho do homem se abriu para a descoberta cooperativa da natureza. Na pessoa de Descartes, a humanidade, segura de sua bênção divina, decidiu num esforço comum e generalizado, válido para todos os homens, que transformaria o caos escuro da natureza em objetos do nosso domínio intelectual. Para o sucesso desse esforço, era necessário lançar o feitiço do “cogito ergo sum” sobre os homens, para superar suas fra-quezas naturais e afastá-los o suficiente do mundo que tinha de ser objetificado. O “Cogito ergo sum” deu ao homem a distância da natureza.
Ora, essa distância é útil para uma fase especial dentro do processo de captar as perguntas, pon-derar as respostas e finalmente dar uma resposta conhecida. Na fase em que duvidamos, não temos certeza de nada, senão de nosso pensamento; para esta fase, então, a fórmula cartesiana era de fato favorável. E como, nas ciências naturais, essa fase

18
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
é a mais essencial, os cientistas naturais pensaram que a humanidade inteira poderia viver nessa filo-sofia. Mas já sabemos que a expressão da verdade é um problema social em si mesmo. Enquanto a raça humana tiver de decidir hoje sobre um esforço comum de como se expressar ou representar a verdade socialmente, a fórmula cartesiana não terá nada para dizer. E o mesmo se aplica com respeito à impressão da verdade em nossa plástica consciência. Nem os séculos que prepararam e finalmente produziram Descartes, nem nós, povo do pós-guerra, podemos comungar nossos esfor-ços inter-nacionais e interdenominacionais sobre uma fórmula que nada diga a respeito da dignidade das impressões e expressões, da aprendizagem e do ensinamento, ou do ouvir e falar com nossos semelhantes.
Os séculos das revoluções clericais se ocuparam em nos dar a boa consciência e a certeza da iluminação na qual Descartes pôde fundar seu apelo à razão geral em cada um de nós. Eles tinham de estudar o problema da impressão, i.e., como o homem pode aprender sobre o que deve pedir da vida. Por essa razão, eles tinham de estabelecer outro tipo de distância dentro do processo do pensamento. E o estabelecimento desse tipo de distância tinha de anteceder a distância secundária entre sujeitos e objetos conforme estabelecida por Descartes. Se a escolástica não houvesse abolido todos os mitos locais sobre o universo, Descartes não poderia ter feito as perguntas racionais sobre ele. Para que o homem pudesse sequer se tornar capaz de pensar objetivamente, ele tinha de saber primeiro que todo wishful thinking de nossa raça foi logrado por um processo superior, que originou e determinou o papel desempenhado por nós no universo.
O processo real da vida que nos permeia e toma conta de nós, que nos coloca em perigo e nos utiliza, transcende nossos objetivos e fins improvisados. Ao reverenciá-lo, nós podemos nos desligar do nosso medo da morte, e podemos começar a ouvir.
Como um princípio do raciocínio eficiente, esse desligamento foi transferido para a filosofia pelo maior dos filósofos ingleses, Anselmo da Cantuária, numa sentença que rivaliza em cons-ciência com a cartesiana: “Credo ut intelligam” é o princípio que distancia os homens, em sua prá-tica intelectual, de Deus. Poderíamos traduzir o
latim (que literalmente significa: “tenho fé para poder entender”) em nossos termos: preciso ter aprendido a ouvir antes de poder distinguir entre a verdade válida e a verdade feita pelo homem. Isto, novamente, acaba sendo apenas outra versão da nossa fórmula proposta em sua relação triangular. Na afirmativa de Anselmo a ênfase está na escuta como órgão para inspiração pela verdade. Na cartesiana, está no duvidar como órgão para trans-formação dessa verdade divina em conhecimento humano. Na nossa versão, a ênfase muda mais uma vez, para o processo de fazer conhecido, de se expressar no tempo certo, no lugar certo, conforme a representação social adequada. Não acreditamos mais na inocência atemporal dos filósofos, teólo-gos e cientistas; nós os vemos escrevendo livros e tentando conquistar poder. E todo esse processo de ensinar precisa novamente da mesma auto-crítica centenária aplicada aos anselmianos e cartesianos sobre o processo de nosso desligamento de Deus e da natureza. Na sociedade, devemos nos desligar de nossos ouvintes antes de podermos ensiná-los.
Acaso essas confissões ingênuas do semideus da ciência moderna, o inventor do dualismo mente-corpo, foram recebidas com o único sucesso que elas mereciam: o das risadas sem fim?
Tanto o “credo ut intelligam” quanto o “cogito ergo sum” funcionaram muito bem por um tempo. Porém, no fim, o “credo ut intelligam” nos levou à Inquisição, e o “cogito ergo sum” a uma fábrica de armamentos. A ciência progressiva dos nos-sos dias de bombardeios aéreos progrediu apenas um pouco demais para as humanas, precisamente como a teologia havia dogmatizado um pouco demais quando construiu a sua Inquisição. Quando Joana D’Arc foi interrogada sob tortura, seus juí-zes teológicos tinham deixado de crer. Quando os vencedores do prêmio Nobel produziram o gás venenoso, seu pensamento não se identificava mais com a existência.

19
OU
TUB
RO
20
13
Nossa fórmula “respondeo etsi mutabor” lembra--nos que a sociedade humana superou a fase da mera existência, que prevalece na natureza. Na Sociedade, nós devemos responder, e, pelo modo da nossa resposta, testemunhamos que sabemos o que nenhuma outra criatura sabe: o segredo da morte e da vida. Nós nos sentimos responsá-veis pelo “Renascimento” da vida. A revolução, o amor, qualquer obra gloriosa, carrega a estampa da eternidade se ela tiver sido chamada à existên-cia por esse sinal no qual o Criador e a criatura são um. “Respondeo etsi mutabor”, uma palavra vital altera o curso da vida, e a vida ultrapassa a morte já presente.
O valor de sobrevivência do humor
Voltemos uma última vez para o venerável Descartes, nosso adversário, o grande sedutor do mundo moderno. Neste pequeno livro sobre o método, ele seriamente, sem nenhum traço de humor, queixa--se de que o homem tenha impressões antes que sua mente se desenvolva até o poder máximo da lógica. Por vinte anos, diz sua queixa, fui impressionado confusamente por objetos que eu não tinha capaci-dade de entender. Ao invés de ter meu cérebro como uma tábula rasa aos vinte anos, eu encontrei inúme-ras idéias falsas engravadas nele. Que lástima que o homem seja incapaz de pensar claramente desde o dia de seu nascimento, ou que ele possua memórias que antecedam sua maturidade!
Acaso essas confissões ingênuas do semideus da ciência moderna, o inventor do dualismo mente--corpo, foram recebidas com o único sucesso que elas mereciam: o das risadas sem fim? Isto nos traz a grave pergunta sobre o que a omissão do riso, ou de suas aplicações, significa na evolução da ciên-cia. Os cientistas parecem ser incapazes de captar a tolice da observação de Descartes. No entanto, o senso comum age sobre o princípio de que um homem que falha em aplicar o riso e o pranto na descoberta da verdade vital é simplesmente ima-turo. Descartes é um adolescente enormemente expandido, cheio de curiosidade, que abomina sua infância mental e frustra sua virilidade mental.
Descartes queria que a idade plástica do homem se apagasse. Ele queria transformar o homem de um prejeto plástico atirado na vida e sociedade, onde pudesse ser impressionado e educado, para um
sujeito vazio a ser preenchido de objetividade. Isso significa dizer que a mente humana deveria deci-frar apenas as impressões feitas naquelas partes do mundo que estão fora dela. Consequentemente, os cientistas hoje – pois todos eles representam a prática do cartesianismo – pensam que eles mes-mos não devem ser impressionados, que o seu dever é ficar calmo, desinteressado, neutro e desa-paixonado. E eles se esforçam em desenvolver essa falta de humor. Suas inibições e repressões são tamanhas que eles dão vazão às suas paixões por motivos insignificantes, e da forma mais incons-ciente, só porque eles não ousam admiti-las como o maior capital da investigação humana.
Quanto mais um homem reprime as impressões feitas sobre si, mais ele depende, em sua orientação e suas conclusões, dos vestígios e impressões fei-tos pela vida em outros homens. Ele suprime parte da evidência do mundo que estuda quando ele rei-vindica trabalhar com a mente pura. Comparemos muito brevemente o físico ou geólogo, o biólogo ou físico, e nossa própria economia e “metanomia” da sociedade. Ficará claro então que todos eles for-mam uma seqüência lógica.
A geologia depende de impressões feitas por enchen-tes, terremotos, vulcões. As montanhas contam a história de suas opressões e rebeliões. Os impres-sionantes dados dessa ciência da Mãe Natureza são aqueles fornecidos pelas mais violentas impressões que marcam uma época em evolução.
Passando à medicina, nós facilmente observamos que um médico não recomendará uma nova droga antes que alguns seres vivos não a tiverem experi-mentado. O soro ou antídoto torna-se interessante quando ele deixa uma impressão real sobre ou em um organismo vivo.
Todas as verdadeiras ciências são baseadas em impressões feitas em partes do mundo, em pedras, metais, plantas, animais, corpos humanos, desde o átomo até a cobaia.
Muito bem, se as impressões feitas sobre pedras fizeram surgir uma ciência especial, a das pedras, e se as impressões gravadas em corpos constru-íram a medicina e a biologia moderna, então as impressões poderosas o bastante para abalar nos-sas mentes devem ser as mais cientificamente

20
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
frutíferas. No entanto, ao macaquear as ciên-cias naturais, os brâhmanes do conhecimento do homem vangloriam-se de sua própria neutralidade e indiferença impassível ao problema. Não sendo possível nenhuma ciência sem impressões, eles se voltam a um laboratório artificial onde produzem efeitos em cobaias e substituem as suas próprias experiências pelas das cobaias.
Nós diariamente emergimos da morte social por um milagre.
A verdade é que o grande Cartesius, quando ele liqui-dou com as impressões do menino René, aleijou-se a si mesmo para qualquer percepção social fora da ciência natural. Este é o preço pago por todo método científico natural. Na medida em que ele é aplicado e neutraliza o geólogo, ou o físico, ou o bioquímico, ele liquida com suas experiências pessoais sociais e políticas. A partir daí, as ciências desenvolvem um hábito desastroso para o pensador social.
Nenhum fato científico pode ser verificado antes de ter deixado uma indelével impressão. O terror das revoluções, guerras, anarquia, deve ter deixado uma impressão indelével antes de nós podermos estudá-los. “Indelével” é uma qualidade que difere bastante de “clara”. Na verdade, quanto mais con-fusa, complexa e violenta a impressão, mais ela irá grudar, mais resultados ela irá produzir. Uma revolução, então, é o fato mais importante para o entendimento, porque ela tira nossas mentes do eixo. Por definição, uma revolução modifica os processos mentais do homem. Os cientistas que se sentam para julgar objetivamente, antes de serem simplesmente aturdidos, incapacitam-se para sua verdadeira tarefa, que é a de digerir o evento. Eles não expõem suas mentes ao choque. Em outros campos da vida, isso se chama covardia.
A covardia do pensador social que nega que ele é impressionado e pessoalmente colocado em estado de choque por uma revolução ou uma cicatriz de guerra, faz com que ele se volte para as estatísticas que descrevem os botões nos uniformes dos sol-dados, ou liste os nomes botânicos das árvores nas alamedas onde caíram os insurgentes. As impres-sões que importam, como aparecem, por exemplo,
no Guerra e Paz de Tolstói (seus próprios medos, esperanças, etc), para ele são difíceis de admitir: e, assim, ele busca as impressões de segundo grau que são engraçadas demais para pôr em palavras. E, novamente, ninguém ousa rir.
A partir daí, o progresso científico no campo social depende do poder regulador do humor. O humor previne os métodos errados simplesmente ao ridicularizá-los. Le ridicule tue. E, assim como os químicos precisam de gás hilariante, nós preci-samos, para excluir as pretensões do pensamento impassível, uma forte dose de humor. Se pudés-semos colocar um sorriso no trono da sociedade, a cicatriz de guerra que produziu este volume final-mente desapareceria.
A minha geração sobreviveu à decadência anterior à guerra, à matança na guerra, à anarquia no pós--guerra, e a revoluções, i.e., à guerra civil. Hoje em dia, antes de qualquer pessoa despertar para a vida consciente neste estreito mundo, o desemprego, ou o ataque aéreo, ou as revoluções de classe, ou a falta de vitalidade, ou a falta de integração, pode ter jogado o dado do seu destino e rotulado-o para sempre. Nós diariamente emergimos da morte social por um milagre. Assim, não nos importamos mais com a metafísica cartesiana que leva a mente do homem para além da sua morte física natural. Nós estamos buscando por uma sabedoria social que leve para além dos fatos “nômicos” brutais da economia e das monstruosidades do vulcão social.
Como um sobrevivente, o homem sorri ao per-ceber por quão pouco ele escapou. Esse sorriso, desconhecido para o idealista dogmático ou o materialista científico, contorce o rosto, porque um ser humano sobreviveu ao perigo e, portanto, sabe o que é que importa. O humor ilumina o ines-sencial. Nossas ciências modernas, por outro lado, morrem pelos excessos de carga de coisas ines-senciais que são diariamente despejadas sobre o cérebro do aluno. Na sociedade moderna, prevalece a idéia de que a ciência está aumentando em gran-des quantidades. Eles acrescentam, e acrescentam, e acrescentam às montanhas do conhecimento. O homem que sobrevive começa, e começa, e começa. Pois ele está recuperando seus poderes mentais depois de uma catástrofe social. E ele olha o florescer de uma flor com mais surpresa e pra-zer aos setenta do que quando era uma criança.

21
OU
TUB
RO
20
13
O sobrevivente em nós, embora possa perder em curiosidade, ganha em assombro. A “metanômica” da sociedade humana são sinais da surpresa que o homem sobrevive. Para além, isto é, “meta”, do “nômico”, as brutalidades mecânicas demais do caos social, surge a “metanômica”. Ela constitui o alegre conhecimento que Nietzsche foi o pri-meiro a saudar como “gayza scienza”, a jubilosa ciência. Os resultados da “metanômica” formam o quadro para as exultações de alegria da vida; eles permitem que a vida seja ressuscitada e revitali-zada sempre que ela tiver exaurido a si mesma. Os resultados da “jubilosa ciência” não neutralizam a vida, e sim protegem sua exuberância. Eles unem, num mesmo sorriso, os sobreviventes e os recém--nascidos. Assim, a “metanômica” tem seu lugar definitivo na autobiografia da raça. Sempre que os sobreviventes tiverem experimentado a morte, eles serão capazes de insuflar seu humor adqui-rido com carinho na vigorosa alegria da juventude. Jamais a humanidade adquiriu um conhecimento comum acumulando-o em bibliotecas. Porém, diga-me que você quer experimentar sua vida como uma frase na autobiografia da humanidade, diga--me até onde você divide a responsabilidade com os tolos do passado, e quando você tiver me mos-trado em que medida você é capaz da identificação com o resto da humanidade, eu saberei então se o seu conhecimento é um conhecimento de sobrevi-vência, uma “metanômica” da sociedade como um todo, ou meramente a sua metafísica privada.
A minha geração sobreviveu à morte social em todas as suas variantes, e eu sobrevivi a décadas de estudo e ensino nas ciências escolásticas e aca-dêmicas. Todos os seus veneráveis acadêmicos confundiram-me com o tipo intelectual que eles mais desprezavam. O ateu queria que eu desapa-recesse na divindade, os teólogos na sociologia, os sociólogos na história, os historiadores no jorna-lismo, os jornalistas na metafísica, os filósofos na lei, e – preciso dizer? – os advogados no inferno, o qual, como um membro de nosso mundo pre-sente, eu nunca havia deixado. Pois ninguém deixa o inferno por sua conta própria sem ficar louco. A sociedade é um inferno enquanto o homem ou a mulher estiver só. E a alma humana morre por consumo no inferno da catástrofe social, a menos que ela junte forças com as outras. Na comunidade que o senso comum reconstrói, depois do terre-moto, sobre as cinzas na encosta do Vesúvio, o
vinho tinto da vida tem um sabor melhor do que em qualquer outro lugar. E um homem escreve um livro, mesmo quando estende a mão, para que possa descobrir que ele não está sozinho na sobre-vivência da humanidade.
Tradução por Bernardo Campella

22
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
Copleston sobre a história da filosofiaTradução das partes I, II e III da Introdução de “History of Philosophy, Vol. I” (1946), de Frederick Copleston, S.J.
I. Por que estudar a História da Filosofia?
Muito dificilmente chamaríamos de “culto” alguém sem conhecimento nenhum de história; todos reconhe-cemos que um homem deve saber
algo da história de seu próprio país, seu desen-volvimento político, social e econômico, suas realizações literárias e artísticas – de preferên-cia inserido no panorama mais amplo da história européia e, até certo ponto, mundial. Mas, se deve-mos esperar que um inglês culto e instruído possua algum conhecimento sobre Alfredo o Grande e Elizabeth, sobre Cromwell e Marlborough e Nelson, sobre a invasão dos normandos, sobre a Reforma e a Revolução Industrial, parece claro que ele também deveria no mínimo saber algo sobre Roger Bacon e Duns Scotus, sobre Francis Bacon e Hobbes, sobre Locke, Berkeley e Hume, sobre J.S. Mill e Herbert Spencer. Além disso, se esperamos que um homem culto não seja totalmente ignorante sobre a Grécia e a Roma, se ele deveria se envergonhar ao ter de confessar nunca ter ouvido falar de Sófocles ou de Virgílio e não saber nada das origens da cultura européia, da mesma forma deveríamos esperar que ele soubesse algo de Platão e Aristóteles, dois dos maiores pensadores que o mundo já conheceu, os dois homens à frente da filosofia européia. Um
homem culto saberá um pouco a respeito de Dante, Shakespeare e Goethe, a respeito de São Francisco de Assis e Fra Angélico, a respeito de Frederico o Grande e Napoleão I: por que não se espera que ele saiba também algo sobre
Não foram só os grandes pintores e escultores que nos deixaram um legado e uma riqueza permanentes.
Sto. Agostinho e S. Tomás de Aquino, Descartes e Spinoza, Kant e Hegel? Seria absurdo sugerir que devemos nos informar a respeito dos grandes conquistadores e destruidores enquanto permene-cemos ignorantes dos grandes criadores, daqueles que realmente contribuíram para a nossa cultura européia. Mas não foram só os grandes pintores e escultores que nos deixaram um legado e uma riqueza permanentes: também os grandes pen-sadores, homens como Platão e Aristóteles, Sto. Agostinho e S. Tomás de Aquino, enriqueceram a Europa e sua cultura. Faz parte, portanto, de uma educação culta conhecer ao menos algo sobre o decurso da filosofia européia, pois nossos pensa-dores, assim como os nossos artistas e generais, é

23
OU
TUB
RO
20
13
que ajudaram a construir a nossa era, para o bem ou para o mal.
Ora, ninguém acharia que é uma perda de tempo ler as obras de Shakespeare ou contemplar as cria-ções de Michelangelo, pois elas possuem um valor intrínseco em si mesmas que não é diminuído pela quantidade de anos que se passou entre suas mortes e o nosso próprio tempo. Mas também não deveria ser considerado uma perda de tempo estu-dar o pensamento de Platão, ou Aristóteles, ou Sto. Agostinho, pois suas criações mentais permane-cem por si só como incríveis realizações do espírito humano. Outros artistas viveram e pintaram desde o tempo de Rubens, mas isso não diminui o valor do trabalho de Rubens; outros pensadores filosofa-ram desde o tempo de Platão, mas isso não destrói o interesse e a beleza de sua filosofia.
Mas se é desejável que todos os homens cultos conheçam algo da história do pensamento filo-sófico, até onde permitirem suas ocupações, sua orientação pessoal e a necessidade de especiali-zação, quanto mais não seria isso desejável para todos os que se declaram estudantes de filosofia? Refiro-me especialmente aos estudantes da filo-sofia escolástica, que a estudam como philosophia perennis. Eu não quero discutir se ela é ou não a phi-losophia perennis; no entanto, ela não caiu do céu, mas sim cresceu desde o passado; e se realmente queremos apreciar o trabalho de S. Tomás de Aquino, ou S. Boaventura, ou Duns Scotus, deve-mos conhecer algumas coisas a respeito de Platão e Aristóteles e S. Agostinho. Novamente, se há uma philosophia perennis, é de se esperar que alguns dos seus princípios podem operar inclusive nas mentes dos filósofos dos tempos modernos, que à pri-meira vista talvez pareçam distantes de S. Tomás de Aquino. E mesmo que não fosse assim, seria instrutivo observar quais resultados se seguem de premissas falsas e princípios falhos. Nem se pode negar que deve ser extremamente rechaçada a prática de condenar pensadores cuja posição e significado não tenham sido compreendidos ou
observados em seu verdadeiro ambiente histórico, enquanto deve-se ter em mente também que a aplicação de princípios verdadeiros a todas as esfe-ras da filosofia certamente não foi algo que acabou na Idade Média, e é bem possível que tenhamos algo a aprender dos pensadores modernos, p. ex., no campo da teoria estética ou da filosofia natural.
2. Pode-se objetar que os vários sistemas filosófi-cos do passado sejam meras relíquias antigas; que a história da filosofia consista de “sistemas refu-tados e espiritualmente mortos, uma vez que cada um matou e enterrou um ao outro”.1 Não declarou Kant que a Metafísica trata de sempre “manter a mente humana em suspensão com esperanças que nunca desaparecem e que, no entanto, nunca são cumpridas”, que, “enquanto cada uma das outras ciências avança continuamente”, na Metafísica os homens “circundam perpetuamente o mesmo ponto, sem dar um único passo adiante”?2 O pla-tonismo, o aristotelismo, o escolasticismo, o cartesianismo, o kantismo, o hegelianismo – todos tiveram seus períodos de popularidade e todos foram desafiados: o pensamento europeu pode ser “representado como um entulho de sistemas metafísicos, abandonados e irreconciliados”.3 Por que estudar a tralha antiquada do aposento da história?
Ora, mesmo que todas as filosofias do pas-sado tivessem não só desafiado (o que é óbvio) como também refutado (o que de modo algum é a mesma coisa), ainda segue verdadeiro o fato de que “erros são sempre instrutivos”,4 assumindo, é claro, que a filosofia seja uma ciência possível e não uma enganação em si mesma. Para tomar um exemplo da filosofia medieval, as conclusões do realismo exagerado por um lado e as do nomina-lismo por outro indicam que a solução do problema dos universais deve ser buscada num meio-termo entre esses dois extremos. A história do problema serve, assim, como uma prova experimental da tese aprendida nas escolas. Novamente, o fato de que o idealismo absoluto tenha se visto incapaz
1. Hegel, Hist. Phil., I, p. 17.
2. Proleg., p. 2 (Mahafty).
3. A. N. Whitehead, Process and Reality, p. 18. Não é preciso dizer que a atitude anti-histórica não é a própria atitude do professor Whitehead.
4. N. Hartmann, Ethics, I, p. 119.
___________________________________________________

24
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
de fornecer qualquer explicação adequada sobre os eus finitos deveria ser suficiente para impedir qualquer um de embarcar no caminho monístico. A insistência na filosofia moderna sobre a teo-ria do conhecimento e da relação sujeito-objeto deveria, malgrado todas as extravagâncias às quais tem levado, esclarecer de alguma maneira que o sujeito não pode ser reduzido ao objeto mais do que o objeto ao sujeito, enquanto o marxismo, apesar dos seus erros fundamentais, nos ensina a não negligenciar a influência das técnicas e da vida econômica do homem sobre as esferas mais altas da cultura humana. Especialmente para quem não começa aprendendo um determinado sistema de filosofia, mas pretende filosofar ab ovo, por assim dizer, o estudo da história da filosofia é indispen-sável, ou ele correrá o risco de percorrer becos sem saída e repetir os erros de seus predecessores, dos quais um estudo sério do pensamento do passado poderá salvá-lo.
A história da filosofia certamente não é um mero amontoado de opiniões, uma narrativa de itens de pensamento isolados sem conexão entre si.
3. É verdade que um estudo da história da filosofia pode tender a induzir um modo cético de pensar, mas devemos lembrar que o fato de haver uma sucessão de sistemas não prova que qualquer filo-sofia esteja errada. Se X desafia a posição de Y e a abandona, isso não prova por si mesmo que a posição Y seja indefensável, já que X pode tê-la abandonado sem base suficiente ou ter adotado falsas premissas, cujo desenvolvimento envolveu um abandono da filosofia de Y. O mundo viu muitas religiões – budismo, hinduísmo, zoroatrismo, cris-tianismo, maometismo, etc., mas isso não prova que o cristianismo não seja a verdadeira religião; para provar isso, seria necessário uma refutação completa da apologética cristã. Mas, assim como é absurdo falar como se a existência de uma varie-dade de religiões ipso facto invalidasse a afirmação
de qualquer religião de ser a verdadeira, também é absurdo falar como se a sucessão de filosofias ipso facto demonstrasse que não há filosofia ver-dadeira e que não pode haver filosofia verdadeira. (Fazemos esta observação, é claro, sem querer implicar que não haja verdade ou valor em qualquer outra religião que não seja o cristianismo. Além disso, há uma grande diferença entre a religião verdadeira (revelada) e a filosofia verdadeira, pois enquanto aquela, na medida em que é revelada, é necessariamente verdadeira em sua totalidade, em tudo o que é revelado, a verdadeira filosofia pode ser verdadeira em suas linhas e princípios gerais sem atingir em momento algum a completude. A filosofia, que é o trabalho do espírito humano e não a revelação de Deus, cresce e se desenvolve; panoramas inéditos podem ser abertos por novas linhas de abordagem ou aplicação sobre novos pro-blemas, fatos recém descobertos, novas situações, etc. O termo “filosofia verdadeira” ou philosophia perennis não deveria ser entendido como deno-tando um corpo estático e completo de princípios e aplicações, não suscetíveis de desenvolvimento ou modificação.)
II. A natureza da História da Filosofia
1. A história da filosofia certamente não é um mero amontoado de opiniões, uma narrativa de itens de pensamento isolados sem conexão entre si. Se a história da filosofia for tratada “apenas como a enumeração de várias opiniões”, e se todas essas opiniões forem consideradas de igual valor ou des-valor, ela se torna então “inútil curiosidade ou, quando muito, investigação erudita”.5 Há conti-nuidade e conexão, ação e reação, tese e antítese, e nenhuma filosofia pode ser realmente entendida na sua totalidade se não for vista em seu lugar histórico e à luz de sua conexão com outros sis-temas. Como podemos realmente entender o que Platão pretendeu ou o que o induziu a dizer o que ele disse, se não soubermos algo do pensamento de Heráclito, Parmênides, dos pitagóricos? Como podemos entender por que Kant adotou uma posi-ção aparentemente extraordinária em relação ao espaço, tempo e às categorias, a menos que saiba-mos algo do empiricismo britânico e percebamos
5. Hegel, Hist. Phil., I, p. 12.
___________________________________________________

25
OU
TUB
RO
20
13
o efeito das conclusões céticas de Hume sobre a mente de Kant?
2. Mas se a história da filosofia não é uma mera coleção de opiniões isoladas, ela não pode ser tratada como um progresso contínuo ou mesmo uma ascensão em espiral. É verdade que pode-mos encontrar exemplos plausíveis no decurso da especulação filosófica da tríade hegeliana de tese, antítese e síntese, mas dificilmente é tarefa de um historiador científico adotar um esquema a priori e então encaixar os fatos neste esquema. Hegel supunha que a sucessão de sistemas filosóficos “representa a sucessão necessária de estágios no desenvolvimento” da filosofia, mas isso só pode ser assim se o pensamento filosófico do homem for o próprio pensar do “espírito do mundo”. É verdade, sem dúvidas, que, na prática, qual-quer pensador está limitado quanto à direção que tomará o seu pensamento, limitado pelos sistemas imediatamente precedentes e contemporâneos (limitado, também, podemos acrescentar, por seu temperamento pessoal, sua educação, pela situa-ção histórica e social, etc.); não obstante, ele não é determinado a escolher nenhuma premissa ou princípio particular, nem a reagir de uma forma particular à filosofia precedente. Fichte acreditava que o seu sistema seguia logicamente o de Kant, e certamente há uma conexão lógica direta, como está ciente todo estudante da filosofia moderna; mas Fichte não estava determinado a desenvolver a filosofia de Kant da forma particular em que o fez. O filósofo que sucedeu a Kant poderia ter esco-lhido reexaminar as premissas de Kant e negar que as conclusões que Kant aceitara de Hume fossem conclusões verdadeiras; ele poderia ter-se vol-tado para outros princípios ou excogitado novos princípios por si mesmo. Sem dúvida existe uma seqüência lógica na história da filosofia, mas não uma seqüência necessária no sentido estrito.
Não podemos, portanto, concordar com Hegel quando ele diz que “a filosofia final de um período é o resultado do seu desenvolvimento, e é a verdade
em sua mais alta forma que a auto-consciência do espírito adquire de si mesma”.6 Muito depende, é claro, de como você divide os “períodos” e o que você prefere considerar como a filosofia final de um período qualquer (e aqui há uma grande oportunidade para a escolha arbitrária, segundo a opinião e os desejos pré-concebidos); mas que garantia há (a menos que primeiro adotemos a posição hegeliana integral) de que a filosofia final de qualquer período represente o mais elevado desenvolvimento do pensamento até então atin-gido? Se por um lado podemos legitimamente falar de um período medieval da filosofia, e se o ockha-mismo pode ser tratado como a principal filosofia ao final daquele período, por outro lado a filosofia de Ockham certamente pode não ser tratada como a realização suprema da filosofia medieval. A filo-sofia medieval, como mostrou o professor Gilson7, representa uma linha curva ao invés de uma linha reta. E alguém pode pertinentemente perguntar: que filosofia do presente representa a síntese de todas as filosofias precedentes?
3. A história da filosofia mostra a busca do homem pela Verdade através da razão discursiva. Um neo-tomista, ao desenvolver as palavras de São Tomás, Omnia cognoscentia cognoscunt implicite Deum in quolibet cognitio8, sustentava que o juízo sempre aponta para além de si mesmo, sempre contém uma referência implícita à Verdade Absoluta, ao Ser Absoluto9 (lembramos aqui de F. H. Bradley, embora o termo “Absoluto” não tenha, é claro, o mesmo sentido nos dois casos). De qualquer forma, podemos dizer que a busca pela verdade é no fim das contas a busca pela Verdade Absoluta, Deus, e mesmo os sistemas filosóficos que pare-cem refutar essa afirmação, p. ex. o Materialismo Histórico, são exemplos dela, pois estão sempre buscando, mesmo que inconscientemente, mesmo que não reconheçam, o fato, o Fundamento último, o supremo Real. Mesmo que a especulação intelec-tual tenha às vezes levado a doutrinas bizarras e a conclusões monstruosas, não podemos senão ter uma certa simpatia e interesse pelo esforço
6. Hist. Phil., III, p. 552.
7. Cf. The Unity of Philosophical Experience.
8. De Verit., 22, 2, ad I.
9. J. Maréchal, S.J., Le Point de Départ de la Metaphysique: Cahier V.
___________________________________________________

26
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
do intelecto humano em atingir a Verdade. Kant, que negava que a Metafísica no sentido tradicional fosse ou pudesse ser uma ciência, não obstante, concedia que não podemos ficar indiferentes aos objetos com os quais a Metafísica professa lidar: Deus, a alma, a liberdade;10 e é possível acrescen-tar que não podemos ficar indiferentes à busca do intelecto humano pela Verdade e o Bem.
A filosofia perene após o fim do período medieval não se desenvolve meramente junto ou à parte da filosofia “moderna”, mas se desenvolve também na e através da filosofia moderna.
A facilidade com que se cometem erros, o fato de que o temperamento pessoal, a educação e outras circunstâncias aparentemente “fortuitas” podem com tanta freqüência levar o pensador a um beco sem saída intelectual, o fato de que não somos inteligências puras, mas que os processos das nossas mentes podem freqüentemente ser influenciados por fatores extrínsecos, sem dúvida mostra a necessidade de Revelação religiosa; mas isso não deve nos fazer desesperar por completo da especulação humana nem desprezar as tentativas bona-fide dos pensadores do passado em atingir a Verdade.
4. O presente escritor adere ao ponto de vista tomista de que há uma philosophia perennis e de que esta philosophia perennis é o tomismo em sentido amplo. Mas gostaríamos de fazer duas observaçõs sobre o assunto: (a) Dizer que o sistema tomista é a filosofia perene não significa que o sistema esteja fechado a qualquer época histórica e incapaz de um maior desenvolvimento em qualquer direção. (b) A filosofia perene após o fim do período medieval não se desenvolve meramente junto ou à parte da filosofia “moderna”, mas se desenvolve também
na e através da filosofia moderna. Não estou suge-rindo que a filosofia de Spinoza ou Hegel, por exemplo, possa ser compreendida sob o termo “tomismo”; mas que, quando os filósofos, mesmo que de forma alguma chamassem-se a si mes-mos de “escolásticos”, chegam, pelo emprego de princípios verdadeiros, a conclusões válidas, estas conclusões devem ser vistas como fazendo parte da filosofia perene.
Por exemplo, São Tomás de Aquino certamente faz algumas afirmações a respeito do Estado, e não temos tendência alguma a questionar os seus princípios; mas seria absurdo esperar uma filo-sofia do Estado moderno desenvolvida no século XIII, e do ponto de vista prático é difícil ver como uma filosofia do Estado desenvolvida e articulada sobre princípios escolásticos poderia ser elaborada em concreto até que o Estado moderno tivesse emergido e até que tivessem sido mostradas as ati-tudes modernas em relação ao Estado. Só quando já tivermos experiência do Estado liberal e do Estado totalitário e das teorias correspondentes do Estado é que poderemos perceber todas as impli-cações contidas no pouco que São Tomás diz sobre o Estado e desenvolver uma filosofia política esco-lástica aplicável ao Estado moderno, que conterá expressamente tudo que há de bom contido nas outras teorias, enquanto ao mesmo tempo renun-ciará os erros. Veremos que a filosofia de Estado resultante, quando observada no fato concreto, não é simplesmente um desenvolvimento do princípio escolástico em isolamento absoluto da situação histórica real e das teorias intermediárias, mas um desenvolvimento desses princípios à luz da situ-ação histórica, um desenvolvimento conquistado nas teorias do Estado opostas e por meio delas. Se esse ponto de vista for adotado, seremos capazes de sustentar a idéia de uma filosofia perene sem nos comprometer, por um lado, com uma pers-pectiva muito estreita, onde a filosofia perene seja confinada a um determinado século, ou, por outro lado, com uma visão hegeliana de filosofia, que necessariamente implica (embora o próprio Hegel pareça – inconsistentemente – ter pensado de outra forma) que a Verdade nunca é atingida em um dado momento.
10. Pref. à 1ª Ed. da Crítica da Razão Pura.
___________________________________________________

27
OU
TUB
RO
20
13
III. Como Estudar a História da Filosofia
1. O primeiro ponto a ser destacado é a necessidade de ver todo sistema filosófico em seu ambiente e conexões históricas. Isso já foi mencionado e não exige maior elaboração: deveria ser óbvio que só podemos captar adequadamente o estado mental de um determinado filósofo e a raison d’étre de sua filosofia se tivermos antes apreendido o seu point de départ histórico. Já demos o exemplo de Kant; podemos entender o seu estado mental quando ele desenvolveu a sua teoria do a priori somente se o virmos em sua situação histórica vis-à-vis a filosofia crítica de Hume, a aparente falência do racionalismo continental e a aparente certeza da matemática e da física newtonianas. Da mesma forma, somos mais capazes de entender a filo-sofia biológica de Henri Bergson se a virmos, por exemplo, em sua relação com as teorias mecanicis-tas precedentes e com o “espiritualismo” francês anterior.
Temos de nos esforçar em nos colocar no lugar do filósofo, em tentar ver os seus pensamentos desde dentro. 2. Para um estudo aproveitável da história da filo-sofia há também a necessidade de uma certa “simpatia”, quase que uma abordagem psicológica. É desejável que o historiador saiba algo do filósofo enquanto um homem (isto não é possível no caso de todos os filósofos, é claro), já que isso irá ajudá-lo a sentir-se dentro do sistema em questão, a vê-lo, por assim dizer, desde dentro, e a captar o seu sabor e características peculiares. Temos de nos esforçar em nos colocar no lugar do filósofo, em tentar ver os seus pensamentos desde dentro. Ademais, essa simpatia ou apreensão imaginativa é essencial para o filósofo escolástico que deseja entender a filoso-fia moderna. Se um homem, por exemplo, possui a experiência da fé católica, os sistemas modernos, ou pelo menos alguns deles, facilmente soam-lhe como meras monstruosidades bizarras indignas de uma atenção séria, mas, se ele conseguir, o máximo que puder (sem, é claro, render seus próprios princípios) ver os sistemas desde dentro, terá uma chance muito maior de compreender o que o filósofo quis dizer.
Porém, não devemos nos preocupar tanto com a psicologia do filósofo a ponto de descartar a ver-dade ou a falsidade das suas idéias tomadas em si mesmas, ou a conexão lógica do seu sistema com o pensamento precedente. Um psicologista pode com justiça limitar-se ao primeiro ponto de vista, mas não um historiador da filosofia. Por exemplo, uma abordagem puramente psicológica pode nos levar a supor que o sistema de Arthur Schopenhauer foi a criação de um homem amargo, azedo e desapon-tado, que ao mesmo tempo possuía poder literário, imaginação estética e perspicácia, e nada mais; como se sua filosofia fosse simplesmente a mani-festação de certos estados psicológicos. Mas esse ponto de vista deixaria de fora da explicação o fato de que o seu sistema voluntarista pessimista é em grande parte uma reação ao racionalismo otimista hegeliano, e também deixaria de fora o fato de que a teoria estética de Schopenhauer pode ter um valor por si própria, independente do tipo de homem que a propunha, e também negligenciaria todo o problema do mal e do sofrimento que é levantado pelo sistema de Schopenhauer, e que é um pro-blema muito real, fosse ou não fosse o próprio Schopenhauer um homem desapontado e desi-ludido. Da mesma forma, embora seja de grande auxílio para entender o pensamento de Friedrich Nietzsche conhecermos algo da história pessoal do homem, as suas idéias podem ser vistas em si mes-mas, à parte do homem que as pensou.
3. Abrir caminho no sistema de qualquer pen-sador, buscando exaustivamente entender não só as palavras e frases como elas são em si, mas também a tonalidade de sentido que o autor pre-tendeu transmitir (desde que isso seja viável), para ver os detalhes do sistema em sua relação com o todo, captar completamente a sua gênese e as suas implicações, isto tudo não é obra de pouco fôlego. É simplesmente natural, então, que a especialização no campo da história da filosofia deva ser a regra geral, como é nos campos das várias ciências. Um conhecimento especialista da filosofia de Platão, por exemplo, exige, além de um conhecimento completo da língua e da história gregas, um conhe-cimento da matemática grega, da religião grega, da ciência grega, etc. O especialista, portanto, exige um grande aparato de erudição; mas é essencial, se ele pretende ser um verdadeiro historiador da filo-sofia, que não se deixe sobrecarregar tanto por seus recursos de erudicação e minúcias do estudo, ao

28
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
ponto de falhar em penetrar no espírito da filosofia em questão e falhar em torná-lo vivo novamente em seus escritos ou palestras. A erudição é indis-pensável, mas não é de forma alguma suficiente.
O fato de que uma vida inteira possa ser devotada ao estudo de um grande pensador e ainda deixe muito para ser feito quer dizer que qualquer um que seja tão ousado em empreender a composição de uma his-tória contínua da filosofia dificilmente pode esperar produzir uma obra que oferecerá qualquer coisa de muito valiosa aos especialistas. O autor da presente obra está bem consciente desse fato, e, como já disse no prefácio, não está escrevendo para especialistas, mas para tornar útil a obra dos especialistas. Não há necessidade de repetir aqui as razões do autor para escrever esta obra. Mas ele gostaria de mencionar mais uma vez que se considerará bem recompen-sado por seu trabalho se puder contribuir um pouco não só para a instrução do tipo de estudante a quem a obra é dirigida em primeiro lugar, mas também para a expansão do seu panorama, para a aquisição de um melhor entendimento e simpatia para com o esforço intelectual da humanidade, e, é claro, para um domínio mais firme e profundo dos princípios da verdadeira filosofia.
Tradução por Renan Santos

29
OU
TUB
RO
20
13
Culpeper e os temperamentosIntrodução e tradução do penúltimo trecho de “Astrological Judgement of Diseases from the Decumbiture of the Sick”, (1655)
Nicholas Culpeper foi um astrólogo notável e uma personalidade interessante. Nascido em 18 de outubro de 1616, na Inglaterra, viveu numa época em que astrólogos estavam firmemente envolvidos nos conflitos da sociedade, sem a afetação de superioridade angélica (nem a irrelevância prática) que parece ser a norma entre seus colegas do presente. Ele trabalhou como médico, botânico e herbalista, chegando a atender 40 pacientes em um só dia. Escreveu várias obras de astrologia médica e medicina tradicional, com um objetivo claro: impedir o monopólio da classe médica no tratamento dos doentes; acima de tudo, garantir ao povo – que de forma geral, não lia em latim – acesso ao conhecimento médico em língua inglesa.
Seu humor cáustico não poupava nem médicos, nem astrólogos. Suas obras e sua personalidade lhe garantiram uma grande quantidade de inimigos e alguns admiradores, como os astrólogos William Lilly e John Gadbury (desafetos entre si, aliás). Seus adversários incluíam grande parte da classe médica da época, além do clero (suas obras de catalogação de plantas, não as astrológicas, eram condenadas nos sermões dominicais).
Um dos seus livros mais influentes é o Astrological Judgement of Diseases from the Decumbiture of the Sick (“Análise Astrológica das Doenças a partir da Decumbitura dos Doentes”1). A abrangência dos autores usados (Ibn Ezra, Noel Duret, Hipócrates, Hermes Trimegisto) não diminui a originalidade da obra, nem a torna menos divertida.
No trecho abaixo, no fim do livro, ele descreve a aparência e o comportamento das pessoas conforme seu temperamento. Infelizmente, esta não é uma passagem em que se possa perceber seu sarcasmo, mas há compensações.
A divisão das pessoas em quatro temperamentos (colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático) e suas misturas era um dos pressupostos básicos da medicina até
aquela época. Ele – e muitos outros médicos/astrólogos do seu tempo, seguindo uma tradição bastante antiga – tratava clientes com mapas de decumbitura (que hoje são bastante difíceis de serem usados, porque partem do princípio de que o astrólogo e o médico tratando do paciente, ajustando a medicação, etc., são a mesma pessoa ou estão trabalhando juntos) e mapas horários (que podem ser, e são usados ainda hoje em dia).
1. “Decumbitura” é um mapa astrológico aberto para o momento em que o doente cai de cama.
___________________________________________________

30
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
SINAIS INFALÍVEIS PARA DISCERNIR A COMPLEIÇÃO DE QUALQUER PESSOA2
[Coléricos]
O homem colérico, na maior parte das vezes, é pequeno e de baixa estatura; o que se dá (suponho) por motivo da escassez de vapores engendrados, ou porque a umidade radical pela qual é sustentada a virtude nutritiva e vegetativa é, pela operação do calor e da secura fortes, atraída para o centro, onde é parcialmente consumida; da mesma forma que o fogo (que é a natureza da cólera) atrai a umidade para si e a seca.
As superfícies e as partes extremas não se esten-dem no comprimento, nem se tornam grandes ou gordas, por causa da falta de umidade natural (assim como em pessoas idosas, nas quais a umi-dade radical se degradou), nem crescem mais; sua pele é áspera e quente ao toque, seu corpo peludo, sua cor está entre amarelo e vermelho, com um certo brilho de fogo; essas pessoas cedo apresentam barba, e seus cabelos são vermelhos ou castanho--avermelhados. Com relação às suas condições, eles são naturalmente sagazes, ousados, desa-vergonhados, furiosos, apressados, briguentos, irados, fraudulentos, resolutos, arrogantes, cora-josos, deselegantes, cruéis, astutos e inconstantes; de movimento leve, zombeteiros, escarnecedores, vivos e bajuladores; seus olhos, pequenos e fundos. A virtude de cocção neles é muito forte, de modo
que ele pode digerir mais do seu apetite exige; seu pulso é acelerado e forte, sua urina amarela e rala; com relação à sua digestão, eles normalmente sofrem de prisão de ventre; sonham com fogo, bri-gas e raiva, relâmpagos e aparições terríveis no ar, por causa dos vapores quentes e secos que sobem do estômago para a cabeça, que perturbam o cére-bro e a virtude imaginativa.
Sinais de um homem colérico/melancólico.
Homens coléricos/melancólicos possuem esta-tura maior do que os coléricos, porque neles o calor violento é mais desleixado e preguiçoso, de modo que são engendrados mais vapores e a umi-dade radical é menos destruída; no entanto, eles têm o corpo pequeno e magro por causa da secura, com a pele áspera e dura, moderadamente peludo e de temperatura moderada ao toque; sua cor é pálida, tendendo à cor do enxofre, pois há uma certa amarelidão; não criam barba tão rapidamente quanto os coléricos, e a cor de seu cabelo é ruiva ou castanha-clara. Com relação às condições ou inclinações naturais dessas pessoas, eles não são tão sagazes, ousados, furiosos, briguentos, fraudu-lentos, pródigos, resolutos e corajosos quanto os homens coléricos, nem tão deselegantes, incons-tantes, bajuladores, e desdenhosos quanto eles; no entanto, são desconfiados, irritáveis, avarentos
As doenças eram consideradas como manifestações de desequilíbrios humorais (excesso ou falta de um dos quatro humores relacionados aos quatro temperamentos); o médico-astrólogo determinava o excesso ou a falta (usando a astrologia e a observação do paciente, incluindo não só seus sintomas e aparência física, mas também suas fezes e, principalmente, sua urina) e tentava corrigir o desequilíbrio profundo. Se possível, tratava também dos sintomas.
É claro que, escrevendo do ponto de vista médico, e tendo como base a população da Inglaterra na época, Culpeper exagera e simplifica algumas coisas (e cai no erro comum de atribuir valor moral aos temperamentos,
com os sanguíneos no topo), mas mesmo assim vale a pena prestar atenção no que ele tinha a dizer.
A parte mais importante do texto não é a descrição em si (eu poderia dar inúmeros exemplos de exceções com relação a relação entre o temperamento e ser gordo ou magro, por exemplo), mas a ênfase em aspectos corporais, físicos. Temperamento não é humor no sentido corrente da palavra, nem personalidade.
Vamos, então, ouvir o amigo preferido dos renomados eruditos ingleses, Dr. Reason (Razão) e Dr. Experience (Experiência).
2. [Astrological Judgment from the Decumbiture of the Sick, Enlarged, Livro 2, página 143] Embora “compleição” e “temperamento”
não sejam sinônimos, Culpeper não é o primeiro autor a utilizar os termos como se fossem intercambiáveis. Compleição é a aparência; o
temperamento influencia a aparência, mas é mais básico e mais abrangente que ela.
___________________________________________________

31
OU
TUB
RO
20
13
e mais solitários, estudiosos e curiosos do que os coléricos, e retêm durante mais tempo sua raiva. A virtude da digestão nessas pessoas é moderada-mente forte, e seu pulso é mais fraco e mais rápido do que nas pessoas coléricas; sua urina é amarela e rala, e eles sonham com quedas de lugares altos, roubos, assassinatos, danos vindos do fogo, brigas, raiva e coisas assim.
Homens melancólicos possuem estatura mediana e raramente são muito altos.
Sinais de um homem melancólico/colérico
Homens melancólicos/coléricos são altos, porque o calor natural é fraco e, portanto, são engendra-dos muitos vapores, mas eles ainda são pequenos e magros de corpo, devido à secura; assim, sua pele é áspera e dura, e fria ao toque; eles possuem muito pouca pele no corpo e são imberbes, em razão do frio que interrompe a passagem pelos poros, que não recebem a matéria da qual o pelo é formado antes de sair. Eles também têm muito excesso de matéria no nariz; sua cor é pálida, um pouco escu-recida. Com relação às suas condições, são gentis, dados à sobriedade, solitários, estudiosos, inde-cisos, avaros, modestos, timoratos, teimosos, irritáveis, pensativos, constantes e verdadeiros em suas ações, de cogitação profunda e resolu-ção lenta, e esquecimento; seu cabelo é marrom e fino, sua digestão fraca e menor que seu apetite, o pulso fraco e lento, sua urina subcitrina e rala. Eles sonham com quedas de lugares altos, sonhos apavorantes e assuntos variados sem importância.
Sinais de homens melancólicos
Homens melancólicos possuem estatura mediana e raramente são muito altos, pois o excesso de frio retém a substância e não permite que ela se alargue no comprimento; embora a melancolia seja seca, eles são pequenos e magros de corpo, e a razão é (imagino eu) o excesso de frio, pelo qual é engen-drado muito excesso, o que, de alguma forma, acalma a secura, pois os homens melancólicos são cheios de fleuma e matéria reumática. Sua cor é pálida esmaecida e escura, sua pele é áspera e fria
ao toque, eles possuem pouco ou nenhum pelo no corpo e são longos, às vezes sem barba; a cor dos seus cabelos é escura. Com relação às suas condi-ções, são naturalmente gananciosos, amantes de si, amedrontados sem causa aparente, pusilânimes, solitários, cuidadosos, grosseiros, dificilmente estão alegres ou rindo, são resolutos, teimosos, ambiciosos, invejosos, irritáveis, obstinados em suas opiniões, de uma cogitação profunda, des-confiados, acabrunhados com pesares da mente e imaginação aterrorizantes (como se estivessem infestados de espíritos do mal) e são muito ranco-rosos, curiosos, melindrados, e ao mesmo tempo desleixados, esnobes e de comportamento majes-tático, e retêm sua raiva durante muito tempo; a virtude da cocção neles é muito fraca; no entanto, eles têm um apetite muito bom para sua carne. Sua urina é pálida e medianamente espessa. Eles sonham com coisas pavorosas, visões terríveis e escuridão.
Sinais de um homem melancólico sanguíneo
Homens melancólicos/sanguíneos são mais altos do que os melancólicos; pois, neles, o calor natural é moderado; portanto, os vapores e a umidade radical são gerados sem exageros. São, portanto, media-namente altos, carnudos e de corpo firme; sua cor é um vermelho escuro, sua pele não é nem dura nem áspera, mas moderada tanto no calor quanto na suavidade, nunca muito peludos. Eles desenvolvem barba por volta dos 21 anos de idade; com relação à sua condição, são mais liberais, ousados, alegres, menos teimosos e não tão pusilânimes, solitários e pensativos quanto os melancólicos, nem tão afli-gidos com imagens terríveis quanto eles; também são gentis, sóbrios, pacientes, verdadeiros, mise-ricordiosos e afáveis; para concluir, pois, como esta compleição é de qualidade moderada, ela apresenta condições benéficas, pois a virtude é a média entre dois extremos. Sua urina é da cor do açafrão, só que mais claro, e de substância média; seu pulso é de movimento moderado; eles têm sonhos agra-dáveis que muitas vezes correspondem à verdade; sua digestão é moderadamente forte.
Sinais de um homem sanguíneo/melancólico
Homens sanguíneos/melancólicos são de estatura média, com corpos bem compactos, com muitas veias e artérias; carnudos, mas não gordos; sua

32
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
pele é medianamente suave e quente ao tato; são um tanto peludos, e desenvolvem barba cedo; a cor de seus cabelos é castanho escuro, suas boche-chas vermelhas, ensombreadas com uma cor lútea. Suas condições são bastante parecidas com as de um homem sanguíneo, mas não são tão liberais, alegres, nem ousados, porque eles têm, por assim dizer, uma pitada da inclinação das pessoas melan-cólicas. Seus pulsos são fortes e cheios, a urina amarela e de substância média; eles sonham com covas fundas, poços e coisas assim; sua digestão é indiferente.
Sinais de um homem sanguíneo
Homens sanguíneos têm forma mediana, corpos bem compostos, com membros maiores e mais carnudos, mas não gordos; veias e artérias gran-des, pele suave; quente e úmido ao toque, corpo peludo, com barba precoce; sua cor é branca, mis-turada com vermelho nas bochechas; seu cabelo, na maioria das vezes, é marrom. Com relação à sua condição, são alegres, liberais, generosos, mise-ricordiosos, corteses, ousados na medida certa, verdadeiros, fiéis e de bom comportamento; coi-sas pequenas os fazem chorar; depois do choro, nenhum outro pesar permanece em seus corações, o que é o contrário do que ocorre com os homens melancólicos, pois estes não conseguem chorar, mesmo que seja em um assunto que os toquem de perto, mas a cogitação do assunto fica impressa em seus corações. O homem sanguíneo tem bom apetite e digestão rápida; sua urina é amarela e espessa, seu pulso forte; ele sonha com coisas ver-melhas e idéias agradáveis.
Sinais de um homem sanguíneo / fleumático
Homens sanguíneos/fleumáticos são mais altos que os sanguíneos, porque mais excessos são produzidos em seus corpos e porque são, em subs-tância, parecidos com os sanguíneos; seu cabelo é da cor do linho ou ruivo claro, sua cor é averme-lhada, mas não misturada como os sanguíneos. Com relação à sua condição, são menos liberais, mais tristes e menos ousados que os sanguíneos, além de menos peludos. Sua urina é subcitrina e de substância média, seu pulso moderado, com bom apetite e digestão indiferente. Eles sonham com voar pelo ar e com cair de alguma montanha, ou na água desde algum local alto, ou algo do tipo.
Sinais de um homem fleumático/sanguíneo
Homens fleumáticos/sanguíneos são de estatura mediana e um pouco gordos de corpo, com pele suave e macia e fria ao toque; seus corpos não são peludos, demoram a ter barba; seu cabelo é ama-relo claro ou cor de linho, liso e suave. Sua cor não é nem branca nem vermelha, mas na média entre ambos. Sua condição: nem muito alegres, nem muito tristes; nem liberais nem avaros. Nem muito ousados, nem muito medrosos, etc. A vir-tude da digestão, neles, é um pouco preguiçosa e menor que seu apetite; seu pulso é baixo e fraco; eles sonham com fábulas variadas.
Homens coléricos/fleumáticos sonham com batalhas, conflitos, raios e água quente.
Sinais de um homem fleumático
Homens fleumáticos são baixos, pois, embora mui-tos vapores e excessos sejam produzidos em seus corpos, no entanto, por causa do frio, a substância é restringida e impedida de se esticar no compri-mento; no entanto, a umidade se desenvolve na largura, tornando-se corpulentos e gordos. Suas veias e artérias são pequenas, seus corpos sem cabelo; suas barbas são ralas e seu cabelo é cor de linho. Sua cor é branca, a pele é suave e fria ao toque. Com relação à sua condição, são len-tos, pesados, preguiçosos, sonolentos, covardes, medrosos, avaros, amantes de si mesmos, lentos, envergonhados e sóbrios. Sua virtude da digestão e seu apetite são bastante fracos (pela falta do calor natural), seu pulso fraco e lento e sua urina pálida e espessa. Sonham com água, etc.
Sinais de um homem fleumático/colérico
Homens fleumáticos/coléricos são altos, não tão corpulentos ou gordos quanto os fleumáticos, mais peludos e com barbas mais precoces. Seu cabelo é de um ruivo claro, com alguma presença do amarelo; sua pele é moderada ao toque. Com relação à condi-ção, são mais ágeis, mais ousados e mais gentis que os fleumáticos e não tão sonolentos nem preguiço-sos quanto eles, mas mais alegres e de inteligência

33
OU
TUB
RO
20
13
mais ágil. Sua face, na maior parte dos casos, é cheia de sardas e sua cor é branca, escurecida por um tom amarelo; seu apetite e sua digestão são indiferentes; seu pulso é moderado e cheio, sua urina é subcitrina e de substância média. Eles sonham com nadar na água, com neve ou com chuva.
Sinais de um homem colérico/fleumático
Homens coléricos/fleumáticos têm estatura média, são firmes e de corpo forte, nem gordos nem magrelos, com grandes pernas, pele peluda e moderada ao toque. Seu cabelo é amarelado, da mesma forma que sua cor. Sua condição não é muito diferente da dos homens coléricos, mas eles não são tão furiosos nem ousados quanto eles; nem tão pródigos nem tão astutos, porque a fleuma arrefece em alguma medida o calor da cólera. Sua digestão é perfeita, seu pulso rápido e sua urina da cor do açafrão e rala. Sonham com batalhas, con-flitos, raios e água quente.
Tradução por Marcos Monteiro

34
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
O lugar da lógica no pensamento aristotélico, Éric WeilTradução do Capítulo II de “Essais et Conférences – Tome I” (1970)
A discussão chega na dialética. “No fundo, disse
Hegel, esse não é nada mais que o espírito de contra-
dição submetido a regras e formado pelo método, um
espírito que prova sua grandeza na distinção entre o
verdadeiro e o falso. — Se ao menos, interveio Goethe,
essa capacidade e essas artes do espírito não fossem
tão frequentemente mal empregadas e usadas para
tornar o verdadeiro falso, e o falso verdadeiro. — Isso
com certeza ocorre, respondeu Hegel, mas apenas com
os homens que têm o espírito doente.
— ECKERMANN, Conversações com Goethe, 18 de outubro de 1827
Em toda a obra de Aristóteles, tão rica em dificuldades para o intérprete, parece que os Tópicos levantam problemas particulares e particularmente perturba-
dores. O próprio Aristóteles não diz que a dialética, investigada por esses nove livros, opõem-se à argumentação científica? Por que então se estu-dou um assunto cujo interesse filosófico parece ser bem inferior ao dos Analíticos? Uma lógica do “provável”, do “plausível” – é assim que se traduz quase unanimemente ἔνδοξον – , que pode trazer apenas no máximo informações de ordem histó-rica, indícios sobre os princípios do pensamento aristotélico, o reflexo último de um procedi-mento que, com Aristóteles e graças ao trabalho de Aristóteles, desaparece para ceder lugar ao ensi-namento científico regulado com severidade pelas formas silogísticas e que segue com rigor a cor-rente da demonstração?
Além disso, os Tópicos passam facilmente como uma obra menor. Tal apreciação se justifica? Em todo caso, ela pressupõe que, do ponto de vista de Aristóteles, há uma diferença incontestável e deci-siva entre a dialética e a analítica. Incontestável de fato é: no entanto, talvez não seja decisiva quanto ao valor das duas disciplinas. Por isso, os Analíticos devem conter o verdadeiro método e os fundamen-tos últimos da ciência. Ora, esse não parece ser o
caso: não somente o Liceu sempre recusou-se a considerar a lógica (que é chamada de “lógica” a partir dos estóicos) como parte integrante da filo-sofia; o próprio Aristóteles, tanto nos Analíticos como em outros lugares de sua obra, não parece prestar-lhe uma particular importância, e vê nela uma simples preparação, um método de apresen-tação, ou um meio de verificação.

35
OU
TUB
RO
20
13
Com efeito, a substância individual é aquilo que recebe todas as determinações, mas o silogismo é incapaz de chegar até ela: e, se o universal é o único objeto do conhecimento, a lógica é impotente para provar a verdade da definição que capta esse uni-versal; ela trata, enfim, dos fundamentos últimos, dos princípios, que não são próprios do discurso, mas do νοῦς, o qual é essencialmente distinto do pensamento discursivo e infinitamente acima dele. Aristóteles também não hesita em decla-rar que não se devem levantar problemas lógicos quando se trata de uma questão metafísica: são questões cujo conhecimento deve-se ter adqui-rido anteriormente . E quando se tem de explicar o que, segundo Aristóteles, é o erro fundamental de Platão, a saber, a teoria das idéias, ele retorna his-toricamente à empreitada socrática, que buscava o conceito universal (καθολον) e as definições: é por-que Platão atribuiu uma importância exagerada ao que nós podemos chamar de domínio lógico que ele acabou separando os conceitos das coisas sensíveis . — Ademais, frequentemente observou-se que a analítica se serve sobretudo de exemplos mate-máticos, e que o ideal de ciência que ela descreve é o das matemáticas: teríamos direito de negli-genciar essa particularidade, a qual, no entanto, adquire grande peso se quisermos ter bem em conta as breves reservas feitas por Aristóteles em toda ocasião que diz respeito ao valor cognitivo das matemáticas?
Se é assim, como fica a superioridade da analítica sobre a dialética?Parece, então, que essa primeira pressuposição no mínimo não pode ser tomada como óbvia. É, pelo contrário, um segundo postulado que faz com que se interprete a analítica como uma ciência norma-tiva? Acaso é evidente que a teoria do silogismo fornece um código do pensamento correto? Código da correta apresentação, cânone da lição dogmá-tica, sem dúvida; mas mais um critério do trabalho feito do que a receita do trabalho a se fazer, um método destinado a descobrir os erros, não um procedimento para descobrir a verdade. A demons-tração toma seus princípios das ciências concretas, e também é delas que extrai seus assuntos e pro-blemas, bem como são elas ainda que determinam qual o rigor que pode ser exigido no tratamento de
tal questão . Mas, se é assim, como fica a superio-ridade da analítica sobre a dialética? A primeira se ocupa de teses verdadeiras, enquanto que a segunda estuda todas as afirmações “plausíveis”? Sem dúvida: mas isso acarretaria uma diferença essen-cial entre o caráter de uma e de outra? Ambas são igualmente formais, ambas aplicam uma técnica que não depende do conteúdo, ambas se servem do silogismo como seu instrumento principal: são elas, então, separáveis entre si no mesmo sentido em que a maioria dos comentadores modernos não só as separa, como as opõe?
As respostas sugeridas por essas perguntas são tais que não será sem proveito invocar o testemunho de um comentador antigo, de uma importância dificilmente contestada ou contestável. Eis o que escreve Alexandre de Afrodísias no prefácio de seu comentário aos Tópicos :
“Assim como as técnicas, na medida em que elas
são técnicas, não se distinguem entre si senão pela
diferença da matéria com a qual se ocupam e pela
maneira de seu emprego, do mesmo modo elas rece-
bem suas distinções, e como uma é a do carpinteiro,
outra a do pedreiro, e assim por diante, assim também
é com os silogismos [...] Os silogismos não se distin-
guem segundo sua forma [...] eles se diferem segundo
sua matéria”.
Nada nos textos aristotélicos contradiz essa inter-pretação, e na verdade todo o primeiro livro dos Tópicos a apóia.
É verdade que a filologia moderna vê nos Tópicos uma obra composta: especificamente os livros I e IX, que claramente têm por fim dar à teoria da dialética um lugar na totalidade dos escritos lógi-cos, são declarados tardios com relação aos outros livros por um conhecedor tão qualificado quanto H. Maier . É também verdade que o emprego do termo “silogismo” é raro no livro II até o VII. Ademais, Alexandre de Afrodísias (ou a nota de um outro autor que foi inserida em seu Comentário) nos transmite uma opinião antiga segundo a qual o pri-meiro livro deveria ter por título não “Tópicos”, e sim “Introdução aos Topoi” . Mas concordamos com tudo nessa tese: ela implica apenas que Aristóteles, após ter elaborado a teoria do silogismo e da demonstração, teria incluído um escrito anterior e o teria tratado como suficientemente importante

36
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
para refazê-lo e posicioná-lo relativamente às suas descobertas recentes .
Mas não há aí implícito no desprezo pelos Tópicos uma má compreensão de ordem filosófica, e não se distingue a teoria científica em si mesma da teo-ria não-científica como duas técnicas que, do ponto de vista de Aristóteles, são igualmente científicas, ainda que o assunto de uma seja a ciência (for-maliter) e o da outra o diálogo, científico ou não? A teoria analítica trata do raciocínio científico, a teoria da dialética volta-se para o raciocínio no diálogo, o qual, podendo ser ou não ser verdadeiro, não é necessariamente de acordo com as regras que se toma: mas em que uma diferença entre os obje-tos das investigações pode fundar uma diferença de validade entre as investigações mesmas? Se este fosse o caso, como explicar que Aristóteles haja consagrado os tratados que ele mesmo qualifica de científicos à moral, que não conhece precisão absoluta , à retórica, à poesia?
***
A verdadeira dificuldade, no entanto, longe de ser resolvida, não está nem ainda apresentada. Uma vez admitido o que decorre das reflexões preceden-tes, a saber, que os Tópicos devem ser considerados como um tratado científico da mesma forma que os Analíticos, os quais, mesmo que tivessem sido redi-gidos cedo na carreira de Aristóteles, formam, para o próprio Aristóteles, parte integrante de sua obra, que o valor desse trabalho não pode então ser posto em dúvida se ao menos o apreciarmos do ponto de vista do seu autor, permanece a questão de saber qual é concretamente seu valor.
Para responder, vejamos a teoria da demonstração científica (a qual, evidentemente, não temos a pre-tensão de analisar aqui, nem mesmo de captá-la em seu caráter essencial, mas observando que, no caso de nossa interpretação da função dos Tópicos não ser falsa, o sentido dos Analíticos em si será afetado).
A demonstração parte de princípios conhecidos por si mesmos, próprios à ciência em questão: há um silogismo quando, de certas coisas afirmadas, outras coisas resultam necessariamente .
Mas como encontrar essas “coisas afirmadas”,
esses “princípios”? Como encontrar, por exemplo, a definição que tem um papel tão importante na demonstração e no silogismo? Por silogismo ou por demonstração? Aristóteles explica detidamente no décimo livro dos Analíticos Posteriores que isso é impossível. Como então captar os princípios? Eles não são provados: são eles que fundam as provas ; também deve-se tomá-los na experiência para as ciências particulares, ou ainda, quando se tratam dos princípios últimos (ou primeiros), remete-se não mais ao discurso, mas à intelecção, à capta-ção imediata . Mas é isso realmente suficiente? Possuímos, então, uma indicação precisa que nos possibilita a distinçao entre o verdadeiro e o falso? A experiência não tem mais necessidade da legi-timação científica para ser reconhecida em sua função como fonte de princípios? E como saber se a designação de νοῦς é autêntica ou não?
Conhece-se a resposta de Aristóteles dada à segunda pergunta: a ciência de fato existe, e há então um fim à série recorrente, e o ἐπίστασθαι faz com que o espirito possa se deter (στῆναι) . Bastará então des-cobrir as verdades cuja negação tornaria o discurso indeterminado, isto é, interminável. Conhecemos também a resposta à primeira pergunta. Como o trabalho científico pode progredir, basta encontrar o assunto próprio à ciência a ser constituída, limitar o caráter genérico e designar as diferenças específi-cas no interior do campo assim descrito.
Podemos nos contentar com essas indicações? Elas bem nos dizem o que se deve fazer, mas permane-cem mudas a respeito de qual o caminho a seguir e o método a se aplicar. O que muito mais tarde se chamará de logica inventionis designa um problema, não somente do aristotelismo , mas também para o próprio Aristóteles. Os capítulos 27 a 30 do pri-meiro livro dos Analíticos Anteriores levantam a dificuldade (43 a 20ss): “Devemos agora descre-ver como podemos sempre obter silogismos para uma dada questão, e de que forma podemos assu-mir os princípios acerca de cada questão, pois talvez não basta só considerar a gênese dos silo-gismos, como também ser capaz de formá-los”. Precisamos então buscar os elementos da defini-ção, os atributos essenciais, o gênero e a espécie, a compossibilidade ou a incompatibilidade de atri-butos, as consequências e os pressupostos contidos nos termos, o essencial e o inessencial com relação ao assunto. Mas isso ainda não é, propriamente

37
OU
TUB
RO
20
13
falando, um método, é só a descrição – e Aristóteles o diz: “Mostramos de uma maneira geral como se devem escolher as premissas. Abordamos isso com precisão e de maneira elaborada em nosso tratado sobre a dialética.”
Os Tópicos constituem o complemente essencial dos Analíticos, complemento sem o qual silogismo algum poderia ser formado concretamente.
O tratado sobre a dialética onde se deve encon-trar esse método são os Tópicos – disso nunca se duvidou. E, de repente, obtivemos uma informa-ção decisiva sobre a função desse tratado: ele deve conter a logica inventionis que era necessária, e contê-la sob uma forma inteiramente elaborada. Ele deve conter um repertório de lugares nos quais encontramos os argumentos pertinentes à desco-berta de premissas úteis para a construção de um silogismo ou para a destruição crítica de um silo-gismo proposto, os lugares indicados para o ataque ou a defesa, os esquemas completamente gerais e formais, aplicáveis a qualquer questão, sem tomar em consideração as diferenças genéricas ou espe-cíficas que separam os objetos tratados.
Os livros II ao VII formam como que um mapa detalhado desses lugares. Mas a obra contém, além disso, reflexões fundamentais sobre o que se chamará mais tarde de predicáveis, os pontos de vista (topoi) gerais válidos para todo juízo, e que diferem das categorias, que são relativas às subs-tâncias e ao que é enunciado delas. Nós buscamos do lado da definição, do predicado essencial e pró-prio, da espécie e do gênero, do acidente – eis o que ensinam os Tópicos –, asseguramo-nos de que a identidade enunciada permanece uma identidade após o emprego de todos os critérios tópicos, que a expressão empregada está correta e que, sobre-tudo, ela não esconde um sentido duplo, uma sinonímia : é assim que, depois de fazer passar a tese por todos os lugares dialéticos, nós podemos ir adiante até os problemas do conhecimento real.
Não temos a intenção de entrar nos detalhes,
interessantes em vários sentidos, desses livros II a VII dos Tópicos, que contêm esse arsenal de armas dialéticas. O que nos interessa é outra coisa, a saber, o fato de que, visto sob esse ângulo, os Tópicos não constituem, como frequentemente se disse, uma forma “primitiva” ou “inferior” da lógica aristotélica, mas são, ao contrário, ao mesmo tempo o começo da reflexão analítica e o termo ao qual essa reflexão é obrigada a levar se pretende render seus frutos. Sem a tópica, não há a matéria do silogismo: tomado assim, os Tópicos são – filosoficamente – anteriores aos Analíticos; sem conhecimentos tópicos, não há utilidade alguma no silogismo: e, nesse sentido, os Tópicos cons-tituem o complemente essencial dos Analíticos, complemento sem o qual silogismo algum poderia ser formado concretamente. Em suma, os Tópicos constituem a reflexão sobre o discurso em geral, no interior do qual se distingue a reflexão sobre o discurso científico no sentido estrito do termo .
Assim, o que nós adiantamos mais acima agora vemos confirmado. No entanto, essa posição está tão distante das posições tradicionais – segundo as quais os Tópicos aparecem como a parte menos importante, e não a mais importante de todo o Órganon –, que será útil fornecer algumas provas suplementares, nem que seja para mostrar que nossa concepção dos Tópicos (e da ciência tópica) está de acordo com as afirmações e a prática do Estagirita.
Sobre a prática, nós podemos passar rapidamente. Pois sempre se notou que os escritos científi-cos de Aristóteles são extremamente pobres em silogismos formais, tão pobres que muitos dos comentadores montaram em suas paráfrases os raciocínios formalmente corretos que o mestre não se preocupara em fornecer. Por outro lado, é um traço marcante que, nessas mesmas obras, Aristóteles começa por uma história do problema para o qual ele deseja se voltar. Mas o que é essa doxografia tão característica do Liceu, senão a aplicação das regras da crítica às premissas histo-ricamente propostas? Ela é, propriamente falando, o emprego da técnica tópica em vista de uma investigação sobre a verdade das opiniões dos pre-decessores, sobre a validade das teses correntes. Em oposição ao moderno historiador da filosofia, Aristóteles jamais investigava o que essas teses significavam para seus antecessores, e sim se essas

38
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
doutrinas eram ou não verdadeiras. E ele não fazia isso para mostrar sua própria superioridade ou o caráter ultrapassado dessas teorias; ele fazia isso porque, segundo ele, não havia outro princípio de investigação; todo ensinamento, toda ciência dis-cursiva nasce de conhecimentos pré-existentes .
O método realmente empregado por Aristóteles é então aquele que descrevem os Tópicos, se tomar-mos como método o único sentido que ele pode ter em filosofia, de procedimento da descoberta dos problemas – não, das soluções –, problemas colocados pelo filósofo na e através de sua vida humana. Esta é a prática de Aristóteles, e é o que nos diz seu ensinamento a respeito do método: nada poderia ser mais explícito a esse respeito que o final dos Tópicos.
O livro IX, citado com o título Das refutações sofís-ticas, termina por uma lição na qual Aristóteles se expressa, com um orgulho e uma arrogância que não se vêem em nenhum outro lugar em suas obras, sobre a importância e originalidade de suas investi-gações no domínio da dialética. “Nós nos havíamos proposto”, diz ele, indicando com isso que essa conclusão se refere à totalidade da obra, “inventar uma possibilidade e oferecer a capacidade de for-mar silogismos sobre um assunto proposto a partir de teses aceitas e à nossa disposição”. Aí está essa técnica, completamente desenvolvida em todos seus detalhes e em todas suas partes essenciais. Ora, afirma, Aristóteles – e não vemos razão para duvidar –, enquanto todos os outros conhecimen-tos são formados pouco a pouco, por um insensível acréscimo a partir de começos insignificantes, neste próprio caso presente ele se viu obrigado a fornecer ao mesmo tempo os fundamentos e a construção: “Sobre essa investigação, não se pode dizer que ela havia sido em parte preparada, e em parte não; não havia nada”. Havia sim os rendi-mentos dos sofistas que trabalhavam por dinheiro; mas eles não transmitiam ao seus discípulos senão a arte de enganar, a aprender de cor, e coisas que só servem para surpreender. “ Eles imaginavam formar seus alunos fornecendo-lhes os resultados da técnica, sem lhes transmitir nenhuma ciência técnica”. Para a retórica, Aristóteles encontrou muitos indícios, mas no que concerne ao raciocí-nio silogístico, “não tínhamos nada para contar depois de ter investigado por muito tempo (empi-ricamente), com muita dificuldade e aplicação”.
Também lhe parece justo pedir aos seus ouvintes uma certa indulgência para com os possíveis erros de seu curso, e uma “enorme gratidão” para com as descobertas que ele expôs .
Por mais capaz que seja de verificar a coerência de um argumento, a analítica deve renunciar a discutir a verdade de suas premissas; ela é obrigada a pressupô-las.Se, na esteira de H. Maier, quisermos manter em face desse texto a tese que faz dos Tópicos uma obra de juventude, devemos compreender aqui o termo silogismo num sentido não técnico (ou num sentido restrito, como propõe Solmsen). Mas essa solução repousa com toda evidência sobre um cír-culo vicioso: para sustentar que o termo silogismo não possui aqui seu sentido preciso, em primeiro lugar se deveria assegurar que a obra foi redigida no começo da carreira de Aristóteles – e, para pro-var que foi o caso, deveria-se, por outro lado, saber que o emprego do termo aqui é mais amplo (ou mais restrito) do que em outros lugares. Não seria mais simples e mais salutar supor que os Tópicos são verdadeiramente o que Aristóteles disse a seu respeito: seu trabalho lógico mais original, mais útil, mais fundamental, dentro do qual o método dos Analíticos se distingue, como método particu-lar, do método geral, sem o qual aquele seria ao mesmo tempo incompreensível e inaplicável? É graças aos tópicos que se aprendem a encontrar os silogismos, que se podem prover argumentos, que se aprende o valor das teses pré-existentes de onde parte toda investigação, que se distinguem os riscos que o raciocínio corre, que se vê a impor-tância do raciocínio corretamente conduzido. É verdade que a analítica trata apenas do verdadeiro: mas, sem a ajuda da técnica tópica, ela é incapaz de encontrá-lo na multidão de teses contraditórias que em sua situação histórica espalham-se à sua frente. Sem dúvida, ela pode verificar a forma do raciocínio, ela pode indicar as condições formais exigidas para que uma conclusão seja correta: mas é, em última análise, para a tópica que as assinala, sem a qual ela não pode escolher seus pontos de

39
OU
TUB
RO
20
13
partida. Por mais capaz que seja de verificar a coe-rência de um argumento, a analítica deve renunciar a discutir a verdade de suas premissas; ela é obri-gada a pressupô-las.
Não é preciso dizer que a tópica, sobretudo ela, não contém como critério último a verdade. Ela tam-bém é somente formal, no sentido em que aplica indistintamente seus processos a qualquer afir-mativa: a verdade está no conhecimento intuitivo, seja na sensação, seja na intelecção. Mas a tópica ensina – e este é seu imenso valor – a maneira de reduzir toda tese ao irredutível, colocando face a face as afirmações historicamente dadas e as categorias da ciência que versa sobre aquilo que é enquanto é: substância, gênero, espécie, quali-dade característica, acidente, – desmascarando os mal-entendidos e as confusões com o auxílio de uma análise das definições fundadas, no fim das contas, sobre a ontologia – pesando o valor do atributo dado como característico e averiguando a distribuição em gêneros e espécies. É ela que permite formular, a partir do saber que a huma-nidade possui em um dado momento, as questões que deve ser feitas à realidade e encontrar as teses verdadeiras a partir das quais a demonstração for-malmente coerente pode realizar um trabalho útil e duradouro.
***
Mas, para ter sucesso, não basta sustentar nossa tese conforme os argumentos apropriados; deve-mos ainda indicar de que modo pôde ganhar crédito a tese oposta e corrente.
Nós já tocamos em uma das razões do desprezo que sofrem os Tópicos: uma ciência do raciocínio científico parece mais científica que uma ciência do raciocínio em geral. Mas há outras razões, tal-vez mais influentes, entre as quais as principais parecem ser três: um mal-entendido a respeito do sentido da palavra ἔνδοξον e da função da δόξα em Aristóteles ; a interpretação equivocada da relação entre a dialética e a silogística; e um des-prezo quanto à prática do diálogo nas escolas da Academia e do Liceu. Nós tentaremos detalhar esses três pontos.
1. Depois da reação moderna contra a física aris-totélica (pois é só neste domínio que a revolta
contra Aristóteles substituiu o seu ensinamento por uma outra teoria) e contra um aristotelismo mais distante do ensinamento daquele que esse mesmo aristotelismo venerava como seu mestre, toda reflexão sobre o pensamento antigo parte de Platão. Ora, Aristóteles, mesmo sendo – e perma-necendo – discípulo de Platão, difere dele sobre pontos tão fundamentais que há um risco de cair em graves contra-sensos ao se tomar os mesmos termos com o mesmo sentido nos dois auto-res. Provavelmente, para Aristóteles como para Platão, a δόξα é um modo inferior e insuficiente do conhecimento, e quem se funda sobre ele pos-sui grandes chances de se enganar e de se deixar enganar. E, ainda mais provavelmente, Platão, no curso de sua evolução filosófica, veio a reconhecer um certo valor positivo na “opinião verdadeira”. Mas é só no pensamento aristotélico que a opi-nião se separa das opiniões, como a crença vulgar e vaga, das teses aceitas e plenas de autoridade gra-ças ao consenso de todos os homens qualificados segundo a convicção do vulgo, e que possuem, por isso, um pré-julgamento favorável, porque elas condensam a experiência da humanidade . Para Platão, a visão direta da essência é sempre possí-vel, ainda que veja as dificuldades com uma clareza cada vez maior. Para Aristóteles, está excluído o recurso às idéias e aos números ideais, e o verda-deiro ser concreto deve ser buscado nos dados do sentido – que o discurso trai, porque ele necessa-riamente generaliza – e na intuição do intelecto, que, no entanto, oferece sempre apenas certe-zas sem conteúdo particular, princípios que não se cumprem senão no curso da observação. Para adquirir a ciência, no meio-caminho entre ambos, a indução então é mais importante do que a dedu-ção silogística: “A indução convence mais, é mais evidente, mais cognoscível segundo a sensação e é mais comum ao conjunto dos homens; o silogismo constrange mais e possui maior força diante dos controversistas .” Ocorre o mesmo na caminhada até os princípios primeiros que, uma vez conhe-cidos, mas, humanamente falando, conhecidos somente após um longo trabalho de investigação, impõem-se irresistivelmente e sem nenhuma outra mediação: só é preciso dar uma olhada no último capítulo dos Analíticos Posteriores, que, de uma forma magistralmente compacta, expõe a caminhada do conhecimento até seus fundamen-tos, primeiro em si, depois para nós e segundo a ordem da aquisição – basta considerar esta única

40
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
frase : “Parece, então, que para nós é necessário conhecer os primeiros (princípios) por indução; pois a própria sensação introduz desse modo o uni-versal em nós.” O recurso à indução, à observação, às coisas dadas, não à via direta das substâncias por detrás das coisas, eis a regra e a lei da ciência – e eis também porque a opinião é, por um lado, como em Platão, o domínio do erro, mas, por outro lado, ao mesmo tempo se converte no único plano sobre o qual se mostra a verdade, a verdade detectável nas opiniões doutrinais, logo que estas são submetidas ao exame desse tópico que é essencialmente (mui-tos são os lugares onde Aristóteles reúne os dois termos) a πειραστική .
A tópica não é uma lógica do verossimilhante, do plausível, da opinião; ela constitui uma técnica para extrair do discurso a verdade discursiva, mais precisamente para eliminar o falso, a partir dos conhecimentos anteriores sem os quais, para Aristóteles, não se conhece ciência alguma.
Não devemos, então, introduzir o termo opinião na interpretação das teses tópicas: o leitor e o intér-prete modernos não podem evitar lhe emprestar a nota pejorativa que ele comporta com Platão (e com Aristóteles, quando opõe opinião e ciência); e não devemos falar de teses “prováveis” ou “plau-síveis” para significar o termo que designa as teses da tópica, e sim traduzir ἔνδοξα por “teses difundi-das”, “teses correntes”. Em suma, é indispensável deixar a palavra com o sentido que Aristóteles lhe deu: “Teses difundidas, isto é, aquelas que são reconhecidas por todo mundo, ou pela maioria, ou pelos sábios, seja por todos, seja pelos mais conhe-cidos e os de reputação mais difundida ”. Trata-se do saber da humanidade em um dado ponto de sua história, no momento em que uma nova investi-gação é empreendida – e Alexandre de Afrodísias
não se engana quando reduz a importância dos homens célebres àquela que eles recebem do con-sentimento do grande público: eles não seriam célebres sem esse reconhecimento de seu valor por todo mundo .
A tópica não é uma lógica do provável ou da veros-similhança: ela é a técnica científica que permite examinar as teses propostas, prováveis ou plau-síveis por sua posição na vida intelectual da comunidade, mas que precisamente com o auxílio de tal exame podem acolher a prova científica de sua verdade. A tópica não é uma lógica do veros-similhante, do plausível, da opinião; ela constitui uma técnica para extrair do discurso a verdade dis-cursiva, mais precisamente para eliminar o falso, a partir dos conhecimentos anteriores sem os quais, para Aristóteles, não se conhece ciência alguma.
2. Como segunda causa de mal-entendidos, men-cionamos uma concepção equivocada das relações entre a dialética e a analítica. Várias de nossas observações anteriores já ilustraram esse ponto: se há uma subordinação entre as duas, a dialética deve ser considerada como englobando a analítica; ademais, se uma das duas fosse ciência, a outra o seria igualmente e sob o mesmo aspecto. Nós não iremos voltar a isso.
Mas ainda nos resta aprofundar o problema do caráter científico da lógica aristotélica, este último termo tomado em seu sentido mais amplo, com-preendendo ao mesmo tempo a analítica e a tópica. E, então, o fato histórico de que Aristóteles e sua escola não consideraram a lógica entre as partes do sistema (é verdade que nos próprios Tópicos Aristóteles distingue as proposições e os pro-blemas dialéticos em éticos, físicos e dialéticos – λογικαί – mas, com toda evidência, não se trata aqui da organização da realidade e do sistema das ciências) , esse fato deve ser levado bastante a sério. Ele mostra que a lógica, essa ferramenta da filosofia, esse ὄργανον, não possui verdade própria – porque ela é universal e indistintamente utili-zável – e não possui princípios que se distingam dos da ontologia; a lógica é τέχνη, método cien-tífico, não qualquer que seja, mas precisamente porque ela é a projeção da verdade ontológica, da verdade imediata e evidente, sobre o plano do dis-curso, onde essa verdade não é atingida, mas resta sempre por atingir. É em razão do seu formalismo

41
OU
TUB
RO
20
13
que a lógica aristotélica está excluída da filosofia e ao mesmo tempo está ligada a ela necessaria-mente, a tal ponto que toda ciência se constrói pelo intermediário, pela mediação do discurso que, no entanto, não a encerra, e a tal ponto que o Ser, o qual, enquanto tal, não se exibe nela, não pode exibir-se senão por sua intervenção.
Se é assim, se a tópica, por um lado, e a analítica, por outro, se apresentam como duas τέχναι, dois procedimentos humanos servindo à descoberta do que é, e, para ser mais exato, destinadas a per-mitir ao que é se revelar numa visão que, para ser realmente verdadeira, deve ser imediata, a dife-rença entre as duas deve ser determinada sobre o plano técnico. Ora, sobre esse plano, sua diferença é, segundo Aristóteles, a que há entre o curso do ensinamento dado pelo professor e a discussão levada em comum. Ou, para dizer de outro modo, a diferença entre o monólogo e o diálogo científicos.
Toda prática da ciência pressupõe, na opinião de Aristóteles, ao menos dois interlocutores. O mes-tre e o discípulo formam uma primeira dupla: aquele, sem ter em conta as convicções deste, desenvolve sua argumentação a partir dos prin-cípios específicos da sua ciência, e este escuta o mestre, prestando-lhe confiança; uma segunda dupla é constituída por dois homens que, em con-junto, detectam, a partir das opiniões correntes, as contradições escondidas no discurso humano (e determinam, assim, as aporias que terão de ser resolvidas); uma terceira é composta daquele que sustenta uma tese e pretende possuir a ciên-cia que dá força à sua afirmação, e daquele que o questiona sobre o assunto; por fim, há a dupla do sofista e seu interlocutor, onde o primeiro con-clui, corretamente ou com a ajuda de um erro habilmente escondido, a partir de premissas cuja verdade parece ser universalmente reconhecida sem, contudo, sê-lo, como no caso daquele que pergunta se não possuímos o que não perdemos – o que parece evidente, mas é evidentemente falso –, para concluir que o interlocutor tem chifres, porque ele jamais os perdeu, enquanto o segundo só deve prestar atenção em se defender para não passar ridículo aos olhos da platéia. Quatro duplas, quatro discursos: discurso científico e magisterial, investigação feita em comum, prova de uma tese, competição profissional (χρηματιστής) .
Aristóteles especifica. O professor, em primeiro lugar, ignora seu papel se ele lança perguntas: seu papel é fazer ver a verdade, sem ter recurso à colaboração do auditório . A tentativa dialética, exercício da mais alta utilidade para a filosofia – aos olhos de Aristóteles, a técnica que consiste em formular perguntas, em encontrar os lugares de ataque e em arranjá-los em boa ordem em seu próprio espaço, é comum ao filósofo e ao dialético —, pode ser levada a cabo pelo pensador sozinho, com a condição de que ele se desdobre: se não se encontra um interlocutor, deve dirigir as objeções a si próprio . A relação entre filosofia e dialética é, então, aquela de uma afinidade técnica essen-cial, se ao menos considerarmos as duas não como entidades existentes à parte, num lugar suprace-lestial, mas como atividades de homens viventes . Não há relações de outro modo entre o diálogo e o exame crítico: exigem-se dois homens qualificados e de boa-fé para levar a cabo o esforço em comum do diálogo . O que distingue a peirástica do diálogo é que a dialética torna-a uma técnica científica que encontra no teste o seu emprego. Todos os homens adoram disputar e atacar os que professam uma opinião, e mesmo o povo sem formação serve-se de algum modo das técnicas do diálogo e do teste, da dialética e da peirástica: o verdadeiro dialético é aquele que procede ao teste segundo as regras da técnica silogística . A técnica analítica, empregada no teste de uma tese comumente aceita, ou cele-brada por outras razões, um teste empreendido como esforço comum por dois (ou mais) homens que buscam a verdade, eis aí a definição da dialé-tica-tópica-peirástica, da verdadeira dialética.
Voltemos às relações das técnicas científicas legi-timadas pela sofística (a erística), um processo ilegítimo. O que nos importa aqui é tirar a conclu-são dos textos que acabamos de resumir. Nem a silogística (analítica), nem a dialética (peirástica) são ciências no sentido antigo, isto é, que levem à visão imediata de uma realidade ou de um princípio absoluto e específico . É verdade que a ciência, na posse de seu princípio, serve-se do silogismo para apresentar suas descobertas numa ordem que não dá margem a nenhuma objeção contra sua coerên-cia, enquanto que a dialética tem por fim buscar – e encontrar – as mesmas verdades, eliminando entre as doutrinas pré-existentes (e indispensáveis para que a investigação possa sequer começar) as teses ambíguas, contraditórias, falsas, a fim de que se

42
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
chegue às verdades últimas que se encontram “no topo”, visíveis ao νοῦς, e “embaixo” na sensação. Mas os dois corpos de regras constituem as τέχναι, não as ἐπιστῆμαι, e pertencem ao domínio da ποίησις, não ao da θεωρία. Essas regras são cientí-ficas no sentido moderno (positivista) do termo pela mesma razão que no sentido aristotélico elas não são mais do que racionais. Elas não fornecem a visão imediata do que é, tal como é, necessariamente e eternamente, e, como toda técnica, elas são “hábi-tos práticos adquiridos, acompanhados de discurso racional (λόγος) ”. Elas retiram seu conceito abs-trato, o universal, da experiência, elas dão o acesso ao limiar do verdadeiro saber: elas não mostram o conceito presente no ser como εἰδός, como ἐνέργεια e como ἐντελέχεια. As técnicas do discurso não pos-suem um objeto específico e, se desejam obtê-lo, devem sofrer uma transformação radical, uma transubstanciação, para se transformar em técnica lógica, investigação ontológica, visando, segundo a dupla tendência do pensamento aristotélico, o Ser em tudo o que é, e a fonte de todo devir.
No entanto, uma vez que se admita a identificação (positivista e moderna) entre a técnica e a ciên-cia, uma vez aceito que a existência do método no sentido dado a essa palavra pela metodologia pode separar a “forma” do pensamento de seu “conte-údo”, uma vez suposto que a física matemática do continuum, aquela de Newton, é o modelo de todo saber científico – então, com efeito, a silogística prevalece sobre a peirástica, e a técnica da apre-sentação sobre aquela da investigação das verdades a serem apresentadas. Sabemos que o positivismo acabou admitindo que ignorava sobre o que é que estava falando e que não podia indicar o sentido das palavras verdadeiro e falso, aplicadas aos teoremas que formam seu “conteúdo”. A analítica – e esta é sua eterna glória – levou ao grandioso modelo de conhecimentos matemáticos por Euclides. A dia-lética, precisamente porque seu trabalho jamais termina, negligenciou que os seus esforços que só eliminam os erros cometidos são todos negativos, e que ela não pode, assim, produzir conhecimentos ditos “úteis”: ou, a utilidade da dialética em si não pode ser definida, menos ainda julgada, pelos que renunciam ao único meio de questionar o conceito de utilidade, às perguntas racionais e bem feitas. Não é de se espantar que, numa tal situação, fale-se de crise das ciências, e precisamente das ciências exatas, ou de uma crise da civilização; não é de se
espantar, também, que não se compreenda mais a relação que distingue e une ensinamento e diálogo, exposição e investigação, analítica e tópica.
3. Das razões que indicamos para a incompre-ensão que os Tópicos enfrentam em particular e a função da dialética em Aristóteles em geral, a terceira, uma certa falta de imaginação histó-rica, é provavelmente a mais importante – de fato, senão de direito. Como Aristóteles trata ao mesmo tempo a dialética, necessária e legítima, e a erística, conjunto de truques de malabaristas, golpes de prestidigitação de um lutador verbal, de um profissional astuto em enganar incautos e imprudentes, de truques de homens que querem vencer por quaisquer meios, acabou ganhando cré-dito a opinião de que os Tópicos, especialmente o último livro (citado sob o ambíguo título Περί των σοφιστικών ελέγχων: ao mesmo tempo “das refuta-ções dos argumentos sofísticos” e “das refutações sofísticas”), e a obra inteira, por conseguinte, são consagrados à sofística, opinião (ou mais um sen-timento, pois não se expressa muito claramente ) que reforça a tendência a interpretar ἔνδοξον como “opinião” no sentido platônico e a tópica como uma não-ciência ou uma ciência inferior.
O fato é que Aristóteles não separa a técnica do sofista da do dialético. Como é possível? Quanto à aparência, as duas são idênticas, e a honestidade de um não se exerce alhures nem de outras formas verbais senão com o ardil do outro. A diferença só se revela para aquele que observa o plano de fundo – a tese realmente é uma tese aceita em geral? – e a intenção – trata-se do esforço em comum, do teste de um enunciado, trata-se da investigação da verdade, ou trata-se de uma demonstração de habi-lidade, de uma disputa onde se deve vencer custe o que custar? — Num caso e no outro, a vitória vem ou para aquele que faz o interlocutor se contradizer ou silenciar, ou para aquele que resiste a todas as tentativas: vitória daquele que faz as perguntas, ou vitória daquele que, depois de ter destacado uma tese, respondeu a toda pergunta que lhe foi diri-gida. Ora, tanto o ataque como a defesa podem se perder e podem ser conduzidos de forma desleal: é precisamente o homem honesto que tem a maior necessidade de conhecer os obstáculos inerentes à sua empreitada – e os segredos do homem de má-fé.

43
OU
TUB
RO
20
13
Aristóteles não hesita em transmitir aos seus ouvintes, tal como um mestre de armas, os melhores golpesTese e silogismo verdadeiramente aceitos, e tese e silogismo aparentes apresentam, então, o mesmo interesse: Aristóteles não busca o ideal de um método puro; ele quer fornecer – e fornece – as regras práticas gerais, uma τέχνη da discussão como se pratica na sua época, certamente no seio da Academia e, com uma probabilidade próxima da certeza, no Liceu. É para se educar e, ao mesmo tempo, para não ridicularizar a escola e aqueles que se beneficiaram de seu ensino, que se deve saber lutar com as palavras, “construir” (κατασκευάζειν) e “derrubar” (ἀνασκευάζειν), “pôr as mãos sobre o adversário” (ἐπιχειρεῖν), sustentar a “luta por esporte” (ἁγών).
É esse lado da competição esportiva da discussão dialética, presente até nos termos técnicos, que parece tão importante quanto negligenciado onde entra em questão o sentido da dialética aristoté-lica. Certamente a tópica não forma um simples manual de treino, e acabamos de ver como é amplo o seu alcance para a vida do filósofo (exceto para a filosofia acabada, a visão pura, a θεωρία, no limiar da qual ela se detém). Mas não compreenderemos sua natureza se tivermos esquecido ou suprimido o lado agonístico.
Por isso, em Atenas, todo mundo discute, não somente os filósofos, os homens políticos, os sofistas, como também os indivíduos privados. Ora, essa discussão difere muito do que nós conhe-cemos pelo mesmo nome: não se afirmam ambos os lados das teses opostas para remeter à decisão de uma instância superior, como a experiência cien-tífica, o tribunal, os especialistas, o voto popular; não se tem a necessidade de sustentar vitoriosa-mente um outro teorema, um outro ponto de vista, para derrotar o adversário: basta fazê-lo se con-tradizer . O fim não é ter razão, mas mostrar que o outro está errado pelo fato de que as conseqüências de suas afirmações contradizem suas declarações iniciais. Daí, o regulamento tão notável, tão fre-qüentemente invocado nos diálogos de Platão, que quer uma resposta para toda pergunta, que as
perguntas sejam formuladas de tal maneira que as respostas só possam ser “sim” ou “não” , que não se tenha o direito de responder por um discurso coerente, a menos que se tenha pedido autorização ao interlocutor, e que se ofereça a ele uma troca de papéis, se se quer provar positivamente uma tese diferente daquela que acabou de ser testada.
Em suma, trata-se de um jogo conhecido, difun-dido, e que se joga diante de um público ciente das convenções e com grande conhecimento dos detalhes: um bom número dos tratados dos Tópicos (como dos diálogos platônicos) que nos espantam à primeira vista se explica dessa maneira. Assim, é um procedimento sofista forçar o adversário a con-cordar com uma tese incrível ou chocante (ἄδοξον) , procedimento contra o qual se devem tomar pre-cauções, como é necessário diante das tentativas de se fazer o interlocutor gaguejar . Também será melhor não entrar em combate com qualquer um e sobre qualquer assunto, por medo de desonra.
Esse temor do público constitui, evidentemente, uma fraqueza do método se a discussão não tiver lugar no interior da escola e entre homens treina-dos na busca pela verdade. O adversário, antes de ser levado à contradição, abandonará ao invés de consentir numa tese escandalosa . Mas, se deve-mos saber nos defender, por todos os meios, se necessário – Aristóteles não hesita em transmitir aos seus ouvintes, tal como um mestre de armas, os melhores golpes –, não é nisso que consiste o verdadeiro jogo, o nobre exercício: “A lei da con-venção (νομός) constitui a convicção (δόξα) das pessoas comuns; os sábios (σοφοί) falam e pensam (λέγουσιν) conforme a natureza e a verdade”.
Nós não insistiremos então sobre o papel que cum-pre no diálogo o público e suas reações; mas que se nos permita chamar a atenção, en passant, sobre o interesse de um estudo exaustivo e aprofundado sobre as indicações fornecidas a respeito desse assunto pelos Tópicos, em particular, mas não exclusivamente, pelos livros VIII e IX: podem então ser contempladas as interpretações detalhadas dos diálogos de Platão, revelando até o significado das diversas expressões de assentimento , que não se atingiriam por nenhuma outra via.
Dar por completo e analisar o significado pre-ciso de todas as regras que Aristóteles fornece

44
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
– ocasionalmente, pois ele as supõe conhecidas por seus ouvintes – para a discussão séria, isso seria empreender uma exegese completa, não só dos Tópicos, como do Organon em sua totalidade e visando à sua unidade filosófica fundamental. Nós só falamos aqui da natureza da discussão real, tal como ela aparece nas ou através das regras dos Tópicos.
Estas exibem uma mistura de conselhos técni-cos para a vitória com leis sem cujo cumprimento não se poderia resolver problema algum: mistura bastante surpreendente para o leitor moderno, que se esqueceu de que toda discussão acon-tece entre homens reais e de que ela forma, por isso, um simulacro da luta sem a violência física. Esquecemos disso porque estamos dominados pela idéia de um método “puro”, isto é, a priori, ao abrigo de toda objeção.
Mas uma tal “falta da pureza” é inteiramente natural para Aristóteles. Trata-se da dialética, de um método universalmente aplicável, e que deve ser aplicado universalmente: não importa qual seja a conseqüência inadmissível; se ela for tirada cor-retamente de uma afirmação, refuta esta. É a tarefa da silogística arranjar em seqüências corretas e facilmente verificáveis uma ciência determinada, de maneira que ela possa ser desenvolvida a partir de seus princípios: a função da dialética é desve-lar as fraquezas de tudo o que não for princípio imediatamente evidente (os os dados últimos dos sentidos). O geômatra não questiona os funda-mentos da sua ciência, e o dialético não se ocupa com questões puramente técnicas da geometria; mas o dialético pode questionar e deve questionar o sentido dos princípios particulares da matemática, seu alcance filosófico, seu emprego generalizado justificado ou não . Um tal método não pode ser abstrato, como pode ser a apresentação silogís-tica dos conhecimentos adquiridos, que de forma alguma são deduzidos dos princípios dialeticamente comprovados, mas postos em ordem a partir des-tes. São os homens que buscam a contradição. Não podemos buscar somente ela, a não ser que adqui-ramos o hábito dessa investigação na colaboração com outros homens: o desejo de vencer intervém em todo teste, e é bom que seja assim; é necessá-rio apenas que esse desejo se submeta às regras do combate leal .
Exercício que busca o teste das teses existentes ou possíveis, teste que busca a investigação, investigação que busca a verdade: eis aí o sentido da técnica tópica.
É por isso que Aristóteles pode distinguir entre três tipos de infrações: a tese infratora (o que não quer dizer falsa, mas mal escolhida, a tese falsa sendo tão interessante quanto a verdadeira), a técnica infratora na condução do diálogo (por exemplo, a redução de uma tese às premissas menos conhe-cidas), e a infração lógica propriamente falando (quando, por exemplo, não houve realmente uma conclusão) . Ele se interessa tanto pelas condi-ções psicológicas, aquelas que nos acostumamos a designar com um termo característico – como os princípios morais, o ethos do homem de ciência –, quanto se interessa pelos princípios formais, e a separação de ambos não se compreende nem por quem não quer apenas constituir uma ciência (ou ciências), mas formar homens de ciência, capazes de pensar por si próprios e de julgar graças a um longo aprendizado. Também lhe interessa muito dizer que apanharemos facilmente as pessoas (e, inversamente, que seremos facilmente apanha-dos por elas) se fizermos objeções a nós mesmos, porque assim adquirimos o aspecto de um belo jogador, se não parecemos atribuir um grande peso ao que propomos, se não propomos a tese mesma, mas suas conseqüências necessárias – assim como lhe interessa desenvolver as regras formais do silogismo e da indução. Se negligenciarmos essa ligação essencial, não poderemos não considerar os Tópicos como um tratado de sofística, interca-lado pelos destroços de uma “teoria” válida.
“O objetivo dos que ensinam e aprendem difere fun-
damentalmente daquele dos que se entregam a uma
competição, como este último difere daquele dos que
discutem num espírito de investigação, pois o que
aprende deve sempre declarar o que pensa, uma vez
que ninguém tenciona ensinar-lhe falsidades; ao
passo que numa competição o propósito do inquiridor
é aparentar por todos os meios que está influenciando
o outro, enquanto o do seu antagonista é mostrar
que não se deixa afetar por ele; por outro lado, numa
assembléia de disputantes que não discutem num

45
OU
TUB
RO
20
13
espírito de competição, mas de exame e pesquisa,
ainda não existem regras articuladas sobre o que o
respondente deve ter em vista e que espécie de coisas
deve ou não deve conceder para a defesa correta ou
incorreta da sua posição – uma vez, pois, que não nos
foi transmitida nenhuma tradição por outros, procu-
remos dizer nós mesmos algo sobre a matéria. (Top.
VIII 3, 159 a 25ss)”
Exercício que busca o teste das teses existentes ou possíveis, teste que busca a investigação, inves-tigação que busca a verdade: eis aí o sentido da técnica tópica.
Se se perguntar, depois disso, onde fica o limite entre o jogo e a seriedade, entre o esporte e a investigação, responderemos que não há, mas que, a cada momento, por uma mudança de atitude, o jogo pode se tornar sério, o esporte a investigação, o exercício o esforço comum em busca da verdade. Porém, ambos não se confundem, e sua diferença é fácil de determinar: para o homem de ciência, a vitória (isto é, entendidas as regras dadas, a der-rota do adversário) não basta; ele deve mostrar a origem da infração . Kant não se esquecerá de que há uma dialética objetiva e de que a filosofia deve “dissolver a ilusão dialética”, ainda assim tão real que o homem não se libertará dela jamais; os seus sucessores viram nessa dialética o pano de fundo da realidade, criticando Kant por ter cedido demais à forma da ciência matemático-física, tomando por ilusão o que é a razão mesma de sua realidade: desde então, parecemos ter perdido de vista até mesmo o problema .
***
Resumamos brevemente as teses que sustenta-mos para terminar, em seguida, pela indicação de alguns problemas cuja solução nos parece neces-sária a fim de elucidar completamente o lugar e a função dos Tópicos na obra de Aristóteles e obter uma compreensão filosófica dos problemas que o assunto desse livro ainda coloca para o pensa-mento atual.
1. Os Tópicos não constituem nem uma obra de juventude, nem um aperitivo do pensamento lógico de Aristóteles. Se certas partes podem remontar longe no tempo, ao menos a redação que chegou até nós é contemporânea de partes bem recentes
da Metafísica (cf. mais abaixo).
2. A dialética, tal como ela é compreendida nos Tópicos, não deve ser confundida com a sofística; as opiniões das quais ela se ocupa não fazem parte da opinião no sentido platônico, mas constituem, para a discussão séria, a soma dos conhecimentos adquiridos pela humanidade e formam, assim, o ponto de partida necessário para toda investigação científica.
3. Nem a tópica nem a silogística são, para Aristóteles, ciências no sentido estrito, porque elas não dispõem de princípios imediatamente captá-veis e concretos que lhes pertençam. Ambas são técnicas sobre a forma dos raciocínios; elas são, então, universalmente válidas justamente porque são universalmente aplicáveis.
4. A tópica não é inferior em dignidade à silogística: para Aristóteles, a aquisição da ferramenta técnica do silogismo deve preparar o estudo da técnica do exame dialético, que não se poderia empreender sem ter adquirido a técnica analítica.
5. Não é a analítica, mas a dialética que, servindo--se do silogismo, coloca a questão dos princípios e desce até os dados dos sentidos. A silogística permite, depois do teste dialético das teses e das induções , apresentar os resultados sob uma forma pura. Nós podemos acrescentar que ela permite igualmente constatar a ausência de conceitos intermediários, mas ela deve deixar para a dialé-tica o cuidado de situá-las, e para as ciências o de captá-las.
6. A diferença essencial entre analítica e tópica não é a que há entre ciência e não-ciência, mas entre a investigação em comum da verdade e a apresentação, sob forma vinculativa, das verdades encontradas.
7. Os Tópicos contêm, implicitamente, não apenas uma descrição das regras lógicas, mas ainda (e, para o historiador, sobretudo) um código esportivo conforme foi observado na Academia e no Liceu.
O interesse desses resultados só aparece verdadei-ramente sob a condição de que se entre em contato com certas outras questões que podem ser coloca-das a partir daí:

46
FILO
SO
FIA
OU
TUB
RO
20
13
1. Uma análise detalhada dos Tópicos deverá seguir a marcha da evolução de Aristóteles nesse campo . Várias redações parecem se sobrepôr. Parece que o livro IX pressupõe, muito mais que os outros, mas não exclusivamente, certos resultados essenciais da Metafísica. Os livros VIII e IX parecem atribuir mais importância à solução (λύσις) dos erros (o IX mais que o VIII) do que à simples refutação; con-tudo, a obra inteira fornece os meios de solução tanto quanto os de refutação. No entanto, convém lembrar que o final do livro IX confirma a unidade do tratado: não queremos dizer que Aristóteles pre-parou para a publicação o texto que chegou até nós, mas que não se rejeitam os materiais mais anti-gos (se é possível distingui-los com certeza); eles são, pelo contrário, conscientemente empregados em uma nova construção. As ateteses biográficas, como as ateteses filológicas atualmente fora de moda, tiveram como única vantagem economizar ao leitor o esforço de pensar junto o que Aristóteles considerou como consistente.
2. Torna-se desejável uma reinterpretação dos Analíticos: se consideramos como aceitos os resultados enumerados acima, muito dos pon-tos surpreendentes dos Analíticos se tornarão perfeitamente naturais, como a introdução das considerações sobre a indução, sobre a possibili-dade de obter conclusões verdadeiras a partir de premissas falsas, o apelo à visão direta no lugar de uma dedução lógica mesmo onde esta é possível do ponto de vista de Aristóteles, etc.
3. Haverá interesse em reestudar, por um lado, os procedimentos da aporemática, tão caracte-rística dos grandes tratados aristotélicos, e, por outro (o que seria mais importante e ao mesmo tempo mais difícil), as relações entre a tópica e a ontologia. Esta relação se investiga preferencial-mente – exclusivamente, na verdade – na equação: causa (ontológica) = termo médio (analítica). Mas essa própria equação deve ser compreendida, e só poderá sê-la ontologicamente. Ora, parece que a tópica e a ontologia são apenas dois aspectos de uma mesma realidade: o próprio Aristóteles o diz num capítulo muito curioso (IX 9, 170 a 20ss.), e parecem se confirmar os papeis que têm, nas duas disciplinas, os conceitos fundamentais, como a substância, o acidente, a qualidade característica, o gênero, a definição. Chega-se assim, talvez, a resultados precisos a respeito da diferença e da
identidade (diferenças “ilustradas” pela equação: termo médio = causa) de uma dialética “subje-tiva” e de uma dialética “objetiva”, e a uma nova concepção da função da contradição em todo o pensamento aristotélico: sobre o plano “subje-tivo” e linguístico, a contradição seria o sinal de uma dificuldade a ser resolvida (ou de uma infra-ção lógica consciente ou inconsciente); no domínio “objetivo” da ciência concreta, ela seria conciliada sob o auxílio da distinção dos vários planos da rea-lidade: assim, é a distinção dos planos do ato e da potência que justifica uma definição tão “dialé-tica” quanto aquela do movimento como “ato do que está em potência enquanto está em potência”.
4. Por fim, haveria espaço para tirar dos Tópicos (aos quais deveríamos acrescentar certas indicações dos Analíticos e da Retórica) as regras e as convenções do diálogo. A sua análise histórica e filosófica parece prometer grandes resultados, aquela por uma interpretação detalhada dos diálogos de Platão, esta por uma compreensão mais aprofundada da função da lógica aristotélica na vida da escola.
Traduzido por Hugo de Santa Cruz

47
OU
TUB
RO
20
13
Kannitverstan, HebelTradução de um conto publicado pela primeira vezno calendário Rheinländischer Hausfreund, em 1808
Seja em Emmendingen, Gundelfingen ou Amsterdã, é certo que o homem tem, quando quer, as mesmas chances de con-templar a transitoriedade das coisas
terrenas e de resignar-se ao seu destino, mesmo que nem tudo lhe esteja indo às mil maravilhas. No entanto, foi pelas vias mais estranhas que, em Amsterdã, um aprendiz alemão passou do erro ao conhecimento da verdade. Pois mal havia che-gado a essa grande e rica cidade comercial, cheia de prédios suntuosos, navios oscilantes e homens atarefados, defrontou-se com uma mansão enorme e bonita, tal como ainda não tinha visto em sua via-gem de Tuttlingen até Amsterdã. Por muito tempo
contemplou admirado aquela majestosa cons-trução, com suas seis chaminés no telhado, belas cornijas e janelas que, de tão altas, eram maiores do que a porta da casa de seu pai. Até que, não podendo conter-se, interpelou um pedestre: “Caro amigo, disse-lhe, sabe o senhor dizer-me quem é o dono dessa esplêndida morada com as janelas cheias de tulipas, margaridas e goivos?” O cidadão, porém, que pelo aspecto tinha coisas mais impor-tantes para fazer, e que lamentavelmente entendia tanto da língua alemã quanto o seu interlocutor da holandesa, a saber, nada, respondeu-lhe, seco e breve: “Kannitverstan”; e deu-lhe as costas.
E voltou, sentindo-se deveras triste por ser um pobre diabo no mundo em meio a gente tão rica.
Essa é uma palavra holandesa, ou três, para ser mais preciso, que significam simplesmente: “Não entendo”. Mas o nosso forasteiro acreditou tratar--se do nome da pessoa pela qual havia perguntado. “Esse Sr. Kannitverstan deve realmente nadar no dinheiro”, pensou, e seguiu em frente. Sobe rua, desce rua, chegou finalmente à baía chamada “Het Ey” ou, traduzindo, “o Ípsilon”. Lá havia navios e mais navios, mastros e mais mastros, de maneira que, no começo, não soube como daria conta de ver e contemplar todas aquelas maravilhas com ape-nas dois olhos; até que um grande navio, que recém tinha chegado das Ìndias Orientais e estava sendo descarregado naquele momento, acabou por cha-mar-lhe a atenção. Várias fileiras de caixas e fardos já tinham sido amontoadas em terra. Muitas outras ainda estavam sendo descarregadas, além de barris cheios de café, açúcar, arroz, pimenta e, em meio a tudo isso, se me é lícita a indelicadeza, fezes de rato.
Depois de ter observado longamente, nosso ale-mão perguntou a alguém que estava carregando para fora uma caixa nos ombros como se chamava
LITER
ATU
RA

48
LITE
RA
TUR
AO
UTU
BR
O 2
013
o felizardo a quem todas aquelas mercadorias tinham vindo do mar. “Kannitverstan” foi a res-posta. Então ele pensou: “Haha, que coincidência! Não surpreende que a pessoa a quem o mar traz tantas riquezas possa manter uma casa como aquela, com tulipas na frente da janela enfeitada com arabescos dourados”. E voltou, sentindo-se deveras triste por ser um pobre diabo no mundo em meio a gente tão rica. Porém, no exato momento em que pensava “Ah, se eu pudesse pelo menos uma vez na vida ser tão afortunado quanto o sr. Kannitverstan” sucedeu-lhe dobrar uma esquina e avistar um enorme cortejo. Quatro cavalos para-mentados de preto puxavam um carro fúnebre, também coberto de preto, devagar e solenemente, como se soubessem estar conduzindo um morto ao seu descanso. Atrás vinha uma longa fila de amigos e conhecidos do defunto, aos pares, mudos e envol-tos em casacos pretos. À distância soava um sino solitário. Então nosso forasteiro foi tomado de um sentimento melancólico, desses que toda pessoa boa tem ao ver um morto, e parou com o chapéu na mão, reverente, até que tudo passasse. Em seguida, dirigiu-se ao último participante do cortejo – que calculava em silêncio quanto ganharia com seu algodão caso o quintal aumentasse 10 florins – e, tocando-lhe de leve o casaco, pediu-lhe gentil-mente licença. “Presumo que esse por quem o sino tocou deva ser um bom amigo seu, para deixá-lo assim tão triste e pensativo”. Kannitverstan! foi a resposta. Nesse momento, caíram copiosas lágri-mas dos olhos do nosso cidadão de Tuttlingen, e ele sentiu seu coração pesado e ao mesmo tempo mais leve. “Pobre Kannitverstan”, exclamou, que te res-tou de toda a tua riqueza? O mesmo que há de restar a mim da minha pobreza: uma mortalha e um len-çol; e de todas as tuas belas flores, talvez um ramo de alecrim sobre o teu peito frio, ou uma arruda”. Com tais pensamentos acompanhou o falecido até a sepultura, como se fosse um de seus entes que-ridos, viu o suposto Sr. Kannitverstan descer à cova e emocionou-se mais com a oração fúnebre holandesa, da qual não entendeu palavra, do que com muitas outras alemãs que tinha ouvido e nas quais não prestara atenção. Finalmente retirou-se de coração leve, comeu com apetite um pedaço de queijo de Limburgo num albergue onde se falava alemão e, quando quer que depois disso o acabru-nhasse o fato de haver gente tão rica no mundo, enquanto ele era tão pobre, logo pensava no Sr. Kannitverstan de Amsterdã, na sua bela mansão,
no seu navio cheio de riquezas e, finalmente, na sua estreita sepultura.
Tradução por Henrique Garcia

49
OU
TUB
RO
20
13
O indecifrável MannPor Miguel López
O Brasil não é afeito à obra de Thomas Mann. Pouco se leu dele, pouco se sabe de suas raízes e de seu pensamento. Creio que um dos motivos desse descaso
se dá no fato de Thomas Mann ser uma charada indecifrável com relação à sua posição política. O outro motivo é o falso hermetismo em suas obras. Descendente dos grandes romancistas do século XIX,
Mann soube compor romances recheados de den-sos diálogos entre seus personagens, que formam
Cada leitura de suas obras nos coloca na pantanosa posição de observadores das opiniões conflitantes dos seus personagens. pequenos ensaios de grande complexidade sobre os mais diversos temas. Esse modo alemão de roman-cear fez com que o autor demorasse para cair no gosto de franceses, ingleses e norte-americanos. Passado mais de meio século de sua morte, Mann mostrou-se para o gosto brasileiro um autor menos alegórico que Kafka, menos experimental que Joyce e menos político que Brecht, colocando-o na gale-ria dos escritores que todo mundo “conhece”, mas não lê. Isso no nosso caso se mostra mais vexatório,
se levarmos em conta a descendência brasileira de Mann por parte materna.
O fato de escritores e romancistas deste país opi-narem sobre questões que vão muito além da suas capacidades criou no leitor brasileiro a falsa impressão de que o autor precisa ter aquilo que Adolf Hitler chamava de “visão de mundo”. Essa
atual facilidade que se tem de opinar sobre tudo e todos nos leva a colocar escritores no abjeto redu-cionismo direita-esquerda.
Nossos juízos de valor acabam colocando autores e obras nessa redoma difícil de sair, como se essa visão de mundo de um escritor devesse concordar automaticamente com tudo aquilo que uma cor-rente ideológica pensa, prega ou defende. Isso não se dá com Thomas Mann que, felizmente, escapa dessa estúpida redução. Ocorre que cada leitura de suas obras nos coloca na pantanosa posição de observadores das opiniões conflitantes dos seus personagens. Desde sua época, Mann se mostrou um autor com uma “visão de mundo” altamente peculiar e, portanto, indecifrável.
Um dos exemplos da complexa relação do autor com seu pensamento político se vê durante a Primeira Guerra Mundial. O antes defensor do prussianismo bismarckiano durante o início do

50
LITE
RA
TUR
AO
UTU
BR
O 2
013
conflito já não tinha muitas certezas sobre aquilo que afirmava ao fim da guerra, fazendo com que sua obra Confissões de um Apolítico (Betrachtungen eines Unpolitischen, 1918) se tornasse o mausoléu das suas idéias germanicistas.
Isso parece se refletir em A Montanha Mágica (Der Zauberberg, 1924), obra que, à guisa de exemplo, nos impede de assumir uma postura referente aos seus personagens Naphta e Settermbrini. No embate interminável entre o progressista italiano e o jesuíta socialista, o protagonista Hans Castorp observa passivamente a explanação das idéias e a desonestidade intelectual de ambos, acabando por admirar o desarticulado e lascivo Mynheer Peeperkorn nas suas odes à natureza e à vida humana.
Thomas Mann se portava, seja em seus discursos, seja em seus romances, como um intelectual, dis-posto a problematizar, deixando os julgamentos para depois. Daí o motivo dele não aderir à can-tilena salvacionista de Bertolt Brecht e outros intelectuais de esquerda, que buscaram em Mann um nome forte para assinar o manifesto que pro-punha que o regime nazista “não representava” a verdadeira Alemanha1. Também pelo mesmo motivo, ele foi visto com maus olhos nos Estados Unidos nos primeiros anos de Guerra Fria. O fato de Mann ingenuamente acreditar na possibilidade de um “socialismo mais humano” fez dele um pária para a nação americana e um potencial espião durante a caça às bruxas, resultando na sua volta para um dos países de maior neutralidade política da época: a Suíça.
A adoção de posturas políticas cum grano salis cor-roborava o que Goethe dissera sobre a função do artista, e que Mann retomou em um dos seus ensaios sobre a postura moral necessária à vocação artística:
É bem possível que uma obra de arte tenha conse-
qüências morais, mas exigir do artista intenções e
finalidades morais significa estragar seu ofício.2
Já durante os anos em que convivera com a
ascensão do nazismo, e depois no exílio, a obra de Mann mostrou-se muito mais política em seus dis-cursos e ensaios do que em seus romances, a fim de preservar o distanciamento necessário comentado por Goethe.
Já com o mundo em guerra, Mann não caiu em outra obsessão intelectual persistente até os dias de hoje: o pacifismo.Anatol Rosenfeld também notara o fato ao obser-var que em Doutor Fausto, apesar de se perceber a angústia do autor pelo triste fado alemão, Mann interpôs um narrador, buscando distanciar-se das opiniões referentes ao descenso moral e espiri-tual da Alemanha nazista3. Mann vira na ascensão de Hitler por meios democráticos a derrocada da República de Weimar, a retomada do espírito romântico alemão agora no seu nível intelectual mais rasteiro, ou seja, compreendeu o processo popular, e tentou, em vão, chamar o povo alemão à razão, trazê-lo do encantamento de um flautista de Hamelin perverso, que, ao unir o histórico anti--semitismo alemão com o Dolchstoßlegende (lenda da punhalada pelas costas) sepultou a República de Weimar e transformou o solo germânico em palco de uma das maiores atrocidades do século anterior.
Já com o mundo em guerra, Mann não caiu em outra obsessão intelectual persistente até os dias de hoje: o pacifismo. Atualmente, os inócuos ape-los pacifistas de Romain Rolland e Bertrand Russell nos lembram muito os engajados que vestem camisetas brancas e soltam pombas pedindo paz a traficantes e assaltantes. Porém, Mann conhecia a insanidade nazista, e estava atento aos pronuncia-mentos de Goebbels, que afirmava em 1943:
Se algum dia tivermos de partir, se algum dia formos
forçados a deixar a cena histórica, então vamos bater
a porta de tal maneira que a Terra vai tremer, e a
1. Thomas Mann – Uma biografia, Nova Fronteira, 2000, p. 444.
2. Ensaios – MANN, T. Perspectiva, p. 30, 1988, “O artista e a sociedade”.
3. Thomas Mann – ROSENFELD, A. Perspectiva, p. 91, 1994, “A correspondência de Thomas Mann – II”.
___________________________________________________

51
OU
TUB
RO
20
134. Ouvintes alemães!: discursos contra Hitler, p. 127, 2009.
humanidade ficará estarrecida de terror.”4
Ao aceitar a proposta da BBC de Londres para gra-var discursos contra Hitler, Mann procurou não apenas alertar uma Alemanha resistente ao totali-tarismo, mas também apontar o indicador em riste para a outra Alemanha, sedenta de sangue, não poupando palavras ao chamar seu povo de “usur-padores da Europa”. Sua vergonha em incitar seu país desde o exílio, enquanto avançavam as tropas contra seus conterrâneos, foi imensa, mas maior ainda foi sua hombridade em não deixar o sangue falar mais alto.
É de autores assim que precisamos.
___________________________________________________

52
LITE
RA
TUR
AO
UTU
BR
O 2
013
A uma amante pós-tudoResposta de Ricardo Almeida ao poema “ A uma passante pós-baudelairiana“, de Carlito Azevedo
Sobre essa pele morenaum pintor mandarimteria escrito à pena de gansoum emblema em nanquim- Sem esquecer entantoo ideograma dos lábios:
carnívora tulipa rubradois traços rasgadosa me devorar pernas embaixode tuas curvas.
Talvez esse poeta angustiadonão soubesse dizerse sobre os lábios em que se deslê o que leu- tateando em braile o teu dicionário -há mais odes para escrever.
Mas eu que venero mais que a tudoteus cabelos cobrindo o rosto mudoquando caem, longos, infinitos…não sei se esqueço ou te decifro,esfinge do nilo.Sei que tua pele morena escondesinais criptografadospra tudo.Hieróglifos borradosPedem palavras de sussuro.
Algum provençal decertote dedicaria o mais secretotrobar clus:para alaúdes, vihuelas e lirase um menestral suicida.
Mas eu te dedico quando chegasme fazendo fremirEsse tiroteio de signosEssa salva de suspiros.
Ilustração: Daniel Miguez

53
OU
TUB
RO
20
13
O planeta redondinho, Jeffrey B. RussellTradução do capítulo I de “Inventing the Flat Earth - Columbus and Modern Historians” (1991)
Oito horas da manhã do dia 3 de agosto de 1992 marca exatamente meio milênio desde que Cristóvão Colombo partiu em sua primeira viagem ao Novo Mundo,
uma ocasião lembrada nos Estados Unidos pelo Congressional Quincentenary Jubilee Act de 1987. Nos Estados Unidos, o tom da observância de 1992 con-trasta com a alegre celebração imperial de 1892, porque vem à mente o lado obscuro da viagem de
Colombo de uma forma que não vinha um século atrás. Os nativos americanos podem tratar 1492 como o começo do seu desterramento e os afro--americanos como a abertura do maior mercado de escravos negros. Os judeus e os muçulmanos podem se lembrar que 1492 foi também o ano da sua expulsão da Espanha por Fernando e Isabel, os mesmos monarcas que patrocinaram Colombo. Os latino-americanos podem se recordar do período
HIS
TÓR
IA

54
HIS
TÓR
IAO
UTU
BR
O 2
013
colonial com mais pesar do que nostalgia. Além da necessidade urgente e imediata de se reavaliar o impacto da abertura das Américas, há um outro problema curioso, a seu modo tão etnocêntrico quanto o imperialismo de 1892.
Quinhentos anos depois de Colombo (1451-1506), sua história continua a ser acompanhada por uma curiosa e persistente ilusão: a conhecida fábula de que Colombo descobriu a América e provou que a Terra é redonda, para o espanto de seus contem-porâneos, que acreditavam que ela era plana e que se poderia cair para fora da borda.
Todas as pessoas instruídas em toda a Europa sabiam da forma esférica da Terra.Trata-se de uma ilusão que de forma alguma ficou restrita aos iletrados. John Huchra, do Harvard-Smithsonian Institute for Astrophysics, foi citado dizendo:
Naquela época [quando o Novo Mundo foi descoberto]
havia muito conhecimento teórico, apesar de incor-
reto, sobre como era o mundo. Alguns acreditavam
que o mundo podia ser plano e que você poderia cair
da borda, mas os exploradores se lançaram e desco-
briram o que havia lá de fato.1
Para colocar em outras palavras: supõe-se erro-neamente que um dos propósitos, e sem dúvidas um dos resultados da viagem de Colombo foi provar para os céticos europeus medievais que a Terra era redonda. Na verdade, esses céticos não existiam. Todas as pessoas instruídas em toda a Europa sabiam da forma esférica da Terra e da sua
circunferência aproximada. Esse fato tem sido con-sagrado por historiadores há mais de meio século.
Um dos mais eminentes historiadores contempo-râneos da ciência, David Lindberg, disse:
Na história de costume, o dogma teórico a respeito de
uma Terra plana tinha de ser superado por uma evi-
dência empírica da sua esfericidade. A verdade é que
a esfericidade da Terra foi um componente caracterís-
tico do dogma teórico na maneira que ele chegou até a
Idade Média – tão central que quantidade alguma de
argumentos teoréticos ou empíricos contrários pode-
ria tê-la destituído.2
Em 1964, C. S. Lewis escreveu: “Fisicamente con-siderada, a Terra é um globo; todos os autores da baixa Idade Média concordavam sobre isso… as implicações de uma Terra esférica eram totalmente compreendidas”3. E Cecil Jane já havia declarado nos anos 30:
Em meados do século XV, a esfericidade do globo era
aceita como fato por todos, ou no mínimo por quase
todos os homens instruídos em toda a Europa. Não há
fundamento para a afirmativa, que já teve crédito, de
que uma visão contrária era mantida na Espanha por
teólogos conservadores e apoiada pelo preconceito
religioso.4
A pergunta, então, é de onde veio essa ilusão – “O Erro Plano” – e por que as pessoas continuam acre-ditando nela. Chamo o Erro não a alegada crença medieval de que a Terra era plana, mas, pelo con-trário, o erro moderno de que isso algum dia tenha prevalecido.5
Esse Erro Plano segue popular, ainda sendo
1. Marcia Bartusiak, “Mapping the Universe”, Discover (Agosto de 1990): 63.
2. Comunicação pessoal com o autor, 1990.
3. C. S. Lewis, The Discarded Image (Cambridge, 1964), 140-41.
4. Cecil Jane, ed., Select Documents Illustrating the Four Voyages of Columbus, 2 vols. (Londres, 1930-1933), 1:xxii.
5. Entre as obras do século XX que tentaram dissipar o erro estão F. S. Betten, “Knowledge of the Sphericity of the Earth During the Earlier
Middle Ages,” Catholic Historical Review 3 (1923): 74-90; Anna-Dorothee von den Brincken, “Die Kugelgestalt der Erde in der Kartographie
des Mittelalters,” Archiv für Kulturgeschichte 58 (1976): 77-95; Pierre Duhem, Le système du monde: Histoire des doctrines cosmologiques de Platon
à Copernic, 10 vols. (Paris, 1913-1959); Edward Grant, Physical Science in the Middle Ages (Nova York, 1971); J. B. Harley e David Woodward, The
History of Cartography, vol. 1, Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean (Chicago, 1987); Charles W. Jones,
“The Flat Earth,” Thought 9 (1934): 296-307; David C. Lindberg e Ronald L. Numbers, eds., God and Nature (Berkeley, Calif., 1986); David
C. Lindberg, Science in the Middle Ages (Chicago, 1978); David C. Lindberg e Ronald L. Numbers, “Beyond War and Peace: A Reappraisal of
the Encounter between Christianity and Science,” Church History 55 (1986): 338-54; W. G. L. Randles, De la terre plate au globe terrestre: Une
___________________________________________________

55
OU
TUB
RO
20
13
encontrado em muitas apostilas e enciclopédias.6
Uma enciclopédia de 1983 para alunos de 5ª série apresenta: “[Colombo] sentia que ele acabaria chegando às Índias no Oriente. Muitos europeus ainda acreditavam que a Terra era plana. Eles pen-savam que Colombo iria cair da borda da Terra.”7
Um texto de 1982 para alunos de 8ª série dizia:
O navegante europeu de mil anos atrás também tinha
outras crenças estranhas [além de bruxas e do diabo].
Ele se voltava para essas crenças porque não tinha
outra forma de explicar os perigos do mar desconhe-
cido. Ele acreditava…que um navio poderia navegar
para longe no mar até o momento em que cairia da
borda do mar… O povo da Europa de mil anos atrás
conhecia pouco sobre o mundo.8
Um prestigiado texto para alunos de universidade os informa que o fato de que a Terra é redonda era sabido pelos gregos antigos, mas se perdeu na Idade Média.9 A literatura segue o mesmo exemplo. A peça de Joseph Chiari, Christopher Columbus, contém o seguinte diálogo entre Colombo e um Prior:
Colombo: a Terra não é plana, padre, é redonda!
O Prior: Não digas isso!
Colombo: É a verdade; ela não é um lago repleto de
ilhas, é uma esfera.
O Prior: Não, não digas isso; isso é uma blasfêmia.10
Nos anos 80, um grande número de apostilas e enciclopédias havia corrigido a história11, mas o Erro Plano reapareceu num livro muito popu-lar publicado pelo ex-bibliotecário do Congresso, Daniel Boorstin, The Discoverers (1983). Boorstin escreveu:
Um fenômeno de amnésia intelectual do tamanho
da Europa… afligiu o continente de 300 d.C. até pelo
menos 1300 d.C. Durante esses séculos, a fé e o dogma
cristãos acabaram com a imagem útil do mundo
que havia sido tão lentamente, tão dolorosamente
e tão escrupulosamente construída pelos geógrafos
antigos.12
Ele chamou esse suposto hiato de “A Grande Interrupção”. O seu capítulo XIV, “A Flat Earth Returns”, ridicularizava a “legião de geógrafos cristãos” que seguiram o caminho geográfico feito por um excêntrico do séc. VI.13 Na verdade, o excên-trico Cosmas Indicopleustes não teve seguidores de nenhum tipo: suas obras foram ignoradas ou des-prezadas com escárnio por toda a Idade Média.14
Como pôde Borstin disseminar o Erro Plano e o
mutation épistémologique rapide (1480-1520) [Cahiers des annales 38] (Paris, 1980).
6. Por exemplo, desde 1900: An Anonymous Introductory History of the United States (Sacramento, Calif., 1900), 2; Calista McCabe Courtenay,
Christopher Columbus (New York, 1917), 6; José Forgione, Historia general, 10ª ed., Buenos Aires, 1920), 168; J. Lynn Barnard e A. O. Roorbach,
Epochs of World Progress (Nova York, 1927), 352-53; A. Gokovsky e O. Trachtenberg, History of Feudalism (Moscou, 1934), 127; Carlos Cánepa,
Historia general de la gran familia humana (Buenos Aires, 1937), 147; Ramon Peyton Coffman e Nathan G. Goodman, Famous Explorers for Boys
and Girls (Nova York, 1942), 21; Encyclopedia Britannica (Londres, Chicago, e Nova York, 1947), vol. 6, 79; e o vol. 10, 146; Alberta Powell
Graham, Christopher Columbus, Discoverer (Nova York, 1950), 21; Ingridel e Edgar Parin d’Aulaire, Columbus (Nova York, 1955), 7; Bernardine
Bailey, Christopher Columbus: Sailor and Dreamer (Boston, 1960), 44; The American People: A History (Arlington Heights, Ill., 1981).
7. America Past and Present (Scott Foresman, 1983), 98.
8. We the People (Heath, 1982), 28-29.
9. Crane Brinton, John Christopher, e Robert Wolff, A History of Civilization: Prehistory to 1715 (Prentice-Hall). O relato se encontra na ed. de
1960, 575; ed. 1971, 513; ed. 1976, 551.
10. Joseph Chiari, Christopher Columbus (Nova York, 1979).
11. Entre os textos escolares que apresentavam as explicações corretas, estão American History (Allyn e Bacon, 1983), 24; United States History
(Addison-Wellesley, 1986), 13; The Rise of the American Nation (Harcourt Brace Jovanovich, 1982), 12; American Adventures (Steck-Vaughan,
1987), 16. Entre as enciclopédias que apresentavam a explicação correta, estão The New Encyclopedia Brittanica (1985); Colliers Encyclopedia
(1984). The Encyclopedia Americana (1987); e The World Book for Chidren (1989), que diz, abrupta, mas corretamente, “Colombo não estava
tentando ‘provar que o mundo era redondo’, como tanto se disse. Ele não tinha por quê”.
12. Daniel Borstin, The Discoverers (Nova York, 1983), 100.
13. Ibid., 109.
14. Veja o capítulo III deste livro.
___________________________________________________

56
HIS
TÓR
IAO
UTU
BR
O 2
013
público aceitá-lo tão prontamente? O trabalho de detetive sobre essa pergunta produz um resultado mais apavorante do que a idéia de cair da borda da Terra: a idéia de cair da borda do conhecimento.
A própria afirmação de que “Colombo provou que o mundo era redondo” apresenta dificuldades lógi-cas. Como Colombo jamais havia navegado ao redor do mundo, só quando os homens de Magalhães voltariam depois de haver circumnavegado o globo em 1522 é que a esfericidade do planeta poderia ser provada empiricamente. Então, se podemos dizer que o feito de Colombo foi algum tipo de prova, deve ser no sentido de que convenceu as pessoas de que a Terra era provavelmente redonda, pessoas que até então acreditavam no contrário. Mas ninguém acreditava no contrário.15
O que se quer dizer com “ninguém”? Sem dúvida algumas pessoas vivas em 3 de agosto de 1492 acreditavam que a Terra era plana. Hoje em dia algumas ainda acreditam, e não só os membros da International Flat Earth Society. Pesquisas demons-tram a ignorância geográfica das pessoas no final do século XX.16 Mas as idéias dos ignorantes não tinham efeito sobre Colombo, ou sobre sua ben-feitora Rainha Isabel. Por que deveriam ter? Os instruídos – geógrafos e teólogos – estavam lá para lhes dizer que a Terra é redonda.17 Os que se opu-seram à viagem de Colombo o fizeram por motivos completamente diferentes.
Na mente moderna, a idéia da geocentricidade está geralmente ligada à idéia de ser plana, mas são duas coisas distintas. Com algumas exceções, as pessoas instruídas antes de Copérnico (1473-1543) de fato acreditavam que os planetas – e as estrelas – giravam ao redor da Terra ao invés de ao redor do sol. Contudo, a idéia de que a Terra é esférica é nitidamente distinta da idéia de que a Terra está
no centro do cosmo. De forma nenhuma se conclui logicamente uma Terra plana a partir de um cosmo esférico e geocêntrico. Mas há uma forma histórica pela qual ambas estão conectadas: por Copérnico no século XVI, que as uniu para desacreditar os seus adversários geocêntricos.
A coragem do racionalista confrontado pelo terrível peso da tradição e suas cruéis instituições de repressão é atrativa e excitante – e infundada.
Na época em que Copérnico havia revolucionado a forma pela qual as pessoas viam os planetas – girando ao redor do sol e não ao redor da Terra –, a semente da Erro Plano havia sido plantada, mas ela não cresceu ao ponto de sufocar a verdade, senão muito mais tarde. Quando que ela triunfou, e por quê? Quem foi o responsável? Estas são as princi-pais questões deste livro. Mas a primeira pergunta é o que Colombo e seus adversários e contempo-râneos realmente pensavam em oposição ao que o Erro Plano supõe que eles pensavam.
A história de Cristóvão Colombo, o jovem e audaz racionalista que superou os ignorantes e intratá-veis religiosos e supersticiosos navegadores, está fixada no folclore moderno.
“Mas, se a Terra é redonda,” disse Colombo, “não é
o inferno que fica além do mar tempestuoso. Lá deve
estar a praia oriental da Ásia, a Cathay de Marco Polo,
a Terra de Kubla Khan, e Cipango, a grande ilha para
além dela”. “Absurdo!” disseram os vizinhos: “o
mundo não é redondo – você não consegue ver que ele
15. Charles E. Nowell, “The Columbus Question”, American Historical Review 44 (1939): 802-22.
16. Geography: An International Gallup Survey (Princeton, N. J., 1988); veja Readers’ Digest, fev. 1988 (132: 119-121); Newsweek (2 de julho, 1984
(104: 12) e 8 de ago., 1988 (112: 31); Los Angeles Times, 17 nov., 1987 (I, 3:2) e 19 nov., 1987 (II, 8:1); US News and World Report, 8 ago., 1988
(105: 11).
17. O latim foi a língua da intelectualidade na Europa ocidental pelos primeiros dezessete séculos da nossa era. Os significados antigo e
medieval das principais palavras latinas são ambíguos: orbis ou orbis terrarum (“orbe” ou “orbe das Terras”) poderia significar redondo no
sentido forte ou meramente circular (as línguas modernas são também ambíguas, como no português “mesa redonda”). Rotundus também
pode significar esférico ou meramente circular: ela deriva de rota, uma roda. As palavras globus e sphaera são mais precisas. Um globus às
vezes é uma massa indiferenciada, mas mais geralmente uma bola, esfera ou órbita, e uma sphaera é uma bola ou globo além de ser uma
figura geométrica perfeita.
___________________________________________________

57
OU
TUB
RO
20
13
é plano? E Cosmas Indicopleustes, que viveu centenas
de anos antes de você nascer, diz que ela é plana; e ele
tirou isso da Bíblia…”
[Colombo afinal consegue uma audiência com o
clero.] No hall do convento estava reunida a impo-
nente companhia – monges de cabeça rapada
trajados de preto e cinza, homens da corte elegan-
temente vestidos com garbosos chapéus, cardeais de
capas escarlates – toda a dignidade e intelectualidade
da Espanha, reunida e aguardando pelo homem e por
sua idéia. Ele detém-se diante deles com suas cartas,
e explica sua crença de que o mundo é redondo… Eles
haviam ouvido antes algo sobre isso em Córdoba, e
aqui em Salamanca, antes da comissão se reunir for-
malmente, e já tinham seus argumentos prontos.
“Você acha que a Terra é redonda, e habitada do outro
lado? Você não sabe que os Santos Padres da Igreja
condenaram essa crença?… Você vai contradizer os
Padres? As Sagradas Escrituras também nos dizem
expressamente que os céus são esticados como uma
tenda, e como isso pode ser verdade se a Terra não
é plana como o solo sobre o qual se assenta a tenda?
Essa sua teoria parece herética”.
Colombo poderia muito bem se borrar de medo à
menção de heresia; pois havia uma nova Inquisição
marchando convicta, com seu elaborado sistema
de quebrar ossos, apertar carne, aplicar torniquete,
enforcar, queimar e mutilar hereges. O que seria da
idéia se ele acaso fosse transferido para essa enérgica
instituição?”18
A coragem do racionalista confrontado pelo terrí-vel peso da tradição e suas cruéis instituições de repressão é atrativa e excitante – e infundada.19 Cristóvão Colombo era menos um racionalista do que uma combinação de entusiasta religioso com empreendedor comercial; e ele gostava do tipo de fortúnio que ocorre uma vez a cada meio milênio. Colombo viveu na época certa: os turcos estavam bloqueando as antigas rotas terrestres até a Índia e a China; os portugueses estavam buscando uma rota marítima oriental ao redor da África e esta-belecendo lucativos entrepostos comerciais nesse processo; os “monarcas católicos” Fernando e Isabel estavam unificando a Espanha e podiam ser persuadidos a passar à frente de seus compe-tidores portugueses. Colombo argumentava que uma rota direta para o Oriente abriria as riquezas da China para os comerciantes católicos e as suas almas para os missionários católicos. Ele não era o último a alimentar a ilusão de que os asiáticos estavam prontos para atirar-se de corpo e alma aos pés dos europeus.
As especulações de Colombo sobre navegar para oeste até as Índias (um termo que então signifi-cava o Oriente Distante inteiro) eram parte de uma ampla frente de opiniões já promovidas nessa dire-ção. Colombo lia muito e sabia que outros haviam defendido que entre a Espanha e as Índias o mar era curto e poderia ser atravessado em poucos dias.20 Paolo dal Pozzo Toscanelli, o astrônomo florentino, respondeu a uma carta de 1474 de um cânone de Lisboa que uma viagem ocidental seria viável, utilizando no caminho ilhas como locais de
18. James Johonnot, compilador e arranjador, Ten Great Events in History (Nova York, 1887), 123-30.
19. Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, 3 vols. (escrito em meados de 1560; ed. Gonzalo de Reparaz, Madri, 1927), que contém um
resumo do próprio Diário de Colombo; C. Colombo, Journal of the First Voyage to America, ed. Van Wyck Brooks (Nova York, 1924); Oliver Dunn
e James E. Kelley Jr., The Diario of Christopher Columbus’ First Voyage to America 1492-1493 Abstracted by Fray Bartolomé de las Casas (Norman,
Okla., 1989); Ferdinando Colombo, Historia del almirante (1571) (eu uso a tradução de Benjamin Keen, The Life of the Admiral Christopher
Columbus by His Son Ferdinand [New Brunswick, N. J., 1959]); Pietro Martire d’Anghiera (1457-1526), Decadas del nuevo mundo (Buenos Aires,
1944). Para o relato de Rodrigo Maldonado em 1515 do encontro da comissão em Salamanca, veja Samuel Eliot Morison, Admiral of the Ocean
Sea (Boston, 1942), 88; e o alegado relato de testemunha em Salamanca de Alexandre Geraldini, escrito em 1520-1524, mas só publicado
muito tempo depois: Itinerarium ad regiones sub aequinoctiali plaga constitutas (Roma, 1631). Veja W. G. L. Randles, De la terre plate au globe
terrestre (Paris, 1980), 29. Fontes secundárias úteis são George Nunn, The Geographical Conceptions of Columbus: A Critical Consideration of
Four Problems (Nova York, 1924), Felipe Fernandez-Armesto, Columbus and the Conquest of the Impossible (Nova York, 1974), Jacques Heers,
Christophe Colombe (Paris, 1981), Cecil Jane, Select Documents Illustrating the Four Voyages of Columbus, 2 vols. (Londres, 1930-1933), e acima
de tudo Morison, Admiral e The European Discovery of America: The Southern Voyages (Nova York, 1974). A obra-prima de Morison desafiou
a corrente do Erro Plano mas não interrompeu seu andamento. Um relato popular e literário foi o de Salvador de Madariaga, Christopher
Columbus: Being the Life of the Very Magnificent Lord Don Cristobal Colon (Nova York, 1940).
20. Colombo usou uma tradução latina de 1485 do Livro de Marco Polo, uma tradução italiana da História Natural de Plínio impressa em
1489, a Imago mundi de Pierre d’Ailly publicada entre 1480 e 1483, e uma edição de 1477 da Historia rerum ubique gestarum de Aeneas Silvius
___________________________________________________

58
HIS
TÓR
IAO
UTU
BR
O 2
013
abastecimento de água e de provisões. Ele enviou--lhe um mapa que mostrava muitas pequenas ilhas no mar ocidental entre a Europa e as Índias. Colombo, sabendo da correspondência, obteve de Toscanelli uma cópia da carta e do mapa. Em 1492, no mesmo ano em que Colombo navegou em direção ao ocidente, Martin Behaim, que havia visitado Lisboa em 1484, voltou para sua cidade natal de Nuremberg e construiu um globo da Terra que mostrava um mar aberto para o ocidente até o Japão e a China. Em 1493, Hieronymus Munzer escreveu ao Rei João II de Portugal para propôr a viagem a oeste, sem saber que em 12 de outubro de 1492, Colombo e sua tripulação já haviam avistado a ilha de “San Salvador” (possivelmente a ilha de Watling nas Bahamas). Colombo acreditava que estava num arquipélago que incluía o Japão.
Nenhuma das fontes mais antigas, incluindo o próprio Diário de Cristóvão Colombo conforme apresentado por Las Casas, e o resumo de Fernando Colombo das razões por que seu pai fez a viagem, em sua História do Almirante, levanta qualquer questão sobre a tal redondeza21. Nem os relatos dos Cabotos ou outros exploradores antes da circum-navegação de Magalhães. A razão era que não havia questionamento. De onde, então, saíram essas sinistras descrições do explorador detido diante dos seus ignorantes inimigos?
Na verdade, Colombo realmente tinha adversá-rios. Por volta de 1484, Colombo propôs a viagem ao Rei João de Portugal, mas o rei preferia conti-nuar para o sul e o leste ao longo da costa africana, uma política que estava obtendo grandes retornos econômicos, ao invés de se arriscar na passagem a ocidente. Quando Colombo voltou-se para os monarcas espanhóis Fernando e Isabel, encon-trou-os preocupados com o término do processo da unificação da Espanha pela conquista do reino mouro de Granada. É verdade que os monar-cas católicos haviam estabelecido a Inquisição
espanhola como um Conselho de Estado em 1483, mas essa instituição, focada primeiramente con-tra judeus convertidos que recaíam em sua própria religião, não tinham nenhum interesse na forma do globo.
Além das hesitações políticas, havia obje-ções intelectuais. Os monarcas espanhóis indicaram Colombo a uma comissão real dirigida por Hernando de Talavera, confessor da Rainha Isabel e posterior Arcebispo de Granada.22 Essa comissão era na verdade um comitê secular ad hoc composto de conselheiros leigos e clericais; não era de forma alguma um conselho eclesiástico, que dirá uma convenção inquisitorial. Tratavam-se de homens práticos tentando decidir se era prática uma passagem a ocidente.
Depois de alguns atrasos, Talavera convocou um encontro do comitê um tanto informal em Córdova no início do verão de 1486, e outro no Natal em Salamanca, e ainda outro em 1490 em Sevilla. O encontro da comissão em Salamanca não foi uma convenção de estudiosos, e a universidade estava envolvida somente na medida em que o comitê se reuniu em uma das suas faculdades. Das objeções colocadas a Colombo, nenhuma envolvia questões sobre a esfericidade. Até mesmo a estranha objeção de que uma pessoa tendo navegado “para baixo” na curva da Terra poderia descobrir ser difícil navegar “para cima” de volta supunha a esfericidade.23 Mais convincentes, os adversários, citando as medidas tradicionais do globo de acordo com Ptolomeu, argumentavam que a circunferência da Terra era grande demais e a distância muito longa para per-mitir uma passagem ocidental segura. Com razão eles temiam que se poderiam desperdiçar vidas e riquezas numa viagem possivelmente longa. O comitê ficou suspenso sem nenhum acordo, e os soberanos espanhóis, ocupados com suas guerras contra os mouros, não deram resposta.
Piccolomini. Morison, Admiral, 92.
21. Ferdinando Colombo, A vida do Almirante, capítulos 6-7.
22. Veja Fidel Fernandez, Fray Hernando de Talavera: Confesor de los reyes catolicos y primer arzobispo de Granada (Madri, 1942).
23. Essa objeção pode vir de “Sir John Mandeville” no século XIV, que escreveu sobre viajar “para cima” ou “para baixo” na esfera: veja o
capítulo três.
___________________________________________________

59
OU
TUB
RO
20
13
Nenhuma de suas objeções colocava em questão a esfericidade da Terra.
Enquanto isso, entre 1486 e 1490, Colombo cui-dadosamente preparou os cálculos com os quais defenderia seu plano. Em 1490, a comissão final-mente decidiu contra ele. Novamente, nenhuma de suas objeções colocava em questão a esfericidade da Terra. Confiando em Ptolomeu e Agostinho, eles argumentavam que o mar era grande demais; que a curvatura do planeta proibiria o retorno desde o outro lado do mundo; que poderia não haver habitantes no outro lado, porque eles não seriam descendentes de Adão; que somente três das tra-dicionais cinco zonas climáticas eram habitáveis; que Deus não teria permitido que cristãos perma-necessem ignorante de terras desconhecidas por tão longo tempo.24
As dúvidas do comitê eram compreensíveis, pois Colombo havia cozinhado seus próprios argumen-tos. A estimativa moderna da circunferência do planeta é de cerca de 40mil quilômetros (km). A Terra é dividida latitudinalmente e longitudinal-mente em 360 graus, e o comprimento de um grau de latitude podia ser grosseiramente medido por observações do sol, como Eratóstenes havia feito quase dois milênios antes; a estimativa moderna é de cerca de 111km. Segue-se que 1 grau de longitude do equador é aproximadamente a mesma estima-tiva que 1 grau de latitude.25 Colombo precisava persuadir Fernando e Isabel que a viagem através do oceano não era impossivelmente longa, e para isso ele precisava reduzir duas coisas: a quantidade
de graus ocupada pelo mar vazio, e a distância entre os graus.
Os cálculos padrões aceitos pela maioria dos geó-grafos no século XV eram aqueles de Cláudio Ptolomeu (c. 150 d.C.). Ptolomeu acreditava que o planeta era coberto pelo oceano, exceto pela grande massa de Terra habitada, que ele chamava de oikoumene e à qual nós nos referimos como Eurásia e África. Oikoumene seria melhor traduzido aqui por “o mundo conhecido”. De leste a oeste, o mundo conhecido de Ptolomeu ocupava cerca de 180 graus, deixando 180 graus para o oceano.26 Mas Colombo também lia Pierre D’Ailly, que dava uma estimativa de 225 graus para a Terra e 135 para o mar.27 Isso era muito melhor para Colombo, mas ainda não era bom o bastante. Argumentando que as viagens de Marco Polo haviam mostrado que a massa de terra asiática se estendia muito mais para o leste do que era conhecido por Ptolomeu ou D’Ailly, Colombo acrescentou mais 28 graus de Terra, somando 253 graus contra 107 do oce-ano. Como o Japão era (Colombo acreditava nisso por causa de Marco Polo) bem a leste da China, ele subtraiu mais 30 graus do mar, chegando a 77. Então, como planejava partir das Ilhas Canárias e não da própria Espanha, ele diminuiu mais 9, dei-xando 68. Mesmo isto ainda não era o bastante, e, num esplêndido gesto final, ele decidiu que D’Ailly havia errado 8 graus, para começar. Na época em que tinha terminado, ele havia reduzido o oceano a 60 graus, menos do que um terço da estimativa moderna dos 200 graus de distância em direção a oeste, desde as Ilhas Canárias até o Japão.28
Não contente em manipular a longitude, Colombo manipulou também a milha. Um grau de longitude no equador é aproximadamente igual a um grau
24. Morison, Admiral, 97-98. Heers, Christophe Columb, 190-91, oferece uma refutação detalhada da figura do jovem herói diante de um
conselho ignorante. Heers sugere algo interessante: Irving pode ter lido o caso de Galileu no de Colombo.
25. Geógrafos modernos sabem, mas os navegadores então não sabiam, que a Terra é um pouco maior na direção leste-oeste do que na
norte-sul; de qualquer modo, a diferença é desconsiderável a título de navegação. Só na metade do século XVIII foi possível medir milhas
náuticas com precisão.
26. Ele também se estendia de 63 graus ao norte para 16 graus ao sul.
27. D’Ailly seguiu Marinus em seu Cosmographia tractatus. Pelos cálculos modernos, a oikoumene de Ptolomeu, da ponta da Ibéria até a ponta
da Sibéria, cobre cerca de 200 graus, então Marinus na verdade estava mais perto da marca do que Ptolomeu. Marinus (c. 140 d.C.) era um
contemporâneo mais velho de Ptolomeu.
28. Colombo foi influenciado por sua leitura do livro apócrifo 4 Esdras (ou 2 Esdras na maioria das edições dos apócrifos), 6:42, em acreditar
que o planeta era seis sétimos de terra. Morison, Admiral, 71.
___________________________________________________

60
HIS
TÓR
IAO
UTU
BR
O 2
013
de latitude, e D’Ailly citava o astrônomo árabe Al-Farghani ou “Alfragano” (século IX) como determinando um grau de latitude em 56-2/3 milhas.29 Essa estimativa foi usada por Colombo – com um pequeno toque. Ele escolheu supor que as milhas de Alfragano eram as milhas romanas, mais curtas, ao invés das náuticas, mais longas. Colombo traduziu a estimativa de Alfragano em 45 milhas náuticas. Como Colombo planejava atra-vessar o oceano consideravelmente ao norte do equador, ele ajustou isso para cerca de 40 milhas náuticas (cerca de 74km) por grau.
Ao agrupar essas estimativas, Colombo calculou a distância entre as Canárias e o Japão em cerca de 4.450km. A estimativa moderna é de 22mil km. Isto é, ele estimou a viagem em cerca de 20% da sua distância real. Se Deus ou a sorte não tivesse colo-cado a América – as Índias ocidentais – no caminho para pegá-lo, Colombo e suas tripulações poderiam de fato ter perecido, não por cair da Terra, mas de fome e de sede. Colombo tornou vitorioso seu argumento junto aos seus patrões ao acrescentar que a viagem podia provavelmente ser interrom-pida em ilhas pelo caminho.
Depois de uma longa manobra política e muitas frustrações, finalmente, em abril de 1492, Colombo obteve o apoio da Rainha Isabel e partiu em via-gem no terceiro dia de agosto.30 Os adversários de Colombo, ignorantes de seu paradeiro, tinham nesse caso o conhecimento e a razão mais a seu lado do que ele. Ele tinha a habilidade política, a obstinada determinação, e a coragem. Eles tinham uma idéia nebulosa, mas bastante precisa do tama-nho do globo. Como esses supostos ignorantes clérigos da Idade Média vieram a ter um conheci-mento tão preciso?
Tradução por Emílio Costaguá
29. Os Elementa astronomica de Alfragano foram traduzidos do árabe para o latim por Gerardo de Cremona e Joannes Hispalensis no século XII.
30. Morison fornece um relato claro sobre a política e as preparações em Admiral, 79-149.
___________________________________________________

61
OU
TUB
RO
20
13