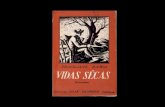Graciliano nº 9
-
Upload
imprensa-oficial-graciliano-ramos -
Category
Documents
-
view
270 -
download
12
description
Transcript of Graciliano nº 9

MEMÓRIA CULTURAL
REVISTA DA CEPAL/IMPRENSA OFICIAL GRACILIANO RAMOS - MACEIÓ - ANO IV - Nº9 - JUNHO/JULHO 2011
OLHARES MÚLTIPLOS SOBRE O PASSADO DE ALAGOAS
GRACILIANO Nº 9 R$ 5,00


Há três anos, em setembro de 2008, nascia a revista GRACI-LIANO, uma publicação editada pela Imprensa Oficial Graciliano Ramos/Cepal com o objetivo de abordar temas relacionados à cultura e a aspectos geográficos e sociais de Alagoas. Nobre, seu propósito sempre foi o de ofe-recer um espaço democrático à reflexão, a partir da visão de es-pecialistas.
Durante esses três anos, di-versos assuntos foram deba-tidos nas páginas da revista, a exemplo de Graciliano Ramos, teatro alagoano, Aurélio Buar-que de Holanda, rio São Fran-cisco e Lêdo Ivo, entre outros. O caráter educativo, cultural e científico da revista afirmava-se graças a uma linha editorial que primou sempre pela riqueza e a abrangência do seu conteúdo. Por esse motivo, ganhou leitores fiéis e a colaboração preciosa de nomes importantes do cenário intelectual alagoano.
E nada melhor para celebrar essa trajetória do que trazer ao
leitor um novo projeto gráfico da GRACILIANO. Além da impres-são em papel Lux Cream, que garante maior durabilidade da publicação, a revista tem agora linhas leves, contemporâneas, com uma tipografia mais forte, o que facilita a leitura. Essa al-teração no visual chega acom-panhada da mudança editorial: o leitor poderá contar com se-ções permanentes, a exemplo de Documenta, que será lança-da na próxima edição e reúne documentos relativos ao tema, e Saiba Mais, que traz, já neste número, indicações de fontes para se obter mais informações acerca do assunto tratado.
Nesta edição, apresentamos um resgate da Alagoas antiga, em reportagens e artigos que revisitam lugares, histórias e bens culturais importantes para a formação da cultura local, como os primeiros marcos da capital alagoana, o movimento em torno do chorinho, o papel de inserção social das filarmô-nicas e os tempos dos festivais
universitários de música. Resga-tamos ainda a “rebelião” coman-dada pelo grupo artístico Vivarte e a história por trás do Gogó da Ema (coqueiro que foi ícone de Maceió durante alguns anos). Para os amantes das artes cêni-cas, um presente: uma entrevis-ta com o ator, diretor e professor Ronaldo de Andrade sobre o papel da Associação Teatral das Alago-as (ATA), fundada por Linda Mas-carenhas, e um perfil de uma das personagens mais emblemáticas do Estado - a polêmica escritora e atriz Anilda Leão, uma mulher que, nos anos 50 e 60, desafiou as regras sociais vigentes para viver como queria, livre e feliz, ao lado do homem que amou.
Como se vê, uma revista feita sob medida para quem valoriza a memória e o prazer que as boas lembranças podem trazer. Cheia de nostalgia para leitores de to-das as idades, essa edição é um passeio por uma parte de Alago-as que ficou no passado, mas que, ainda hoje, permanece múltipla e marcante.
AOS LEITORES

CEPAL / IMPRENSA OFICIAL
GRACILIANO RAMOS
GOVERNO DO ESTADO
DE ALAGOAS
ALBA, UM ESTÚDIO SEM PAREDES
Nossa capa
Janayna Ávila
Coordenadora editorial
Janaina Amado e
Roberto Amorim
Organização dos artigos
Conselho editorial
Fernando Fiúza
Janayna Ávila
Milena Andrade
Sidney Wanderley
Simone Cavalcante
Os textos assinados são de exclusiva responsabilidade do autor.
Graciliano é uma publicação da CEPAL / Imprensa Oficial Graciliano Ramos
Michel Rios
Projeto gráfico / Diagramação
Arthur de Almeida e Vanessa Mota
Estagiários
Guilherme Lamenha
Colaboração
Marli Josefi na
Revisão
Contatos:
(82) 3315.8303 | [email protected]
ISSN 1984-3453
EXPEDIENTE
Moisés de Aguiar
Diretor-presidente
José Roberto Pedrosa
Diretor-administrativo Financeiro
Hermann de Almeida Melo
Diretor-comercial
Teotonio Vilela Filho
Governador de Alagoas
José Thomaz Nonô
Vice-governador de Alagoas
Luiz Otavio Gomes
Secretário de Estado do Planejamento e do
Desenvolvimento Econômico
Como representar visualmente a memória?
O questionamento, feito pelos integrantes
do Estúdio Alba, serviu, na verdade, como
inspiração para a criação da capa desta edição
da GRACILIANO. “Percebemos que era
muito abstrato tratar de memória. Algo mais
individual, impossível”, explica Herbert Loureiro,
que divide o núcleo criativo do Alba com o também
designer David Nunes. Diante do desafio, a solução
foi investir num dos “motores” da memória: a
relação com os símbolos. “Queríamos algo que
causasse estranhamento em quem a visse, que
rolasse mesmo um questionamento do que aquela
imagem significa”.
Criado há apenas dois anos, o Estúdio Alba está
presente na identidade visual e em campanhas
de diversas empresas alagoanas, como o Toscana
Vinho e Café, a casa de artigos de festa Mabel e
o colégio Contato. Em todos, sobressai um trabalho
inventivo e original.
A parceria do Alba com a Imprensa Oficial Graciliano
Ramos/Cepal não começa aqui. As ilustrações do livro
Upiara, da escritora Eliana Maria, um dos cinco
títulos infanto-juvenis da coleção Coco de Roda, não
de autoria do estúdio. Sem medo de experimentar,
os designers apostaram no uso de recortes de papel,
fotografia e ilustrações digitais. O uso de matérias-
primas inusitadas é, inclusive, uma das características
mais marcantes do Alba, que já utilizou aquarela, spray
e até mesmo massa de modelar.
Nascido como estúdio de design gráfico, ilustração
e fotografia de moda, o Alba já descobriu que a
criatividade é o meio pelo qual poderá transformar
pensamentos em emoções. “Por isso, mantemos as
portas abertas aos mais diversos segmentos. Hoje
somos um estúdio sem paredes”, diz David Nunes.
CONTATOS: www.estudioalba.com | [email protected]
Os designers Herbert Loureiro e David Nunes, autores da capa desta edição
Michel Rios

O “CANTOCHÃO” DO 3º FESTIVALUNIVERSITÁRIODE MÚSICA
O FIO DA MEMÓRIAJANAYNA ÁVILA
ROBERTO AMORIM
ROBERTO AMORIM
ROBERTO AMORIM
VANESSA MOTAROBERTO AMORIM
MACLEIM
EDUARDO ROSS
LUIZ CARLOS FIGUEIREDO
EDBERTO TICIANELI
GERALDO DE MAJELLA
MARCOS DE FARIAS COSTA
DOUGLAS APRATTO TENÓRIO
REPORTAGEMREPORTAGEM
REPORTAGEMREPORTAGEM
REPORTAGEMREPORTAGEM
REPORTAGEMREPORTAGEM
ARTIGO ARTIGO
ARTIGO ARTIGO SAIBA MAIS
ARTIGO
ARTIGO ENTREVISTA
ARTIGO
PERFIL
MACEIÓ: DA ELEVAÇÃOA VILA ÀS TURBULENTASPRIMEIRAS DÉCADASREPUBLICANAS
VOCAÇÃO PARA A ARTE
A REBELIÃODOS PINCÉIS
A DINASTIA DAS SOCIEDADES MUSICAIS EM ALAGOAS
A ÉPOCA DE OURO DO CINEMA EM MACEIÓ
NO RUMODA MEMÓRIA
ARNALDO GOULART, IMAGENS DE UM LEGADO FOTOGRÁFICO
O INESQUECÍVEL GOGÓ DA EMA
LIVROSONDE PESQUISARFILMES
DAS VÁRIAS FORMAS DE LER, EXPOR, VENDER E APRECIAR LIVROS EM MACEIÓ: MEMÓRIAS
HOMEM DEPENSAR EFAZER TEATRO
AQUI,PIXINGUINHAE OUTROSCHORÕES
06
26
12
37
76 84 90
40
58 68
44
16
52
72
SUMÁRIO

JANAYNA ÁVILA
ILUSTRAÇÕES: ESTÚDIO ALBA
Conceitos e impressões sobre a nossa preciosa capacidade de lembrar
O FIO DA MEMÓRIAConceitos e impressões sobre a nossa
MEMÓRIA
REPORTAGEM
junho/julho 20116


Qual a importância da me-mória para você? Já se imaginou sem seu arquivo de lembran-ças e, consequentemente, sem referências do passado? Para muitas pessoas, a capacidade de poder saborear novamente, ainda que apenas na imagina-ção, emoções já vividas é não apenas uma necessidade vital, mas principalmente um dos maiores prazeres da vida.
Se a memória, conforme pesquisas, é a base do conhe-cimento, deve ser estimulada e preservada, afi nal é somente graças a ela que atribuímos sig-
nifi cado ao cotidiano, acumu-lando vivências para utilização durante toda a vida.
Como experiência particu-lar, a relação com a memória varia de acordo com cada um e estará sempre relacionada a impressões sensoriais. Por essa razão, é comum voltarmos ao passado somente sentindo aromas e sabores, revendo ima-gens ou ouvindo sons.
E o que dizer da memória e da relação com o lugar em que vivemos? A memória coletiva sobre uma cidade, um Estado ou um país está diretamen-
te relacionada à convivência com um conjunto de símbolos culturais que, uma vez desa-parecidos, sobrevivem na lem-brança de quem os conheceu e, através de registros materiais, podem ser perpetuados para a posteridade.
Outro aspecto da relação entre memória e território diz respeito aos “fi lhos ilustres” que deixam a terra natal. Alagoas sabe bem o que signifi ca isso. Na primeira metade do século 20, nomes como Aurélio Buar-que de Holanda, Graciliano Ra-mos, Paulo Gracindo, Jorge de
“Nada do que é depositado na memória se perde, ela é um computador que continua acumulando dados a vida inteira, dados que nem sempre são utilizados, porque o homem muitas vezes parece um transatlântico que navega com apenas uma cabine ocupada. Deveríamos conseguir usar continuamente esse imenso acúmulo de dados, mantê-los em exercício, combiná-los entre si, multiplicá-los, reintroduzi-los no curso de nossos pensamentos”.
Saul SteinbergArtista gráfico e cartunista
Qual a importância da me-
dados que nem sempre são utilizados, porque o homem muitas
junho/julho 20118

Lima, Lêdo Ivo e tantos outros partiram de Alagoas em busca de maiores oportunidades no Rio de Janeiro e em outras ca-pitais. Apesar da distância, as marcas do lugar onde nasceram impregnaram suas obras. “No meu caso, o lugar do nascimen-to, o berço, a origem têm muita importância. De modo que mi-nha poesia e minha prosa re-fl etem muito esse universo da infância e da adolescência e até da ancestralidade, que eu evoco à circunstância de a família da minha mãe ter ancestralidade dos índios caetés”, afi rmou o escritor Lêdo Ivo, em entrevista
à jornalista Milena Andrade, pu-blicada na GRACILIANO nº 7.
Quando perguntado do que teria saudade em Maceió, o ala-goano respondeu: “Do desapa-recido. Da minha infância. Não é nem saudade, é lembrança. Lembranças até obsessivas”. Quando o assunto é a memória de algo doloroso, Lêdo Ivo foi
taxativo: “Do que eu não tenho saudade, apago. Não dou opor-tunidade de nada me incomo-dar ou me perseguir. Minha me-mória é seletiva”, afi rmou.
O fi lólogo alagoano Auré-lio Buarque de Holanda – cujo centenário de nascimento foi comemorado em 2010 – deixou Alagoas no fi nal dos anos 1930, mas costumava retornar com frequência. Mesmo longe, não esquecia as praias de Alagoas, a gastronomia, as reuniões fes-tivas com os amigos, a cultura popular e os pontos de encontro da boemia. Era sempre a sauda-de que o fazia voltar.
Como toda memória implica passagem de tempo, o poeta e revisor alagoano Sidney Wan-derley costuma “visitar” a Viço-sa de sua infância – sua cidade natal – por meio das lembran-ças: “Estamos sempre voltando pra casa. O outro nome de casa é memória. O outro nome de memória é ontem, infância e,
no meu caso, Viçosa. Não exa-tamente a Viçosa que dista 85 km de Maceió, mas a que resis-te revolta e menina na crosta e no manto de meu peito. Não a Viçosa que inventaram e onde nasci, senão a que inventei e fi z nascer. Uma cidade (cama, teta, regaço, afago e aconchego) para consumo próprio e exclusivo. Uma cidade de todos e, parado-xal e concomitantemente, uma cidade só minha e de mais nin-guém”, declara.
A historiadora Janaina Ama-do, que sempre fez da memória sua matéria-prima por dever de ofício, é objetiva quanto ao conceito: “A memória serve para dar identidade às pesso-as, povos, sociedades, culturas. É o conjunto de memórias que nos faz ser o que somos, indivi-dual e coletivamente. Alguém com amnésia total logo pergun-ta: ‘Quem sou? Onde estou?’”, declara.
Já o poeta e professor uni-versitário Fernando Fiúza re-corre à literatura para defi nir a capacidade de guardar momen-tos já vividos: “Para que serve a memória? Pra tanta coisa. A primeira é nos distinguir dos animais, se bem que os gatos e cachorros têm um tipo de me-mória. Por exemplo, é o cachor-
Como experiência particular, a relação com a memória varia de acordo com cada um e estará sempre relacionada a impressões sensoriais
junho/julho 20119

ro de Ulisses que o reconhece quando volta à Ítaca. Mas o pro-cesso de síntese só o homem é capaz. Só o passado existe; o presente já passou (é passado), e o futuro é um desejo. Mas a me-mória empregada na literatura é involuntária, Proust aprendeu isto com Bergson”, diz.
Dono de uma memória pri-vilegiada, Fiúza afi rma que evita revisitar lugares e rever pessoas do passado para não interferir nas lembranças: “Não cultivo a memória, ela é que me cultiva, anda atrás de mim. Tenho facili-dade de lembrar cenas, cheiros, rostos, números, datas, princi-palmente, mas difi culdade para nomes de pessoas, o que me causa às vezes embaraço. Pre-fi ro não voltar aos lugares da infância, prefi ro guardá-los na memória como eram. Não gosto de encontros celebrativos com colegas, o que se cultiva bastan-te em Maceió. Às vezes relendo um livro, cuja primeira leitura foi na juventude, imagino escrever uma autobiografi a só com cita-ções, pois elas dizem o que me interessava naquele momento inaugural. Por exemplo, recente-mente reli Otelo, de Shakespea-re, o que não fazia há 30 anos, e relendo o que sublinhei, veio-me claramente o que pensava da vida naquele momento. Guardo todas as cartas que me man-daram, tenho um armário com
LEMBRANÇAPara ilustrar as ideias sobre memória discutidas aqui, trazemos os poemas Cidade, de Sidney Wanderley, e Animais, de Fernando Fiúza. Em ambos, a prova de que as lembranças serão sempre muito particulares.
CIDADESidney Wanderley Cidade,cada um inventa a sua. Há quem a descreva rubra,negra, lilás, gris, solar,repleta ou despovoada,punhal ou regaço– quase sempre encobertapela densa pátina que enevoa a memóriaou pelas cores febris da fantasia. Cidade é tão só um jeitode se ver e de ver-se,um jeito de esquecere de lembrar.
ANIMAISFernando Fiúza
Um cardume de agulhas me segredaque ouro é luz e nada mais;a borboleta azul fugiu da selvae foi saber do mar no cais.
Meus cavalos passeiam no passado– melados e macios quartais –na beira da lagoa, no vão do pasto,no sonho, nos canaviais.
Extravagante, galo-de-campina,patativa, papa-capim,ferreiro, não, ferreiro mais doíaque cantava, canário, sim.
A maldição de Poe, manca e perfeita,de berço e graça: Berenice– adorava perfumes, a siamesa –quando parti morreu de triste.
Hoje me restam cobras e lagartos,famintas mariposas e morcegos– meus bichos todos mortos no cercadoda memória também morta de medo.
Fernando Fiúza. Em ambos, a prova de que as lembranças serão sempre muito particulares.
palmente, mas difi culdade para nomes de pessoas, o que me causa às vezes embaraço. Pre-fi ro não voltar aos lugares da infância, prefi ro guardá-los na memória como eram. Não gosto de encontros celebrativos com colegas, o que se cultiva bastan-te em Maceió. Às vezes relendo um livro, cuja primeira leitura foi na juventude, imagino escrever uma autobiografi a só com cita-ções, pois elas dizem o que me interessava naquele momento inaugural. Por exemplo, recente-mente reli
A maldição de Poe, manca e perfeita,
Hoje me restam cobras e lagartos,
– meus bichos todos mortos no cercadoda memória também morta de medo.
junho/julho 201110

elas, mas nunca as reli. Pesa-me jogar papel fora. Não tenho pro-blema para lembrar, mas para esquecer. Já fui amaldiçoado por ter memória demais. Pessoas às vezes têm medo de falar ou fazer coisas na minha frente porque sabem que lembrarei, isso desde criança”.
O autor dos livros O Vazio e a Rocha, Tira Prosa e Alagoado não guarda boas lembranças da infância e da adolescência. Para
ele, não há um sabor especial em relembrar o passado. “Não idolatro a infância, não a acho a idade de ouro, nem a adolescên-cia. Fui asmático e sofri por um ano de steocondrite nos joelhos, o que me impediu de jogar bola e andar de bicicleta. Minha vida melhorou a partir dos 20. Acho meio ridículo fi car idolatrando o passado, é masoquismo. A vida é perda, só resta resignarmo-nos com tão dura verdade”, declara Fiúza.
Na opinião do antropólogo e professor universitário Bru-
no César Cavalcanti, a memória serve, também, para alertar-nos que nem tudo precisa ser arma-zenado: “A memória é funda-mental para construir o presente e para a projeção do futuro. Logo, ela não pode ser tomada como uma espécie de apego ao pas-sado. Nesse sentido, é inevitável recorrermos à memória. Mas, por outro lado, uma de suas fun-ções é, inclusive, nos lembrar a necessidade de esquecer. É um
aparente paradoxo esse, mas que chama a atenção sobre o ex-cesso de memória como algo que pode ser prejudicial à vida, à ino-vação. Claro, é importantíssima a tarefa de lembrar, de rememorar o vivido, o passado, de preservar lembranças, sentimentos, co-nhecimentos, técnicas etc. Tam-bém não podemos esquecer que a função de rememorar não é estática, ou seja, reconstruímos constantemente as nossas lei-turas do passado através da me-mória, quer se trate da memória individual quer, notadamente, da
memória social”. Para ele, nem sempre o
passado é reconfortante. Não raro, é uma passagem para lembranças ruins, memórias dolorosas: “Visitamos o pas-sado por diferentes razões e dimensões. Por um lado, há o passado de nossa própria tra-jetória, a nossa vida. Nessa dimensão, não sei se se trata sempre de uma ‘visita’ propria-mente, daquilo que evocamos como saudade, por exemplo, pois, afi nal de contas, o passa-do muitas vezes nos perturba, é ele que visita-nos sob a for-ma de problemas, de fi xações, de traumas etc. Por outro lado, posso dizer que visito o pas-sado social e cultural com fre-quência, e por dever de ofício, numa atividade profi ssional de estudos. Nesse caso, é algo distinto do passado individu-al, das referências que nos são caras e constituintes, tenha-mos com elas uma relação har-moniosa ou confl itante, não é mesmo?”, diz.
Seja qual for a forma com que cada um lida com a me-mória, o fato é que ela é o ele-mento defi nidor de nossa iden-tidade. Por isso, para o bem e para o mal, lembrar é e sempre será uma capacidade preciosa, que torna ainda mais fasci-nante a nossa aventura sobre a Terra.
A memória é fundamental para construir o presente e para a projeção do futuro. Logo, ela não pode ser tomada como uma espécie de apego ao passado
Bruno César Cavalcanti | Antropólogo

VOCAÇÃOPARA A VOCAÇÃOPARA A VOCAÇÃO
ARTE
ROBERTO AMORIM
PERFIL
Aos 88 anos, a atriz, cantora e escritora alagoana Anilda Leão guarda na memória as transformações culturais de Alagoas nas últimas sete décadas
junho/julho 201112

Anilda Leão, a mulher que desafiou o conservadorismo alagoano

Anilda Leão em apresentação da peça Onde Canta o Sabiá, estreada em 1956, em que contracenava com Linda Mascarenhas e grande elenco
No último Carnaval, lá estava ela no palco do Baile de Másca-ras dos Seresteiros da Pitangui-nha. Fantasiada, animada e fa-lante, Anilda Leão chega aos 88 anos com a felicidade dos que aceitam, enfrentam as dificul-dades e cumprem bem a sina de ser artista.
Atriz, poeta, cantora e con-tista, Anilda começou cedo na vida artística. Aos 13 anos, Lin-da Mascarenhas (1895-1991) convocou a talentosa jovem para cantar no Teatro Deodoro numa festa da Federação Ala-goana pelo Progresso Feminino. “Em público, as pernas tremiam e tive de encostar-me ao pia-no. O público me dava pânico, mas venci a timidez e fui até o fim, sendo abraçada e aplaudi-da com muito entusiasmo. Dias depois, os jornais teciam co-
mentários a respeito da jovem que cantava com tanta beleza a valsa Bodas de Prata, em ar-tigos de Luiz Lavenère e padre Hélio Lessa”, conta Anilda, com a emoção da saudade do tempo das descobertas culturais.
Como atriz de teatro, a es-treia veio na década de 60 na peça regional Bossa Nordeste, dirigida por Lauro Costa. Sua atuação rendeu o prêmio Reve-lação Artística. Nos espetáculos seguintes ganhou a experiência para começar enfrentar o cine-ma e a televisão.
Na lista de trabalhos audio-visuais estão Lampião e Maria Bonita, da Rede Globo, quando contracenou com Tânia Alves e Nelson Xavier; o especial Ór-fãos da Terra, também da Globo; Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues; Memórias do Cárcere, de Nelson
Pereira dos Santos, com Carlos Vereza e Glória Pires; além de curtas-metragens alagoanos do cineasta Almir Guilhermino.
Mulher de palavra firme e ideias de vanguarda, Anilda não se contentava apenas com o palco e os aplausos. Queria sempre ir além. Não demorou a se engajar na luta pelos direitos das mulheres e na valorização dos artistas locais. Não se im-portava em sacudir os rigorosos costumes da sua família. Sem-pre trilhou o caminho da liber-dade e, desde menina, foi do lado contrário das regras, proibições, tabus e preconceitos.
“Parece até que eu tinha prazer em fazer certas coisas, como se quisesse com isso acordar, sacudir o jeito de ser de minhas irmãs, acomoda-das, quietas e tão submissas às pressões da época. Certa vez, disse a elas que, se chegasse aos 25 anos sem casar, procu-raria um homem simpático, de boa saúde, para ter com ele os meus filhos. Elas arregalaram os olhos, abobalhadas com mais essa”, lembra a mulher que só viria a ter o primeiro filho aos 28 anos, depois de casada com o poeta Carlos Moliterno, num parto “sofrido, escandalosa-mente gritado”.
junho/julho 201114

A coragem, as inquietações sociais e a sensibilidade artís-tica a levaram para a literatura e instituições como o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, Federação Alagoana pelo Progresso Feminino, De-partamento de Assuntos Cul-turais da Secretaria Estadual de Educação, Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e a Aca-demia Alagoana de Letras.
“Admiro a atriz, a mulher cidadã, mas a escritora me fas-cina. Pertence a esse grupo de mulheres que têm opinião pró-pria, que olham para si mesmas e dizem: eu sou. Assim a desco-brimos, autêntica e verdadeira ao narrar a infância travessa, a adolescência rebelde, a desco-berta do primeiro amor e sensa-ção de sentir-se mulher, o amor adulto e amadurecido por Moli-terno, o desafio do casamento, a viagem à União Soviética, sua relação com a música, o tea-tro, o cinema e, sobretudo, com a literatura”, diz Enaura Qui-xabeira Rosa e Silva, também membro da Academia Alagoana de Letras.
REGISTROS DE MUITOS TEMPOS
Nas memórias lançadas em 2003, Eu, em Trânsito, Anilda Leão reafirma o seu amor não só a vida, mas o modo livre e ousado de viver. Não encontrou barreira intransponível e ao lon-go dos anos confirmou a voca-ção para intelectual polivalente,
multifacetada e, principalmen-te, engajada.
“Amo tanto a vida que nem paro para pensar na morte. Nem mesmo quando estive por vezes hospitalizada. Sinto-me crian-ça diante da vida. Brinco com as crianças como se fosse uma delas. Tenho uma alegria imen-sa de viver e não adianta o tem-po passar, eu não sinto o peso da idade. Sempre quis ser eu mesma, e o meu mundo sem-pre se estendia para além dos domínios domésticos. Foi as-sim, quando menina, e continuei pela vida, sofrendo pela ousadia, inclusive por não fazer entender aos outros o meu modo de ser”.
Hoje, a saúde fragilizada a impede das andanças nos te-atros, reuniões da Academia Alagoana de Letras e visitas à legião de amigos poetas, ato-res, artistas plásticos, músicos e admiradores. A dança também ficou em segundo plano, o que lhe causa um misto de nostalgia e tristeza.
“Amo intensamente a dan-ça e nem sei se gosto mais do que de cantar. Na verdade, tan-to cantando como dançando, sinto vibrar dentro de mim uma sensação gostosa de vida, de amor, de alegria, de todas as emoções bonitas que passam a existir no ser humano”, diz Anilda, que nunca teve medo de se aventurar por diversos ritmos, com ênfase no tango. “Dançando, certamente acordo dentro de mim a cigana que fui em outros tempos, ou séculos
passados, com certeza”.Tanta intimidade com o uni-
verso artístico atrai gente de todas as idades para longas conversas na simpática casa no bairro do Farol. Anilda não gosta do papel de conselheira, apenas, como costuma dizer, conta suas experiências, os anos de amor com o poeta Carlos Moliterno e se energiza com os relatos dos mais jovens. E arremata: “Venci muitas batalhas nessa vida, al-gumas que aconteceram ainda na adolescência, outras naque-la fase que deveria ser a melhor quadra na vida de uma mulher, porém nunca perdi a esperança de sair vencedora. As alegrias são fáceis de recordar e até dese-jar que voltem a acontecer. Mais importante, porém, é relembrar as tristezas sem mágoas, pois esse sentimento é danoso para o corpo e para a alma”.
Anilda Leão (segunda da esq. para a dir.) recebendo homenagem no 8º Baile dos Seresteiros da Pitanguinha, em Maceió
junho/julho 201115

Obra de Dalton Costa, um dos integrantes do grupo Vivarte, corrente artística que nasceu em Alagoas nos anos 1980
A REBELIÃO DOS PINCÉIS
ROBERTO AMORIM
REPORTAGEM
Ousado e provocador, o Grupo Vivarte nasceu e morreu combatendo tudo o que ameaçava a liberdade de criação
junho/julho 201116


Em qualquer conversa infor-mal, palestra, debate ou pesqui-sa acadêmica sobre a produção pictórica alagoana nos últimos 100 anos, a palavra Vivarte está presente e, não raro, às vezes se torna o cerne da questão.
Não à toa, o movimento ar-tístico nascido da insatisfação com a rigidez da tradição cul-tural dominante em Maceió até
o começo da década 1980 ainda hoje é combustível para acalo-radas discussões; referência e inspiração para o surgimento de novas propostas de ruptura nas artes visuais.
Enquanto se manteve de pé, o chamado Grupo Vivarte se transformou em polo cata-lisador de pintores à margem das exposições oficiais da ci-
dade. Suas obras não seguiam os cânones da época. A dire-ção seguida era o diálogo com as tendências experimentadas em diversas partes do Bra-sil desde a Semana de Arte Moderna de 1922.
Antes do Vivarte, Alagoas se mantinha alheia e blindada contra a ebulição de ideias pro-vocativas e questionadoras. São
os “cavaleiros” do Vivarte os primeiros a usarem os pincéis para tentar, de forma organi-zada, consciente e sistemática, desafiar o conservadorismo arraigado no poder econômico, político e religioso das tradicio-nais famílias alagoanas.
“Os vivartistas marcaram uma geração, mudaram com-portamentos e ajudaram esta
Maceió, principalmente a das artes visuais, a entrar em uma nova fase do seu processo his-tórico. A justiça a eles ainda está por ser feita”, afirma Ricardo Maia, autor da dissertação de mestrado Um Grupo Chamado Vivarte – Um estudo dos espa-ços de autoposicionamentos minipolíticos na organização retrospectiva vivartista, defen-
dida em 1999 na Pontifícia Uni-versidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Ele sabe muito bem o que está dizendo. Seu conhecimen-to da causa vai além dos livros. Ricardo Maia estava presente na histórica reunião da noite de 15 de junho de 1984, quando a ar-tista Maria Amélia Vieira convo-cou outros artistas para se unir
Os vivartistas marcaram uma geração, mudaram comportamentos e ajudaram esta Maceió, principalmente a das artes visuais, a entrar em uma nova fase do seu processo históricoRicardo Maia
Michel Rios
junho/julho 201118

e “combater tudo o que ame-açava a liberdade de criar”. Ela tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro e começava a colocar em prática o hábito de discu-tir, coletivamente, o que estava sendo produzido, as tendências do mercado local e as perspec-tivas do eixo Rio-São Paulo.
Além dela e Ricardo Maia, participaram do encontro Dal-ton Costa, Manoel Viana, Edgar Bastos e Edmilson Salles. A con-versa só terminou por volta das cinco horas da manhã e os seis voltaram para casa com a certe-za de continuidade.
Eles nem imaginavam que, em pouco tempo, o grupo se-ria reforçado com a adesão de artistas e intelectuais e se tor-nariam os protagonistas do mo-vimento artístico que deu um soco no marasmo das artes vi-suais e marcou profundamente
a história da produção pictórica alagoana. “Era uma época de escassez criativa. Os artistas não inovavam e o mercado era dominado pelas ‘madrinhas das exposições’. O Vivarte nasceu para mostrar que existiam ou-tros caminhos e revelar talentos ignorados pelas regras da pin-tura clássica europeia, que pre-dominavam em Alagoas”, conta Maria Amélia, que se tornou es-pécie de porta-voz e persona-gem referência do vivartismo.
RUPTURA DAS REGRAS DA PINTURA CLÁSSICA EUROPEIA
Atraídos pelo caráter demo-crático, os artistas do Vivarte tinham duas regras básicas: inovação artística e liberdade de fazer e ouvir críticas que aju-dassem no processo de ruptura
com a forma vigente de pin-tar, expor e discutir arte num Estado ainda dominado pela imensidão das plantações de cana-de-açúcar, os costumes e a cultura enraizada em torno dessa monocultura.
Durante os quase 18 meses de vida, o Vivarte contabilizou 27 reuniões sistemáticas e iti-nerantes. A cada sexta-feira, um artista abria a casa ou o ate-liê para a rodada de discussões. Desnudo de vaidade e receptivo aos julgamentos, a cada noitada o grupo escolhia uma obra para análises construtivas. “Era uma espécie de pequeno laboratório sociocultural na Maceió artísti-ca dos anos 80, onde se tentava observar diversas formas de criatividade ou de vida artística. Havia grandes talentos em po-tência e em potencial, e era pre-ciso dar atenção a todos”, diz o
Obra de Ricardo Maia. O artista era um dos principais entusiastas do movimento
junho/julho 201119

professor universitário Ricardo Maia, que se tornou o mais en-tusiasta dos participantes. Ele está sempre pronto para res-saltar a importância do Vivarte através de artigos acadêmicos,
projetos de pesquisa e palestras.Em agosto de 2006, por
exemplo, organizou o livro Tes-temunhos do Vivartismo – Es-critos da Intervenção Cultural na Maceió-artística da Pintura (116 páginas, editora Cataven-
to), que reúne dez artigos do psicanalista Lincoln Villas Boas publicados em jornais da ci-dade. Em um dos textos, Villas Boas sintetiza o raio de alcance do Grupo Vivarte: “Entre quatro
paredes, os vivartistas são vi-dentes e áugures, pois ninguém percebeu antes até que ponto a miséria, e não apenas a miséria social, mas da mesma forma a artística, a cultural, a miséria dos interiores, das razões de
foro íntimo, das coisas escravi-zantes e escravizadas, é capaz de se transformar em niilismo revolucionário. Eles são os guar-diões do saber (...). São os alqui-mistas da revolução e partilham inteiramente o desconcerto de ideias, as ideias fixas dos alqui-mistas antigos”.
A inquietude artística e co-rajosa do Vivarte fisgou não só artistas de estilos, ideologias, classes sociais e idades dife-rentes, mas também abrigava gente curiosa de outras esfe-ras. Além do psicanalista Villas Boas, participaram das reuni-ões a museóloga Cármen Lúcia Dantas, o poeta Jorge Cooper e a professora e crítica de arte Célia Campos.
Todos queriam saber o que os artistas estavam traman-do para sacudir a cena local da
Os artistas Maria Amélia e Dalton Costa, que também integraram o Vivarte
O grupo nasceu para mostrar que existiam outros caminhos e revelar talentos ignorados pelas regras da pintura clássica europeia, que predominavam em Alagoas
Maria Amélia | Artista plástica
Vanessa Mota
junho/julho 201120

pintura. As assinaturas nas atas das sessões só aumentavam. Na heterogênea lista estavam
nomes como Lula Nogueira, Va-léria Sampaio, Irene Duarte, Ro-sivaldo Reis, Fernando Bismark e Paulo Caldas.
Juntos, fazem a primei-ra exposição coletiva no dia 17 de agosto de 1984 no hall da Caixa Econômica Federal. No
total, obras de 13 artistas es-tampavam novas maneiras de representar o real. “A mostra é
apontada pela imprensa como uma rebelião passiva contra o marasmo pictórico que domina há anos as telas dos artistas de Alagoas”, registra Celia Cam-pos, no livro Uma Visualidade (Ed. Escrituras), que também ressalta o Vivarte como sendo
o grupo de artistas de mais lon-ga duração na história das artes em Alagoas.
O EMBATE ENTRE O FIGURATIVO DOMINANTE E O ABSTRACIONISMO PROVOCADOR
Passados quase 30 anos, o espírito ousado e provocador parece não ter abandonado boa parte dos cavaleiros do Vivarte. Mesmo tendo mudado de trin-cheira, a maioria garante seguir as mesmas convicções solidi-ficadas nas reuniões ocorridas entre junho 1984 e julho 1985.
Rosivaldo Reis é um deles. A encarnação do espírito li-bertador do grupo estremeceu
O meu trabalho ficava mais contemporâneo a cada reunião. Todos queriam encontrar novas possibilidades e o Vivarte servia como seta
Dalton Costa | Artista plástico
Obra de Maria Amélia Vieira
junho/julho 201121

Obra de Paulo Caldas: para ele, o cenário das artes visuais em Alagoas está elitizado
sua sólida formação clássica na escola de Pierre Chalita. Com o antigo mestre, aprendeu o do-mínio do figurativo e ganhou passe livre para o circuito oficial das artes plásticas, garantindo a venda dos seus trabalhos e os elogios dos que dominavam o circuito de artes plásticas em Maceió.
Mas, lembra o artista, não conseguia ficar sossegado, dormir tranquilo. Para ele, algo estava errado ou faltando. “Na época, estava cheio de vontade de experimentar, ousar, des-cobrir. Os encontros do Vivarte foram o espaço ideal para dar vazão à minha inquietude cria-tiva, que dura até hoje graças
àquelas reuniões. Talvez sem essa experiência eu não tives-se tomado os rumos que tomei. Quando o Vivarte acabou, ficou um vazio coletivo que dura até os dias atuais”.
O impacto do Vivarte na car-reira da artista Valéria Sampaio não foi menor. Recém-chegada do Rio de Janeiro, trazendo um diploma da Escola de Belas Ar-tes e muitas ideias, ela foi arre-batada pelos princípios do novo movimento artístico. Era o ter-reno fértil buscado para desen-volver sua tendência hiper-rea-lista de pintar.
Se não fosse o Vivarte, ates-ta Valéria, talvez tivesse caído no marasmo e no conformis-mo artístico que tomava conta de Maceió na década de 1980. “Sozinha eu não teria forças para fazer o que fiz e o que ain-da ando fazendo. O Vivarte foi um movimento transformador. Meus trabalhos continuam com o mesmo espírito liberto e ousa-do daquela época”.
Críticas ao grupo não falta-ram e vinham de todos os la-dos, como lembra Maria Amélia: “Nós éramos bombardeados e boicotados o tempo todo. Muita gente deixou de falar conosco.
junho/julho 201122

Obra de Edgar Bastos: já falecido, o artista também participou do movimento
Mas as pessoas que criticavam o grupo não participavam das reuniões e não sabiam o que acontecia lá. Era simplesmente o medo do novo”.
O vivartista Dalton Costa não hesita em afirmar que sua produção traz fortes marcas da-quela convivência artística. As-síduo frequentador das reuni-ões, presenciou e participou de muitas “brigas”. “O meu traba-lho ficava mais contemporâneo a cada reunião. Todos queriam encontrar novas possibilidades e o Vivarte servia como seta. O resto ficava a cargo de cada artista”.
Ricardo Maia analisa que o caráter permanente de inova-ção não foi abandonado pelos ex-participantes. “As inter-venções vivartistas e as influ-ências decorrentes delas foram
muitas, e quase todas ainda estão para serem percebidas e reconhecidas”.
Aos 75 anos, o experiente artista Fernando Bismark diz nunca ter visto um movimento tão forte quanto o Vivarte. Ani-mado com a união dos artistas em torno das ideias de mudan-ça, chegou a fundar a Associa-ção dos Artistas Plásticos de Alagoas, empreitada que não durou muito tempo, mas, se-gundo ele, foi um belo momento para as artes plásticas no Esta-do. “Já fui diretor de galeria e sei bem como a individualidade e a vaidade atrapalham a união dos artistas. É justamente por ter conseguido trabalhar a coleti-vidade que o Vivarte tem lugar garantido na nossa história”.
Outro artista de anos de batente, Paulo Caldas não faz
esforço para esconder o pessi-mismo em relação ao cenário das artes plásticas em Alagoas. Para ele, a situação só piora: o circuito de exposições e vendas está mais restrito e elitizado, as galerias fecharam e os artistas não conseguiram mais se mobi-lizar depois do Vivarte.
Caldas também não econo-miza críticas a gente que parti-cipou ativamente do movimen-to. “Hoje é cada um por si. Muita gente que criticava os podero-sos da arte daquela época, hoje está na mesma posição e não quer saber de transformação”.
Para ele, o mais importan-te do Vivarte foi ver cerca de 30 artistas discutindo, trocando ideias e planejando estratégias para melhorar as condições para se viver de arte aqui. “Le-vei minha experiência e recebi
junho/julho 201123

Obra de Paulo Caldas
muita informação nova. Acho essa troca muito significativa para todos que participaram”.
O FIM DO VIVARTE E O SURGIMENTO DAS CRUZADAS PLÁSTICAS
Pouco mais de um ano após o início das entusiasmadas reu-niões, os vivartistas começam a se dispersar e mudaram de rumo. O grupo se enfraquece e se desmancha. Já cambalean-do, a última ação do Vivarte foi a exposição coletiva na Pina-coteca Universitária, em 29 de julho de 1985.
Mas as lições não seriam esquecidas. Pelo contrário. Dois anos depois, os ex-vivartistas Paulo Caldas e Ricardo Maia iriam reunir os artistas em tor-no da chegada do abstracionis-
mo em chão alagoano. Eles con-vocaram os vanguardistas para montar uma exposição coleti-va chamada Cruzada Plástica. A exposição ocorreu em 12 de março de 1987, na extinta Gale-ria Miguel Torres.
A 1ª jornada da Cruzada Plástica é intitulada de A Nova e Novíssima Pintura Alagoana, tendo a participação de novos nomes, como Lael Correa, Sil-vano Almeida, Álvaro Brandão e Ricardo Santana, além de muita gente do Vivarte, como Dalton Costa, Lula Nogueira, Edgard Bastos e Maria Amélia Vieira.
No catálogo da mostra, Ri-cardo Maia afirma que o novo acontecimento nas artes plásti-cas de Alagoas “é fruto cultural-mente colhido das ideias-esté-ticas semeadas pelo Vivarte no seu tempo fenomenal de exis-
tência (quase um ano e meio de reuniões!)”.
As Cruzadas Plásticas ga-nham mais duas edições com grande repercussão na crítica e imprensa local. Para a pesquisa-dora Celia Campos, “o resultado final da agitação criada por mani-festos, exposições e discussões no meio artístico, embora as ex-posições terminem bruscamente no início de 1988, é o lançamento de artistas jovens e a rearticula-ção histórica da produção pictó-rica alagoana”. E conclui: “A re-trospectiva do ano de 1987 indica, portanto, não somente o ano de abertura da pintura alagoana a novas tendências artísticas; mas, parece indicar, principalmente, o momento exato da matura-ção de uma nova consciência artística iniciada nos primeiros anos da década”.
junho/julho 201124

Obra de Dalton Costa
Obra de Lula Nogueira e Ricardo Maia
junho/julho 201125

ARTIGO
Portal do Porto de Embarque, local de entrada e saída de pessoas e mercadorias, em Jaraguá

MACEIÓ:
DOUGLAS APRATTO TENÓRIO*
DA ELEVAÇÃO A VILA ÀS TURBULENTAS PRIMEIRAS DÉCADAS REPUBLICANAS
Arquiv
o Misa
junho/julho 201127

Praça D. Pedro II, no Centro da capital alagoana. À esquerda, Catedral Metropolitana de Maceió. No canto direito, prédio da Assembleia Legislativa de Alagoas
Como fazer um retrospecto da trajetória de Maceió em seus primeiros momentos de forma-ção? Do século 19 ao início do século 20, quando se consoli-dou como capital e como infante metrópole? Creio que a sua cer-tidão de batismo começa com a elevação à categoria de vila, um sonho de há muito acalentado pelos habitantes. Pelo alvará régio de 5 de dezembro de 1815, deu-se a esperada promoção, sendo-lhe doadas 7 léguas de costa desmembradas do distrito da antiga Vila de Alagoas.
No ano de 1817 o ouvidor Batalha deu-lhe a maioridade, proclamando-a oficialmente como vila independente, cal-culando-se que tinha naquela ocasião cerca de 5 mil pessoas, pois a contagem realizada em 1825 registrou a existência de 9.109. Em 1833, nova promoção.
O termo de Maceió era elevado à comarca.
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E SUBLEVAÇÕES
Por ocasião da emancipação política de Alagoas, Maceió não tinha a importância de Alagoas do Sul e de outras cidades como Penedo e Porto Calvo, mas já se fazia notar o seu florescimento. Nos embates que se seguiram à independência do Brasil, em 1822, o pequeno burgo já mos-trava a vocação irredenta. Sua manifestação em favor da auto-nomia nacional era contunden-te. Portugueses e aliados não tiveram trégua. Em 1831, por exemplo, após abdicação de d. Pedro I, preocupada em retornar o Brasil à condição de colônia, uma multidão revoltada atacou um quartel de artilharia, apo-
derando-se de todo armamento e munição. Liderava a popula-ção o padre Francisco Badaia Rego, político e agitador popular que dirigia o jornal Federalista Alagoense.
A sublevação conseguiu contagiar outras vilas. Exigia-se a demissão e a retirada de todos os portugueses das terras ala-goanas. As manifestações anti-portuguesas, verdadeira lusofo-bia, foram intensas em Maceió. Estes procuravam abrigos em suas casas, onde se trancavam, e buscavam refúgio nas matas e nas igrejas. Uma delas, a de Ja-raguá, foi palco de lamentáveis acontecimentos, no trágico epi-sódio que ficou conhecido como “mata-marinheiro”.
As sequelas da transferência permaneceram por muitos anos. A imprensa recentemente de-senvolvida acompanhou os ru-
Arquiv
o Misa
junho/julho 201128

Avenida da Paz, onde situa-se a Praia da Avenida. À época, era a praia mais movimentada da cidade. À esquerda, o Palacete Arthur Machado, onde hoje funciona o Museu Théo Brandão
mos do processo, engajando-se em um dos lados litigantes. O jornalismo iniciante era panfle-tário e porta-voz de governistas
e oposicionistas. As lutas pelo poder entre as duas facções se deram com disputas acirradas, como o conflito entre Lisos e Ca-beludos, que gerou nova rebe-lião. Eram liberais e conserva-dores, liderados de um lado por
Sinimbu, do outro por Tavares Bastos, incendiando a opinião pública. Na verdade, um choque entre clãs e oligarquias que não
queriam perder o poder político. Quando do início do funciona-mento do Legislativo, proviso-riamente instalado na Igreja do Rosário, houve uma séria crise.
Em seguida, em 1844, quan-do o governo liberal nomeou
Bernardo Souza Franco presi-dente da província, no rodízio partidário que era comum no Império, nova sedição estourou em Maceió. Revoltosos entra-ram na nova capital e deu-se o combate em Bebedouro. Os sediciosos tomaram Maceió e Souza Franco refugiou-se num navio que estava ancorado em Jaraguá. Prometeu anistiar os rebeldes e fazer concessões, mas os combates continuaram na capital até que reforços vin-dos de Pernambuco consegui-ram restabelecer a ordem.
Outros movimentos sacu-diram Maceió, onde a fermen-tação política sempre foi uma constante. Na Guerra dos Caba-nos, no movimento dos Quebra--quilos, no recrutamento de
Por ocasião da emancipação política de Alagoas, Maceió não tinha a importância de Alagoas do Sul e de outras cidades como Penedo e Porto Calvo
Arquiv
o Misa
junho/julho 201129

Vista da ponte de embarque e desembarque do antigo Porto de Maceió. À frente, a Estátua da Liberdade, na Praça Dois Leões
voluntários para a guerra do Paraguai, na campanha aboli-cionista ou na campanha repu-blicana, mais adiante.
A CIDADE E OS ESTRANGEIROS
Apesar da turbulência po-lítica, Maceió atraía estrangei-ros que passavam ou aqui se fixavam para fazer lucrativos negócios. Os ingleses, que tive-ram a hegemonia dos negócios internacionais, participaram ativamente da vida local com seus investimentos. Trouxeram hábitos que se incorporaram à nossa herança, como futebol, a religião reformista e a moderni-zação do comércio, e chegaram a ter um cemitério, perto do hoje canal Salgadinho, onde se en-terravam os súditos de sua ma-jestade britânica.
Outros povos europeus emi-graram para cá, como espa-nhóis, italianos e franceses, aqui se radicaram e constituíram fa-mílias, deixando descendentes
e alguns costumes de seu país. Chegamos a ter vários consula-dos e legações diplomáticas em Jaraguá. Alguns se foram logo, mas permanecem registradas em diários de viagens suas im-pressões, como Robert Avé La-lement, Mary Graham e Daniel Kidder. Este último assim des-creveu a cidade:
“Mesmo a mais bela ilha dos Mares do Sul dificilmente apresentaria aspectos mais pi-torescos que o Porto de Maceió. A praia se alarga terra adentro, em semicírculo. A areia tem a alvura da neve e parece ter sido branqueada pelas espumas que as ondas atiram incessan-temente sobre ela. Um pouco atrás, plantada sobre o flanco de uma colina, eleva-se a cida-de, habitada por quase três mil almas...”
De todas elas, a influência
inglesa foi a mais poderosa. A sede da Estação Ferroviária, antiga Alagoas Railway, é uma
reminiscência desse período áureo. Mas a preeminência bri-tânica entre nós, se trouxe be-nefícios, foi também um agente da política de dominação mansa e exploração sutil – o imperia-lismo econômico. Casas ingle-sas incentivavam e tutelavam o comércio. Maceió tinha nave-gação direta e regular com por-tos europeus como Liverpool, Falmouth, Gibraltar, Alexandria e Londres. O predomínio dos gêneros de exportação em de-trimento dos gêneros alimen-tícios – cujo cultivo era posto de lado, provocando o aumento dos víveres básicos – causava dificuldades nas classes mais desfavorecidas, não vincula-das aos lucros das atividades de exportação. Por isso, a popu-lação ironizava com uma rima engraçada:
“Não se pesca mai de redenão se pode mai pescá,qui já sube da notiçaqui os ingrês comprou o má”
INDÍGENAS E NEGROS
A capital passa a ser cada vez mais multiétnica com a re-volução comercial e a chegada de novos povos, vindos do Velho Mundo. Se os brancos europeus
Arquiv
o Misa
junho/julho 201130

Rua do Comércio, no Centro de Maceió
gava em seu território. Em con-sequência, o elemento negro aqui estava, na cidade, nos dis-tritos, nas fazendas. Na região norte, em lpioca e mesmo na região lagunar, algumas peque-nas unidades de fabricar açúcar faziam parte da economia. Eram engenhos como o de Garça Tor-ta, o dos familiares de Floriano Peixoto e o Boca da Caixa.
A quantidade de escravos
excedia, no Censo de 1870, em mais de 12% a da população livre. Ora, se naquele ano, já consoli-dada em sua função de centro administrativo ligado ao setor de exportação, ainda havia esse percentual, é de se imaginar que nos anos e séculos anteriores o
número era bem maior.Quando, em meados do sé-
culo 19, Maceió já contava com 53 ruas e povoações e arrabal-des em torno do seu perímetro urbano, a povoação de Ipioca, por exemplo, que fazia parte da freguesia de Maceió, mas era unidade independente, desta-cava-se por ter uma alta taxa de escravos: 3.326 deles para 10.668 homens livres, segundo
Tomaz Espíndola. Entre estes últimos contavam-se os alfor-riados, ou seja, aqueles que ti-nham conseguido comprar ou obter a liberdade.
Lembremo-nos da mão de obra escrava como força de tra-balho responsável por toda ri-
pretendem esquecer as raízes nativas com seus modismos e distanciar-se das culturas indí-gena e negra, a força das nossas raízes resiste e se manifesta de várias formas, a começar pelo vocabulário e indo até a culiná-ria, a música e todas as verten-tes culturais.
É absolutamente imperdoá-vel falar da composição racial e da cultura maceioense e esque-
cer a presença negra. Apesar da vocação portuária, industrial, Maceió teve o papel vanguar-dista de agente da urbanização tardia de Alagoas plenamente inserido na formação na cha-mada civilização senhorial, em função dos engenhos que abri-
Arquiv
o Misa
junho/julho 201131

Fachada da tipografia Tavares Irmão & Cia, no bairro de Jaraguá, que se tornou, à época, o centro comercial de Maceió
queza produtiva e também das atrocidades do sistema escra-vista. A despeito da condição de escravo – que o limitava na medida em que lhe era arran-cada a liberdade de transmitir
na plenitude os valores da sua cultura –, a herança negra se faz presente em nossa vida na cultura, no vocabulário, nos há-bitos alimentares, na dança, no folclore, no esporte. Foi além do processo de miscigenação, tão visível nos rostos dos nossos conterrâneos. Quem não gos-ta dos carinhosos diminutivos
painho, mainha, netinho, filhi-nho? Da pimenta malagueta, do inhame, das lendas, da música, todos impregnados da nossa ne-gritude?
Nas ruas da capital, os negros
de ganho vendiam refrescos, guloseimas, anunciavam seus ofícios e, por força de uma for-mação histórica errônea que se perpetuou depois da abolição, continuaram como a grande par-te da população excluída, abriga-da nos bairros inóspitos e mais distantes, carente dos elementos básicos de cidadania.
PRIMEIRAS TRANSFORMAÇÕES URBANAS
Trapiche da Barra, Poço, Be-bedouro, Comércio e Manga-beiras se consolidavam como áreas urbanas no período de grandes transformações que foi a segunda metade do século 19 e que tinha como epicentro Jara-guá, “porto e porta” dessas mu-danças, como bem disse o poeta Lêdo Ivo.
A era de melhoramentos materiais – que se abria para o Brasil e alterou o cenário urbano nas províncias – foi vivida pela capital alagoana com intensi-dade. A implantação do primeiro ramal ferroviário, com seis qui-lômetros, ligando a ponte de de-sembarque de Jaraguá ao Trapi-che da Barra, em 25 de março de 1868 – e depois um outro, que ia da Rua do Livramento até Bebe-douro -, foi a arrancada da cha-mada modernização da capital alagoana.
Tudo o que a nova era mun-dial apresentou de mais sig-nificativo podemos encontrar em Maceió dessa época, tendo como vitrine privilegiada o seu bairro portuário, convertido
Tudo o que a nova era mundial apresentou de mais significativo podemos encontrar em Maceió dessa época, tendo como vitrine privilegiada o seu bairro portuário, convertido em city financeira
Arquiv
o Misa
junho/julho 201132

em city financeira, e o centro comercial: ruas iluminadas por lampiões a gás, calçamento das ruas principais, ponte de ferro de desembarque do porto, rede telegráfica, jardins nas praças, casas bancárias e seguradoras, navegação a vapor, trem e as principais repartições públicas instaladas em prédios sólidos e vistosos como o Consulado Provincial, Alfândega, Reparti-ção do Selo, Capitania do Porto, Assembleia Legislativa, Palace-te do Barão de Jaraguá – onde hoje funcionam o Arquivo e a Biblioteca Pública – Delegacia Fiscal etc.
Navios de várias bandeiras zarpavam com regularidade do nosso porto principal levando algodão, açúcar, madeira, carne, couro, coco, azeite de mamona e gêneros exóticos como sebo em rama, vinhático, óleo de co-paíba, paina de barriguda. Em compensação, o comércio foi inundado de artigos de lã e seda, tecidos de algodão, azeite de oliva, vinhos, ferragens, drogas medicinais, bacalhau, cigarros, brim de linho, chapéus france-ses, chitas percalinas, chapéus de sol e paletós de casimira.
Um acontecimento que mar-cou aquela época foi a visita do imperador d. Pedro II a Maceió, quando, acompanhado da im-peratriz d. Teresa Cristina, em 31 de dezembro de 1859, presidiu a solenidade de inauguração da atual catedral e hospedou-se no palacete do barão de Jaraguá, ficando sua passagem marcada
com um monumento na Praça Pedro II.
ABOLIÇÃO E INÍCIO DA REPÚBLICA
Maceió, mais cosmopolita, acompanhou a intensa campa-nha abolicionista que redundou na libertação dos escravos em 13 de maio de 1888. As ideias li-bertárias eram defendidas na imprensa, em jornais como O Lincoln, Gazeta de Notícias, O Gutenberg e Correio de Maceió e instituições como o Instituto Histórico, fundado em 1868 na esteira das mudanças, e grê-mios corporativos.
O movimento contra- punha-se à resistência dos fa-zendeiros do interior, que não queriam perder o que inves-tiram na compra dos negros
– que sustentavam, com o ne-fando instituto da escravidão, a economia local. A capital igual-mente apoiou o movimento re-publicano que foi vitorioso em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, chefiado por um ilus-tre alagoano, o marechal Mano-el Deodoro da Fonseca.
Seu irmão, Pedro Paulino, foi
designado primeiro governador de Alagoas no novo regime. Mas o início republicano foi de muita turbulência política na capital. Pedro Paulino renunciou, Gabino Besouro foi destituído e o barão de Traipu também enfrentou sérias dificuldades. Ao governo tenso de Manuel Duarte suce-deu Euclides Malta, que inaugu-rou uma fase de tranquilidade, mas que ficou marcada como era oligárquica.
Diz-se com muita proprieda-de que o século 20 começou real-mente em 1912, com a derrubada de Euclides Malta e o advento das chamadas Salvações, liderado por Clodoaldo da Fonseca. Nos dias agitados, onde Maceió era uma verdadeira praça de guerra, houve um episódio triste: a per-seguição aos terreiros da religião afro, uma espécie de inquisição
alagoana. Violência, prisões, ti-ros, comícios e manifestações aconteceram com a população participando daquele movimen-to político. A morte do secretário do Interior e do estudante Bráulio Cavalcante, homenageado com uma praça onde hoje funciona a OAB, são tristes recordações da época.
O movimento contrapunha-se à resistência dos fazendeiros do interior, que não queriam perder o que investiram na compra dos negros
junho/julho 201133

Clube Fênix Alagoana, ponto de encontro da sociedade maceioense
Os terreiros voltariam a fun-cionar anos depois com os seus muitos adeptos. Por outro lado, os católicos tiveram a alegria de ver a sua Diocese criada pelo papa Leão XIII, em 2 de julho de 1900, e a inauguração do prédio do Seminário quatro anos mais tarde. Outras religiões, como o kardecismo – que apareceu no fim do século 19 – e as cha-madas igrejas reformadas se implantaram em Alagoas. Es-tas últimas com notável cresci-mento: Batista, em 17 de maio de 1885; Presbiteriana, em 11 de se-tembro de 1887 e a Assembleia de Deus, em 1910.
URBE MODERNA: A BELLE ÉPOQUE
A capital alagoana, que no fim do século 19 ainda media forças com algumas cidades interioranas, como a aristocrá-tica Penedo e a lacustre Pilar, consolidou-se definitivamen-te no início do século como
urbe moderna e incontestável centro político, econômico e administrativo.
O alargamento das ruas, o surgimento das praças onde se reuniam os munícipes, deixan-do a reclusão de suas casas, e a construção do Palácio Floriano Peixoto, do Teatro Deodoro e do
Tribunal de Justiça, em prédios monumentais, marcaram o in-gresso de Maceió na chamada belle époque. Tempos urba-nos, por excelência. Endireita- vam-se as velhas vias cheiran-do a peixe frito, a tapioca, a ar-roz doce, vendidos nas esquinas em tabuleiros enfeitados por negras trajando vistosos xales
e turbantes. Agora eram cava-lheiros de chapéu coco e ben-gala postados solenemente nas calçadas, à porta da Maison Ele-gante, da Casa Zanotti, da High Life, da Casa Eugene Goestchel ou do Café Colombo.
As damas não dispensavam coletes, mantilhas ou pequenos leques. Maceió ganhou até um hipódromo, o Prado Alagoano, que mais tarde se chamaria Jo-ckey Clube e que deu origem ao bairro do Prado. Dançava-se nos intervalos das corridas de cavalos, ao som de conjuntos e orquestras. Apareciam os clu-
bes de futebol, CSA e CRB, ou-tra novidade. O cinema atraía a atenção, mudo inicialmente, com músicos a entreter os fre-quentadores. Multiplicavam-se as sociedades recreativas, como o Clube Fênix, a Terpsychore Jaraguaense, o Montepio dos Artistas. Maceió, mais susce-tível às novidades, ia abrindo
Maceió, estuário dos sonhos de grande parte da população alagoana, não oferece a todos suas benesses
Arquiv
o Misa
junho/julho 201134

Palácio Marechal Floriano Peixoto, um dos marcos da transformação arquitetônica de Maceió
brechas na sociedade agrária, adotando inovações e tomando carona nas mudanças que o sé-culo 20 ia oferecendo.
Nem tudo era festa. As sen-zalas tinham sido oficialmente extintas, mas permaneceu bem vivo o poder da casa-grande, a segregação nas relações so-ciais. A belle époque não che-gara para todos, assim como as promessas igualitárias da república. Maceió, estuário dos sonhos de grande parte da po-pulação alagoana, não oferece a todos suas benesses. O mun-do dos despossuídos não esta-va nos belos sobrados, entre os elegantes senhores de fraque, nos costumes refinados. Para
a maioria da população, a casa de tijolo e alvenaria era artigo inacessível. Ela constrói seus abrigos como mocambo de pes-cadores, em Pajuçara e Ponta da Terra ou, mais adiante, às mar-gens da lagoa, ou nas encostas de Bebedouro.
Próximo às áreas de movi-mento, como o embarcadouro da Levada, Jaraguá ou do Cen-tro, em cortiços, galpões de ma-deira subdivididos internamen-te entre numerosas famílias que superlotam os cubículos e brigam por qualquer motivo. Gente sofrida, mestiça, des-cendente de escravos e índios, precocemente envelhecida, que lava e faz biscates para sobre-
viver. Eles são os clientes habi-tuais do Asilo de Mendicância, as vítimas das altas taxas de mortalidade e doenças men-tais. Pagavam pesado tributo a enfermidades como tuberculo-se, varíola, cólera, gripes; uma delas, a espanhola, trazida dos campos de batalha da Europa, dizimou milhares de maceioen-ses. A capital alagoana mudava com o novo século, inseria-se na bela época com sua beleza e miséria, ora em ritmo lento, ora mais veloz, mas sempre com o pensamento voltado para as mudanças surgidas no mundo e as novidades republicanas.
*historiador e vice-reitor do Cesmac
Arquiv
o Misa
junho/julho 201135

A música desempenha pa-pel fundamental quando se fala em memória. No decorrer dos séculos, a história do mundo desenha-se não apenas atra-vés de documentos e imagens, mas também por meio da cria-ção musical. Compositores, cantores e instrumentistas têm
o poder de captar o espírito de uma época e eternizá-lo. Um exemplo disso está na relação entre música e contestação, vi-vida pelo Brasil em plena dita-dura militar, especialmente nos anos 60 e 70.
Por outro lado, visitar as lembranças permite conhe-
cer as raízes da nossa músi-ca, seja através do chorinho ou das orquestras.
Nesta edição, apresentamos quatro artigos sobre o tema. Em cada um, o relato particular de quem viveu a emoção de encon-trar na música um bom motivo para trazer de volta o passado.
junho/julho 201136
CONEXÕES SONORAS
Os cantores e compositores Macleim e Nelsinho Braga, participantes do 3º Festival Universitário de Música

ARTIGO
junho/julho 201137
MACLEIM*
Existe um momento no qual damos de cara com a nossa vo-cação. Este é um momento úni-co. Bem diferente daquele em que descobrimos nossa aptidão, ou, como queiram, dom. Quando a vida nos concede esta dádiva, temos um instante de escolha, uma decisão a ser tomada. Não raro, carece certa dose de co-ragem para fazermos a opção pelo rumo a ser seguido, o des-vio de rota necessário para toda uma vida.
Quando, de fato, me deparei com o que considero ser minha vocação, corria os idos do sécu-lo passado, no fim dos anos 70 e começo dos anos 80. Foi o palco sagrado do Teatro Deodoro que me deu o norte, a noção exata do meu propósito neste plano. Acontecia o III Festival Universi-tário de Música, o III FUM, patro-cinado pelo DCE/Ufal.
Cursava um dos últimos períodos de Arquitetura na Universidade Federal de Alago-as (Ufal) e, como diz a canção, “aquela altura, arquitetura era uma loucura”. Ainda vivíamos sob um regime político ditato-rial, com pessoas sendo seques-
tradas, torturadas e mortas nos porões do aparato repressivo do regime militar.
Lutávamos pela esperança de uma abertura democrática, onde a livre expressão, enfim,
prevaleceria sem ter de passar pelo carimbo da censura. Foi nesse clima que, pela primei-
ra vez, me vi no palco do Teatro Deodoro como um dos concor-rentes do III FUM, defendendo o xote, de minha autoria, Sem Re-médio e sem Doutor.
Não precisei de engajamento
político-partidário – aliás, nun-ca tive e nunca terei – para per-ceber que aquele era o momen-
NO RUMO DA MEMÓRIA
O cantor e compositor Ricardo Mota (ao centro) acompanhado dos músicos José Brandão (violão), e Manoel Viana (à dir.), que apresentavam a música em prol da campanha pelo voto direto para presidente da República. A canção não concorria à premiação

A música agora faz parte de um contexto histórico muito mais relevante que o seu significado ou pretenso valor musical
junho/julho 201138
to propício em que eu poderia, através da minha música pueril, posicionar-me ideologicamen-te e, ao mesmo tempo, tentar agregar à arte algo reflexivo e pertinente ao contexto social no qual vivíamos. Mas, claro, este era e é um ponto de vista meu, uma opção de cunho estrita-mente particular. Foi o que pre-feri fazer naquele momento, ao invés da suposta alienação pela qual alguns dos meus colegas, à época, optaram. Aliás, diga-se de passagem, todos com abso-luto sucesso.
Faço essa contextualização porque, em entrevista recente
a um programa de televisão lo-cal, um compositor contempo-râneo desses festivais, capcio-samente, deu a entender que o engajamento político dos com-positores – com o que se con-vencionou chamar de “música de protesto” – era algo bitolado e que a opção pelo discurso alie-nado é que seria artisticamente inovador. É evidente que não vou discutir aqui o mérito dessa questão, apenas pontuo e não faço coro.
O engajamento ideológico da canção Sem Remédio e sem
Doutor, que está no disco do Festival – relançado em 2009 –, entre outros fatos pitorescos, me rendeu uma convocação para prestar esclarecimentos ao departamento de censura da Polícia Federal (PF), responsável pela liberação, ou não, das can-ções que seriam gravadas.
Pois bem, o refrão do xote diz: “E chora fio, chora muié /e vem dizer que é Deus que qué /e me abuso sei que não é/se tá na cara que é coisa dos co-roné”. A pronúncia, cantada, é exatamente a mesma que está grafada. Portanto, “coroné” não é o mesmo coronel de patente,
não tem o mesmo significado. Fui bem recebido pelo agente da PF que, cordialmente, me pediu para sentar e até me ofereceu um cafezinho. Eu ainda não ti-nha lido O Capital nem o Mani-festo Comunista, de Karl Marx, e nem precisava para entender o significado da ação do poder econômico sobre o proletariado.
Eu vinha de Murici, vivi o tempo todo cercado pelas usi-nas de cana-de-açúcar e suas relações esdrúxulas com os tra-balhadores. Conhecia de perto a exploração desumana, a cruel-
dade e arrogância dos usineiros e seus asseclas. Recordo-me que me preparei para a rebor-dosa na PF. No entanto, para mi-nha surpresa, o agente foi dire-to ao assunto: “A que coronel o senhor se refere nessa letra? Da Marinha, do Exército ou da Ae-ronáutica?”. Bem, nem lembro mais qual foi mesmo a minha resposta. Porém, lembro-me, como se fosse hoje, que fiz um esforço tremendo para não cair numa gargalhada incontrolável, diante de tamanha besteira.
A canção foi liberada, gra-vamos no LP do festival, e agora faz parte de um contexto histó-rico muito mais relevante que o seu significado ou pretenso va-lor musical. Porém, Sem Remé-dio e sem Doutor não foi a única a passar pelo crivo da censura.
Aliás, acho até que foi a música de mais fácil liberação. Principalmente, se levarmos em consideração que a canção Raízes, do Chico Elpídeo e Elie-zer Setton, que tratava da volta dos exilados, de tão polêmica, gerou um quiproquó dos infer-nos. Provocou até um infarto no conselheiro Roberto Pompeu de Souza (ABI), durante uma aca-lorada discussão, quando este defendia a liberação da música em uma sessão do Conselho Superior de Censura, em Brasí-lia. Esse fato teve repercussão nacional em todos os noticiários das TVs, à época.
Eram tempos difíceis, mas tínhamos objetivos, tínhamos criatividade e uma efervescên-

O cantor e compositor Carlos Moura, um dos finalistas do festival
junho/julho 201139
cia cultural pulsante. Tínhamos ideologia para viver, aliás, como bem provocou e sintetizou Ca-zuza, tempos depois. Tínhamos também, já como consequência do Festival Universitário, o Beira Banda da Lagoa. Provavelmen-te, a primeira banda híbrida de Alagoas, que fazia uma mistura de rock e MPB. Nelson Braga, Ja-tiúca e eu – todos alunos do cur-so de Arquitetura –, fizemos do Beira Banda um prolongamento do Festival Universitário, com as mesmas esperanças e deva-neios de quem goza os arroubos da juventude e decide, utopica-mente, dar os primeiros passos concretos por este universo apolíneo, tão difícil e ao mesmo tempo prazeroso.
Assim, sem o mínimo de
planejamento futuro e estru-tura material, gravamos o que também deve ter sido o primei-ro compacto duplo (veja como as coisas são cíclicas: hoje te-mos o CD, que bem poderia ser abreviação de compacto duplo) de uma banda alagoana.
Bem, eu permaneço fiel – às vezes um tanto relapso – àque-la trajetória de vida que me foi apontada pelo III Festival Uni-versitário de Música da Ufal. Não tenho do que me arrepen-der. Caminhei e não me deixei enferrujar, cruzei fronteiras le-vando e sendo levado pela mú-sica que faço. Com ela e por ela conheci lugares e pessoas afins, aqui e alhures.
Hoje, temos uma relação tranquila e eterna, que me per-
mite continuar tentando deixar um rastro. Eu seria mesmo um péssimo arquiteto se a música, generosamente, não houvesse me cooptado para um mundo que me leva a outros mundos. No entanto, usei régua e compasso – parafra-seando o Gil – não para erguer edi-fícios, mas, sobretudo, para traçar o esboço da minha sina. Para isso, simplesmente, um pentagrama me foi suficiente delinear.
A partir daí, a vida que escreva a melodia que me cabe e que foge ao meu alcance. Porém, sei que a origem está naquele Festival Uni-versitário dos idos de 80, que foi grafitado no muro da capa do LP e, agora, sobrevive tatuado em mi-nha existência.
*é compositor e cantor

ARTIGO
junho/julho 201140
EDBERTO TICIANELI*
O “CANTO CHÃO” DO 3º FESTIVAL
UNIVERSITÁRIO DE MÚSICA
Os músicos Zé Armando (voz e violão), Zé Barros (violão), Felix Baigon (baixo), Tony Batera (bateria) e Luciano (flauta), durante participação no 3º Festival Universitário de Música, realizado em Maceió

Em Alagoas, após terem sido interrompidos no final dos anos 60, os festivais foram retomados em 1982, pelo DCE da Ufal
junho/julho 201141
Em meados dos anos 70, após o período mais repressivo da ditadura militar, os estudan-tes foram os primeiros a voltar às ruas, lutando por democra-cia. Mesmo ainda recebidos com cassetetes e bombas de gás la-crimogêneo, foram persistente-mente retomando seus espaços.
Nos campi universitários e nas escolas, mesmo com o
Decreto-Lei nº 477 tentando intimidar os estudantes e pro-fessores, os enfrentamentos ocorreram e o direito da livre manifestação foi reconquistado. Assim ressurgiram os festivais, para colocar o “cantando” ao lado do “caminhando”.
Em Alagoas, após terem sido interrompidos no fi nal dos anos 60, os festivais foram retomados em 1982, pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Uni-versidade Federal de Alagoas (Ufal), que conseguiu o feito his-tórico de gravar um LP com as 12 músicas fi nalistas. Esse disco tem a particularidade de ser o único LP (Long Play) produzido no Brasil por uma entidade es-tudantil. Só o Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE), que em
1962 lançou um compacto com quatro músicas, também tem essa marca.
Para o DCE Ufal 81/82, da gestão Avançar na Luta, a deci-são de voltar a realizar um fes-tival não foi fácil. Aliada à falta de experiência, não havia segu-rança entre os diretores sobre como lidar com a censura exer-cida pela Polícia Federal (PF).
A dúvida era se cumpriríamos todas as exigências deles ou faríamos de conta que estáva-mos cumprindo e iríamos para o enfrentamento realizando um festival livre. A solução foi enca-minhar as inscrições e esperar a reação da PF para tomarmos as
nossas posições. Quando, em abril de 1982,
foram encerradas as inscrições, surgiu o primeiro problema: as quase 200 músicas inscritas ul-trapassavam as expectativas e inviabilizavam a possibilidade de todas se apresentarem para julgamento. A saída veio com uma pré-seleção. Um júri es-pecial foi montado e, noite após noite, todas foram ouvidas, a partir de um gravador conecta-do ao sistema de som do auditó-rio da reitoria. Assim, foram se-lecionadas 60 músicas, 15 para cada uma das quatro semifi nais.
O número de músicas inscri-tas já anunciava que o festival não poderia mais ser tratado como mais um evento do DCE. A intensa mobilização das torci-das fez com que redefi níssemos o local das apresentações, tro-cando o auditório da reitoria pelo Teatro Deodoro. Outra iniciativa, provocada pela dimensão que o festival tomou, foi colocar à dis-posição dos selecionados uma
Capa do LP desenhada por Ênio Lins, com registros das músicas apresentadas na 3ª edição do Festival Universitário de Música, realizado em 1982. O disco foi o primeiro feito por uma entidade estudantil no Brasil

junho/julho 201142
O cantor César Rodrigues,intérprete da canção Canto Chão
banda base, que ensaiava numa sala do Clube Português. Tendo a mesma banda como base, se ganharia tempo nas mudanças das apresentações das músicas durante as semifinais.
Quando tudo parecia defini-do, a direção do Teatro Deodoro informou que a velha estrutura do teatro não suportaria a lo-tação máxima, o que era pre-visível acontecer com o acesso gratuito. Depois de muita nego-ciação, resolveu-se que have-ria cobrança de ingressos e se limitaria a ocupação ao espaço térreo. Nas quatro noites em que foram realizadas as eliminató-rias, muita gente, sob protesto, teve de acompanhar o festival do lado de fora.
Para evitar mais descon-tentamentos, resolvemos rea-lizar a final no Ginásio do CRB,
na Pajuçara, que não tinha uma boa acústica, mas recebeu bem as mais de duas mil pesso-as que aplaudiram a vitória da canção Canto Chão. Essa final foi transmitida, ao vivo, pela Rádio Gazeta.
A CENSURA
Com o festival ganhando re-percussão, entendemos que já existiam condições de enfren-tarmos a censura. Enviamos à Polícia Federal as cópias das 60 semifinalistas e, enquanto aguardávamos a liberação, en-caminhamos a divulgação já com os nomes de todas as mú-sicas concorrentes.
A PF nos chamou a depor e nos avisou que não podíamos divulgar nada enquanto eles não autorizassem. Continuamos
normalmente com a divulgação. Com a aproximação do dia da primeira semifinal, voltamos ao Departamento de Censura para sabermos a situação das músi-cas e notamos que eles estavam segurando a liberação para in-viabilizar o festival. No último momento, nos informaram que algumas músicas seriam veta-das em parte e uma delas não poderia ser executada. Como não haveria tempo hábil para mudanças, eles esperavam que o festival não acontecesse.
Na primeira semifinal, lá estava, nos bastidores do Te-atro Deodoro, o policial censor acompanhando tudo o que se fazia e se dizia no palco. Com o anúncio das músicas, ele perce-beu que iríamos desrespeitar a censura e ameaçou paralisar o festival. Era o momento espe-rado, em que saberíamos se a ditadura militar estava disposta a enfrentar o desgaste de ter de impedir um festival universi-tário. Jogamos duro e desafia-mos o policial a subir no palco e anunciar as músicas que não poderiam ser apresentadas. Ele recuou e saiu do local afirman-do que iria procurar o seu supe-rior para tomar as providências. Continuamos com as apresen-tações e ficamos aguardando uma possível ação policial. Nada aconteceu.
Encerrado o festival, teve início o processo de gravação do LP. O DCE acertou com a Rozen-blit, em Recife, que o disco seria gravado nos fins de semana, pe-

junho/julho 201143
ríodo em que todos os músicos podiam participar. A gravação durou meses e só foi possível pelo esforço dos músicos, que saíam direto dos bares e restau-rantes onde trabalhavam, para um ônibus.
Passado o período de grava-ção, vieram os problemas para a prensagem dos discos. Era preciso uma autorização do De-
partamento de Censura da PF, coisa que, obviamente, eles não deram. Apelamos para a ins-tância regional, em Recife, que também negou a autorização. A última chance era no Conse-lho Superior de Censura (CSC), em Brasília, que agia muito lentamente.
Enquanto aguardávamos a decisão do CSC, com muito jeito conseguimos convencer a Ro-zenblit a adiantar a prensagem dos discos, com o compromisso de só distribuí-los após a libe-ração da censura, sob pena de prejudicar a empresa.
Com os mil discos nas mãos e temendo a sua apreensão, mon-tamos uma verdadeira operação de guerra para transportá-los para Maceió e escondê-los sob o
mais absoluto segredo. De tem-pos em tempos, por segurança, havia uma mudança de escon-derijo, e novamente se organi-zava sigilosamente o transporte dos discos.
Somente no dia 25 de feve-reiro de 1983 foi que o Conselho Superior de Censura liberou a música Canto Chão para ser gravada. A decisão nº 28/83 foi
publicada na página 30, seção 1 do Diário Oficial da União (DOU) de 4 de março de 1983. O fato que marcou essa decisão foi a defesa contundente da libera-ção da música feita pelo con-selheiro e jornalista Roberto Pompeu de Souza, então presi-dente da Associação Brasileira de Imprensa – ABI.
A veemência do jornalista o levou a sentir um mal-estar cardíaco, sendo socorrido em um hospital local. Esse episódio ganhou o noticiário de vários jornais de circulação nacional, o que terminou por criar uma pressão favorável à liberação do disco, que foi distribuído já na gestão 82/83 do DCE Ufal.
Em 2006, o disco foi digitali-zado em São Paulo e, em 2009, a
Ufal distribuiu mil cópias do CD, que tem uma nova faixa com o pronunciamento de abertura do festival em 1982. São essas as músicas do disco: Canto Chão, de José Edson, César Rodrigues e Francisco Elpídio; Sebo nas Canelas, de Pedro Rocha For-tes; Matança do Boi, de Antônio Carlos; Sem Remédio, sem Dou-tor, de Macleim C. Damasceno; Allea Jacta Est, Antônio Carlos; Samba da Ilusão, de João Melo e Zailton Sarmento; A História da Concha do Mar, de Nelson Bra-ga; Raízes, de Francisco Elpídio e Eliezer Setton; Renegados, de José Gomes Brandão; Legião dos Condenados, de Ricardo Mota; Vai e Vem, de Maria Amélia Pes-soa e Tentação, de Francisco D. Nunes e Izabel Brandão.
Após o 3º Festival Universi-tário de Música, o DCE Ufal ainda realizou outros, mas sem gra-var discos. Eles não tiveram a mesma dimensão do festival de 1982, que foi o desaguadouro da produção musical universitária represada.
Com o enfraquecimento da censura e o fim do regime mili-tar, em 1985, também deixou de existir a motivação política de se cantar a liberdade e denunciar o arbítrio, tirando dos festivais o seu discurso mais importante. Para mim, que era o presidente do DCE de 1981/82, o festival foi uma das realizações mais gra-tificantes da minha passagem pelo movimento estudantil.
*ex-secretário estadual de cultura
Na primeira semifinal, lá estava, nos bastidores do Teatro Deodoro, o policial censor acompanhando tudo o que se fazia e se dizia no palco

ARTIGO
junho/julho 201144
AQUI, PIXINGUINHA E OUTROS CHORÕESMARCOS DE FARIAS COSTA*
O compositor e instrumentista carioca Pixinguinha, autor de músicas como Carinhoso e Lamentos, é considerado o maior nome do choro

junho/julho 201145
Há indícios de atividade cho-rística aqui em nosso Estado, pelo menos, desde 1922, quando ocorreu a Semana da Arte Mo-derna, coincidentemente o ano em que Pixinguinha e seu gru-po Oito Batutas estiveram em Maceió e também excursiona-ram a Paris e Buenos Aires. In-felizmente, a passagem desses artistas ainda não foi devida-mente avaliada, sobretudo pela escassez bibliográfica acerca da
música popular alagoana. Mas é ponto pacífico que o choro ga-nhou adeptos entre os compo-sitores alagoanos.
Um cronista da época, Sales Cunha, carioca que residia em Maceió desde 1919, em seu livro Aspectos do folclore alagoano (Rio de Janeiro; 1956), comenta, rememorando sua vida aqui, 37
anos antes: “Cantava o moleque de rua, do Trapiche da Barra à Mangabeiras, da Pajuçara ao Bebedouro, da Levada ao Alto do Farol. Assobiava o colegial despreocupado. Cantarolava a moça nos seus afazeres casei-ros.” O depoimento do escritor carioca corrobora que havia movimentação musical em Ma-ceió, nas primeiras décadas do século 20. E, bem antes, atesta o grande sábio e historiador vi-
çosense Alfredo Brandão, havia vida musical intensa, mesmo quando ainda dependíamos de Pernambuco. Em suas delicio-sas Crônicas alagoanas (Maceió: Casa Ramalho Editora, 1939), reportando-se à vida social nos velhos tempos coloniais, afirma o cronista: “Ainda não havia os pianos, mas os moços tocavam
violinos, flautas, violões (grifo meu) e violas.” Se onde há fu-maça há fogo, do mesmo modo, onde tem violão há prenúncio de atividade musical.
Moacir Sant’Ana, em sua preciosa História do modernis-mo em Alagoas (Maceió: Edufal, 1980) relata que “A vinda do con-junto Batutas Pernambucanos, despertou enorme entusiasmo na província, a ponto de susci-tar seguidores e imitadores.” É
ainda Moacir Sant’Ana a nos in-formar que, em 1923, no dia 20 de setembro, apresentou-se no palco do Teatro Deodoro o con-junto Choro Flor do Abacate, “composto de oito elementos da terra” ao que, de imediato, a im-prensa local apelidaria de 8 Ba-tutas Alagoanos, naturalmente reportando-se ao grupo recifen-
O grupo Oito Batutas (foto), do qual Pixinguinha fez parte, esteve em Maceió em 1922, mesmo ano em que excursionou a Paris e Buenos Aires

junho/julho 201146
se. Informa ainda Moacir que no repertório constava um choro intitulado Anjinho de Israel, sem dúvida a primeira composição alagoana batizada com este nome. Uma década antes, Ma-ceió fora palco de inúmeros gru-pos de dançarinos de maxixe, a dança excomungada, segundo o pesquisador Jota Efegê, e até
fomos brindados pela presença da famosa (e formosa) artista Alda Garrido, hoje brutalmen-te esquecida. E citaremos mais uma vez o historiador Moacir Sant’Ana, que nos faz um curio-
síssimo relato: a estrela Bela Zazá interpretara no Cinema Floriano, a 15 de março de 1916, o samba O Azeite, talvez a refe-rência mais antiga a este ritmo carioca apresentado em Ma-ceió, na mesma data da criação do Pelo Telefone, que é oficial-mente o primeiro samba brasi-leiro, de autoria de Ernesto dos
Santos, o Donga. E consta como de 1927 o “sambinha” Sanhaço, do alagoano Antonio Passinha. Podemos extrair destas infor-mações que o samba e o choro, desde as primeiras décadas do
século 20, faziam parte do ima-ginário musical alagoano.
Numa relação de compo-sitores de choro jamais seria esquecido o nome de Jararaca, parceiro de Ratinho em Dolo-rosa Saudade (1929), na voz de Augusto Calheiros ou de Lula (1930), peça musical interpreta-da pelo próprio Jararaca. O pes-quisador carioca Ary Vascon-celos refere-se a determinado flautista e compositor chamado Nola, possivelmente alagoano, nascido por volta de 1891, em Maceió, e falecido no Rio de Ja-neiro, provavelmente no ano de 1970, e que teria tocado com Pixinguinha. Falta comprovar se, de fato, Nola nasceu mesmo em Maceió, tarefa que sugerirei aos pesquisadores e curiosos presentes.
Otaviano Romeiro, mais conhecido pelo apelido de Fon-Fon, filho de Santa Luzia do Norte, é outro nome res-peitável, com seu belo choro Murmurando (1930), uma dé-cada depois associado à letra de Mário Rossi. A cantora Wil-ma Araújo, sempre afinada e de voz intimista, regravou esta obra-prima (no CD Beleza De-licadeza, 2006) de Fon-Fon, tão merecidamente inesquecível. Sadi Cabral foi outro composi-
Outro nome importante do choro em Alagoas é o do maestro Fon-Fon, autor da música
A dupla de cantores, compositores e humoristas Jararaca e Ratinho, autores do choro Dolorosa Saudade

junho/julho 201147
tor a transitar pelo choro, como em Sapoti (1945) e Cachorro Vagabundo (1945), ambos em parceria com Davi Raw. O viço-sense Zé do Cavaquinho, cuja obra recentemente ganhou re-gistro em CD, escreveu jongos e choros, dominando bem os sor-tilégios do seu instrumento. E no município esquecido de Pão de Açúcar nasceu o compositor cego Manoel Bezerra Lima, que tocava violão de doze cordas, participou do conjunto Turunas da Mauricéia, e “foi considera-do o maior violonista do Brasil” e que ao ouvir mestre Canhoto interpretar Abismo de Rosas, de improviso ele compôs Rosas do Abismo. Como referência cito Noite Alegre, deste músico cego que tirava melodia até do arame de uma cerca, antecipando a arte polimorfa do arapiraquense Hermeto Pascoal, autor de Cho-rando pra Ele.
E temos instrumentistas de choro fora de Maceió, operan-do nos grandes centros, como João Lyra, Billy e Zé Barbeiro, ou multinstrumentistas que per-maneceram na terrinha e aqui fizeram fama (felizmente ainda fazem), como Zaílton Sarmento e Wellington Pinheiro, que são choristas pra carioca nenhum botar defeito. Vale informar que o compositor e multinstrumen-tista João Lyra participou do CD Pisando em Brasa, tocando ao lado dos mestres Canhoto da Paraíba, Raphael Rabello, Pau-linho da Viola e Bozó 7 Cordas. O próprio Bozó possui sangue
alagoano, pelo lado paterno. O violonista Yamandú Costa mo-rou em Maceió alguns anos e, impregnado pela geografia sen-timental de suas lagoas e da orla marítima da sensual Pajuçara, aqui veio a se interessar pelo violão. Ele mesmo afirma que seu dom de improviso foi assi-
milado em Maceió, não sendo alagoano por nascimento, mas gaúcho como Radamés Gnatalli, aqui recebendo o batismo de fogo de sua futura arte.
Uma relação exaustiva e minuciosa de todos os cho-rões alagoanos demandaria um texto que não se encaixa nesta
nota de afogadilho, mas cito de memória os instrumentistas e compositores Everaldo Borges e José Cláudio da Silva (autor de Tarde em Pajuçara e Carícia de mulher), uma dupla que sabe executar com virtuosismo, seja no saxofone, na flauta transver-sal ou no clarinete. Outros no-
mes exigem que sejam também referendados. No LP Convite (1981; homenagem ao sambis-ta Juvenal Lopes, com arran-jos do Grupo Chorinho Novo e o Quarteto Vozes), o flautista e piloto de avião Jorginho Quin-tela apresenta Chorinho Novo e José Gomes Brandão execu-
O músico alagoano Hermeto Pascoal, reconhecido mundialmente, autor da música Chorando pra Ele

junho/julho 201148
ta seu Tributo a Abel Ferreira, sem esquecer Zaílton Sarmen-to, que participou com o chori-nho Zé do Cavaquinho (Zaílton recentemente compôs o chori-nho Tela Fria). Curiosamente, o grande sambista Juvenal Lo-
pes não compôs choro, mas era um sambista de qualidade. Não me consta que Antônio Paurílio (autor da sentimental polca Ma-nuela) e Reinaldo Costa (compo-sitor inspirado e grande violão 6 cordas) tenham escrito choros. De formação jurídica, mas com alma de chorão é o bandolinista Danilo Gama, juiz de direito apo-sentado, que registrou em CD seus sambas e chorinhos com muita propriedade artística, a exemplo de Arrojado. Esquecido andava o clarinetista e saxofo-nista José Almeida dos Santos, popularmente conhecido como
“Almeidinha”, cujos inspirados choros Dúvida, De brincadeira, Saudade, Por esse mundo afo-ra, 13 Chaves e, sobretudo, De Passagem em Caravelas, foram registrados no CD Minha Vida (2000), e que mal nenhum faria
se fosse reconhecido pelos seus patrícios. O abstêmio pistonista Edson Ferro teve um irmão de nome Valdomiro Ferro (ambos viçosenses), que era boêmio desbragado e farrista contu-maz, morrendo jovem e nos le-gando um choro belíssimo, de nome Degenerado.
Finalizando, não poderia es-quecer o nome de Ibys Maceioh, sem dúvida um dos maiores compositores vivos de choros e sambas do Estado de Alagoas, parceiro de Zé Kéti e de outros monstros sagrados da música popular brasileira. Entre outros
choros belíssimos registro aqui e agora Teimosia, Choro da Des-pedida (com Marcondes Costa) e Choro Desvalido, obras-pri-mas de Ibys Maceioh. Alguns redutos de bambas e rodas de choro como o Bar do Milton e
o restaurante Cantoria estão em plena atividade, sendo fre-quentado por entusiastas, ins-trumentistas e intérpretes de primeira água. André Diniz, em seu livro Almanaque do Choro, cita a Choperia Orákulo, onde aos sábados pontifica o grupo Confraria do Choro e onde os frequentadores e apreciadores do gênero enchem generosa-mente a cara. O pianista Antonio Carmo tem a pegada clássica do chorista brasileiro, pois antes de dedicar-se de corpo e alma ao piano, estudando em Recife harmonia e técnicas de compo-
Em Maceió, alguns redutos de bambas e rodas de choro estão em plena atividade, sendo frequentados por entusiastas, instrumentistas e intérpretes
Ibys Maceioh, autor da canção Choro Desvalido, é considerado um dos maiores compositores alagoanos de choro em atividade

junho/julho 201149
sição, conhecia bem as artima-nhas e manhas do violão.
O maestro Almir Medeiros e o jornalista Ricardo Mota — espécies de chorões bissextos — compuseram uma bela pá-gina intitulada De geração em geração, gravada em CD, na voz privilegiada de Kelly Rosa, cujo marido Sabata foi proprietário dos restaurantes Aroeiras e Ge-rações, onde o choro era o pra-to principal, aos sábados pela manhã ou diariamente, noite adentro. Kelly Rosa sabe cantar qualquer gênero musical com a mesma fluência, mas se consa-grou como intérprete de chori-nhos, onde imprime a exube-rante personalidade artística.
O psiquiatra e compositor Marcondes Costa fez o seu Cho-rinho Simples, na interpretação sentida e contida de Telma So-ares, artista consagrada e co-nhecida como a “musa da bossa nova”, afinal é uma cantora que dispensa adjetivos. Percebe-se que o choro encanta e comove os músicos alagoanos da no-víssima geração, despontando nomes e valores que darão con-tinuidade ao mais complexo gê-nero instrumental do Brasil.
Autor de valsas comoven-tes e chorinhos delicados é o violonista e compositor Robson Amaral Amorim, que morou quatro décadas em São Paulo, mas exala nordestinidade em suas músicas, sendo ele um re-cifense de pais alagoanos. Uma última referência não poderá ser esquecida: o compositor
alagoano Edinaldo Vieira Lima, codinome Índio do Cavaquinho. Sua trajetória é interessante. Estreou como músico em 1938, numa banda em Alagoas, em seguida foi para o Rio de Janeiro, já na década de 40, integrando
a prestigiosa orquestra da Rá-dio Nacional. Gravou nos me-lhores selos: Polydor, Albatroz e Colúmbia, mas somente aos 76 anos conseguiu produzir o seu primeiro CD, pela Acari Records. São 16 composições, doze cho-ros, um schottisch e três forrós, exclusivamente de sua autoria. Os músicos que o acompanha-ram são, todos eles, de primeira pana: Luciana Rabello, fazendo o cavaquinho de centro; Mauricio Carrilho, no violão de sete cor-das e Celsinho Silva no pandeiro, entre outros participantes.
Grupos como Chorinho Novo, Confraria do Choro, Can-toria, Companhia do Choro e Eterno Choro mantêm a chama viva e são prova cabal de que, desde o início do século, se faz boa música em Maceió e se con-tinuará fazendo, a exemplo de outros estados brasileiros que capricham no gênero. Modes-
tamente, inscrevo meu próprio nome como autor do chorinho Tributo a Pixinguinha (tenaz-mente interpretado nas noites boêmias alagoanas pelo seres-teiro e grande intérprete Agildo Alves), em parceria com o meu
amigo Ibys Maceioh. Também de minha autoria é o choro Ge-rações, com arranjo de Zaílton Sarmento, que o executou ao piano, no CD Chorano (2006; bancado pela Chesf), homena-gem às horas de intensa boemia farrista no bar de meu compa-nheiro de copo Sabata, ex-pro-prietário do botequim-restau-rante homônimo.
O choro sempre teve exce-lente receptividade entre nós, embora não tenha sido, até o momento, objeto de estudo teó-rico sério por parte dos pesqui-sadores alagoanos.
ABSORÇÃO ANTROPOFÁGICA
Dos ritmos urbanos que se foram fixando no Brasil, a partir do começo do século 20, o mais importante do ponto de vista musical é o choro, cuja origem
O choro encanta e comove aos músicos alagoanos da nova geração, despontando nomes e valores que darão continuidade ao mais complexo gênero instrumental do Brasil

junho/julho 201150
O alagoano Otaviano Romeiro (ao centro), mais conhecido como Maestro Fon-Fon, acompanhado por seus músicos durante apresentação em Londres
remonta às três últimas déca-das do século 19, ainda impreg-nado do visgo da polca (intro-duzida no Brasil pela porta de frente do Teatro São Pedro, em 1845) e outras manifestações musicais europeias, ganhando marcante identidade nacional a partir da adesão de grandes compositores como Joaquim Antônio da Silva Callado, Chi-quinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros, Patápio Silva, Viriato
Figueira da Silva, Ernesto Na-zareth e outros, que, abrasilei-rando a oferta musical europeia, numa absorção antropofágica, exprimiram a alma lírica e so-nora do Rio de Janeiro. Mas não esqueçamos que o choro tam-bém deve tributo à música afri-
cana, através de suas danças, cantorias e outros babados.
Fator fundamental para a divulgação do choro, como tam-bém do samba e dos ritmos po-pulares em geral, foi a invenção do fonógrafo por Charles Cross e Thomas Edison, e que daria, nas palavras do pesquisador Ary Vasconcelos, “um novo e assombroso impulso à nossa música popular”. Como escla-rece José Ramos Tinhorão, “o
aparecimento do choro, ainda não como gênero musical, mas como forma de tocar, pode ser situado por volta de 1870”. Nesta época, havia uma grande efer-vescência musical e o Rio de Janeiro com seus pianos, onde dondocas prendadas marte-
lavam no teclado o dia inteiro, muitas vezes ofendendo os ou-vidos dos viajantes e músicos autênticos, demonstrando que o barulho musical precisava ser contido pela nova arte sofistica-da do choro. Havia uma grande concentração de músicos de qualidade e o novo gênero des-pontava e se consolidava. Mas não fosse pelo livro O Choro, de Alexandre Gonçalves Pinto (cujo cognome era “Animal”), publicado em 1936, nada saberí-amos sobre inúmeros artistas e instrumentistas dessa fase he-róica que despontava nos um-brais do Novecentos.
ORIGEM DO TERMO
A origem do termo “choro” suscita diversas interpretações, a começar pelo folclorista Câ-mara Cascudo, apostando que a palavra proviria de xolo, espécie de baile improvisado pelos es-cravos nas propriedades rurais e, aos poucos, se subvertendo em choro. Já o pesquisador Ary Vasconcelos entende que a ori-gem decorreria dos chorome-leiros, corporação de músicos e instrumentistas da época colo-nial, que executavam suas me-lodias em charamelas (instru-mento de palheta, à maneira do clarinete) e, assim, gradativa-mente, os choromeleiros passa-ram a ser chamados de chorões, seguindo a lei linguística do me-nor esforço.
José Ramos Tinhorão, um dos mais lúcidos historiadores
A invenção do fonógrafo foi um fator fundamental para a divulgação do choro, como também do samba e dos ritmos populares em geral

junho/julho 201151
da MPB, desenvolve a tese que a expressão adviria da maneira melancólica de se executar as baixarias dos violões e a im-pressão causada nos ouvintes, pelas modulações desses ins-trumentos. O doublé de cava-quinista e pesquisador Henri-que Cazes descarta todas essas interpretações, declarando que a tese de Tinhorão é infundada, pois as gravações de choro, até “por volta de 1907” careciam desta baixaria chorosa. Segun-do Henrique Cases, “o violão ainda não era usado com a exu-berância com que hoje estamos habituados”. Para Oneyda Alva-renga, musicista e dileta discí-pula de Mário de Andrade, muito se divulgou a expressão chori-nho pela mania “luso-brasileira de usar e abusar do diminutivo”.
Bom, sem salgar a feijoa-da, diríamos que choro, chorão, chorinho são expressões bra-sileiras que dizem respeito ao gênero musical instrumental (e popular, ou semipopular) mais harmonicamente rico do Brasil, que teve adeptos entre a músi-ca chamada erudita, como Hei-tor Villa-Lobos, autor de choros deslumbrantes e de harmonia sofisticada, e Francisco Migno-ne, com suas valsas de esquinas que não passam de chorinhos sutilmente disfarçados. Recapi-tulando, o choro começa como “forma de tocar”. Depois, com Pixinguinha, se consolida en-quanto gênero (com três mo-vimentos, embora o Carinhoso possua apenas dois), além da
característica de modulação (que é um principio psicológi-co) e o corte rítmico para o fra-seado livre da improvisação. O choro, ao ganhar letra, perde em substância e descamba no samba-canção, provocando a ira dos puristas. Quanto ao samba-choro, menos irritante aos ouvidos tradicionais, con-seguiu alforria musical entre os radicais cultores do gênero.
O choro passou por maus bocados nas décadas de 50-70, mas ressurgiu, com força total, a partir de 1975, com o grupo Os Carioquinhas, tendo à frente o extraordinário Rafael Rabello com o seu violão de 7 cordas. Daí
Ao piano, Pixinguinha sendo observado por Vinicius de Moraes, seu parceiro em algumas composições
apareceram novas formações, como o Galo Preto e Nó em Pin-go D’ Água, atraindo instrumen-tistas de peso, como Luiz Otávio Braga e Mauricio Carrilho. Para encurtar a conversa, diríamos que somente a partir da contri-buição milionária de Pixingui-nha o gênero se consolida como expressão musical, mas não de-vemos esquecer dezenas de ou-tros autores que também con-tribuíram para modular a face do choro. Famosa ficou a frase do compositor e maestro gaú-cho Radamés Gnattali: “Choros, só os de Pixinguinha!”
*é escritor, compositor e livreiro

A DINASTIA DAS SOCIEDADES MUSICAIS EM ALAGOAS
ROBERTO AMORIM
Tradição das bandas e filarmônicas remonta aos tempos da visita de d. Pedro II a Piaçabuçu, numa trajetória secular de sacrifícios e paixão pelo ofício de músico
REPORTAGEM
junho/julho 201152

Orquestra Filarmônica Santa Cecília, de Marechal Deodoro, um dos principais grupos em atividade no Estado
junho/julho 201153
Tércio Capello

Banda de música Guarany, de Pão de Açúcar, comandada pelo regente Petrúcio Ramos
Num dueto bem ensaiado, Valmir Santos, 16 anos, e Janec-lécia Silva, de apenas 12, contam muitas histórias aos turistas que chegam ao município de Piaçabuçu em busca do passeio até a foz do Rio São Francisco.
Enquanto os visitantes ti-ram fotos, eles disparam: “Gran-de produtor de coco e maior banco natural de camarões do Nordeste, Piaçabuçu tem sua história ligada à exploração do São Francisco. Através dessas águas, o imperador dom Pedro II chegou para visitar a nossa pequena vila” , conta Janeclécia, passando a palavra para Valmir. “Foi uma festança como nunca se viu na região. Mataram mais de 100 bois e as ruas foram la-vadas com perfume. A banda de mestre Euclides recebeu instrumentos novos vindos de
Penedo e tocou durante todo o tempo”, diz Walmir.
Descontados os exageros da imaginação dos jovens guias turísticos, os registros da tradi-ção musical na cidade começam com a passagem de sua majes-tade, como documentou Abe-lardo Duarte no livro Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina nas Alagoas, publicado em 1975 e reeditado em 2010 pela Impren-sa Oficial Graciliano Ramos/Cepal: “Receberam-me com la-ços de diversas cores atados em varas e músicas de rabecas e outros instrumentos. Piaçabuçu que, ainda há pouco, foi criada freguesia, tem bastante casas, porém a maior parte de pau a pi-que e cobertas de sapé”, anotou d. Pedro II em seu diário sobre a viagem pelo Rio São Francisco até a cachoeira de Paulo Afonso.
O episódio real de Piaçabuçu é o mais emblemático da se-cular tradição das filarmônicas espalhadas pelo território ala-goano. É impressionante a re-sistência e a renovação dessas sociedades musicais. Elas têm sido responsáveis pela forma-ção de várias gerações de músi-cos com destaque dentro e fora do Estado.
Mas a trajetória musical em alguns lugares nem sempre tem final feliz. Cidades como Viçosa, Palmeira dos Índios, Arapiraca, Santana do Ipanema e Rio Largo deixaram morrer suas tradicio-nais filarmônicas. Nem mesmo Maceió resistiu ao descaso dos governantes e, na década de 80, abandonou e viu definhar a Or-questra Filarmônica de Alagoas, formada por músicos profissio-nais de várias partes do Estado
junho/julho 201154

e que tinha como sede o prédio do Teatro Deodoro.
No caminho inverso, cidades às margens do Rio São Fran-cisco e das lagoas Mundaú e Manguaba seguem firme como polos de resistência musical. O exemplo mais notório é o do município de Marechal Deodoro, abrigo das famosas Filarmônica Santa Cecília – em ação desde 1910 – e Sociedade Musical Car-los Gomes, fundada em 1915.
A “trilha sonora” alagoana é extensa e também passa por Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Traipu, Piaçabuçu, Pão de Açúcar, São Braz e Piranhas. Em
cada um desses lugares exis-te o esforço quase solitário de maestros dispostos a manter viva a música iniciada no sé-culo passado. Entre eles estão Petrúcio Ramos, Antônio Basílio e mestre Silvestre. Não são raras as vezes em que tiram dinheiro do próprio bolso para consertar instrumentos, comprar partitu-ras e fardamento para dezenas de iniciantes.
“A banda de música ainda é a mais antiga instituição ligada à criação e à preservação da tra-dição musical brasileira. Nunca
deixou de cumprir o papel de escola livre de música, verda-deiro conservatório do povo. Notadamente, em pequenas ci-dades interioranas, desenvolve importante trabalho educativo e social, propiciando oportuni-dade de uma vida mais digna a centenas de jovens carentes”, afirma o pesquisador Wilson Lucena, provavelmente a pes-soa que mais detém o saber da trajetória das filarmônicas em solo alagoano.
Segundo ele, a “época das filarmônicas” em Alagoas co-meçou em 15 de agosto de 1876, com a fundação, em Maceió, da
Sociedade Recreio Filarmônico dos Artistas, regida pelo orto-doxo maestro Valério Pinheiro. Depois surgiu a Sociedade Fi-larmônica Minerva, comandada pelo maestro Benedito Silva, o “Benedito Piston”, autor do hino de Alagoas. “A partir daí, no período compreendido entre o último quartel do século 19 e as primeiras décadas do século 20, ocorreu uma verdadeira febre musical em Alagoas. Embora Maceió tenha sido uma das pre-cursoras do ‘surto das furiosas’, a genuína tradição alagoana em
bandas de música, que perdura até hoje, sempre foi uma pecu-liaridade de municípios do inte-rior do Estado”, explica Lucena, que prepara robusto livro sobre o assunto.
O SOM ÀS MARGENS DAS LAGOAS MUNDAÚ E MANGUABA
A vocação musical de Ma-rechal Deodoro é tanta que os moradores mais antigos contam que o destino dos recém-nasci-dos era decidido num monte de barro molhado arremessado na parede da casa. Se o barro caís-se no chão, a criança seria pes-cador, se ficasse grudado na pa-rede, sua sina seria de músico.
Por isso, não é exagero afir-mar que a primeira capital de Alagoas acorda e vai dormir pensando e produzindo música. Considerada por muitos pesqui-sadores como um dos maiores celeiros de músicos do Brasil, até hoje, a cidade às margens da lagoa Manguaba resiste brava-mente às dificuldades e mantém funcionando duas sociedades musicais centenárias: a Filar-mônica Santa Cecília e a Carlos Gomes. Em 1966, ainda gerou a Sociedade Musical Manoel Al-ves de França, antigo maestro que até os 84 anos ensinava te-oria e prática a crianças da peri-feria da cidade.
Sob a proteção e as bên-çãos da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a casa verde da Sociedade Filarmônica
A banda de música ainda é a mais antiga instituição ligada à criação e à preservação da tradição musical brasileira
Wilson Lucena | Historiador
junho/julho 201155

Santa Cecília impressiona pelo orgulho dos seus habitantes. Músicos e alunos fazem ques-tão de vestir o fardamento que os ligam à instituição musical mais antiga em atividade no território alagoano.
São 100 anos de ativida-des ininterruptas e incontáveis nomes de músicos que saíram da escola fundada pelo padre José Belarmino Barbosa, que na época tinha como missão alegrar a procissão do Sagrado Coração de Jesus, realizada na última sexta-feira do mês de setembro.
Durante um século de vida, a Santa Cecília nunca se livrou da dor de cabeça da falta de recur-sos financeiros. O pouco dinhei-ro para manter a escola de 100 alunos e os 80 músicos vem da prefeitura, das apresentações
em eventos e do bolso dos só-cios. “É pouco, muito pouco. Só conseguimos renovar alguns instrumentos graças à parceria com a Funarte”, diz João Paulo, vice-presidente da filarmônica.
Ex-aluno de clarinete, o hoje engenheiro civil está desde 2008 com o projeto pronto para transformar a histórica sede da Santa Cecília em centro cultural, com a construção de um anexo, onde vai funcionar biblioteca, sala para ensaio, auditório para apresentações, salas de aula e um espaço digno para conser-to e guarda dos instrumentos. “Encaminhamos o projeto para o Banco do Nordeste e o Minis-tério da Cultura. Estamos es-perando respostas positivas”, torce João Paulo. “Além das questões histórica, cultural e social, também contribuímos
para a economia de Marechal Deodoro, uma vez que forma-mos músicos profissionais que se espalham por bandas de todo o País”.
As histórias de sacrifícios e dedicação à música se repe-tem na Sociedade Musical Car-los Gomes, que se destaca pelo talento e inovação musical em Marechal Deodoro. “De forma incontestável, certamente é uma das maiores e melhores filarmônicas de todos os tem-pos, na qual se concilia o avan-ço harmônico com a expressiva quantidade de instrumentos”, ressalta o pesquisador Wilson Lucena.
Na outra lagoa, a Mundaú, há mais de 50 anos a música vem da Sociedade Musical Professor Francisco Pedrosa, ou a “Furio-sa Banda de Música de Coquei-ro Seco”. A fama da vitória do campeonato estadual, realizado pela Federação das Bandas de Música e Fanfarras de Alagoas. “Também subimos no pódio em competições de Brasília e João Pessoa”, conta, todo orgulhoso, o maestro Silvestre, 42 anos de idade, 17 deles dedicados à re-gência e 34 ao saxofone. “Entrei aqui pela primeira vez aos oito anos e não saí mais. Já trouxe meus dois filhos e tenho fé em Deus de ver meus netos tocan-do na banda de Coqueiro Seco”.
São dele também as preo-cupações. A lista é grande e de tirar o sono: conseguir dinheiro para terminar uma reforma ini-ciada há 20 anos; manter aberta
Filarmônica Lira Traipuense, regida pelo maestro Antônio Basílio, conta com mais de 70 músicos
junho/julho 201156

a escola gratuita para dezenas de crianças e adolescentes; consertar e comprar novos ins-trumentos. Mas Silvestre não desanima. “Sou policial militar e vejo o que está acontecen-do com a juventude que não encontra o caminho do bem. Aqui na banda nossas crianças estão afastadas da violência, do roubo e das drogas e seus familiares vivem em paz. Por isso, vamos continuar lutan-do pela sobrevivência da nossa sociedade musical”.
A MÚSICA NO CAMINHO DE UM RIO
Há mais de um século, de Piranhas até Piaçabuçu, o Rio São Francisco encontra muita
música. Em praticamente todas as cidades margeadas por ele existiu, pelo menos, uma banda de música, segundo o pesquisa-dor Wilson Lucena.
A cidade de Penedo, por exemplo, já vivenciou um pas-sado de esplendor cultural. Existem referências da exis-tência de quatro: Lyra Operária 6 de Novembro, União Caixe-
ral, Euterpe Ceciliense e Carlos Gomes. Os tempos mudaram e, aos poucos, as bandas foram sumindo. Os mais importantes focos de resistência estão nos municípios de Piaçabuçu, Pão de Açúcar e Traipu.
Na quinta geração de músi-cos, a Filarmônica Euterpe São Benedito descende da banda de rabecas que tocou para o Im-perador d. Pedro II no século 19. Nos últimos 50 anos, só conti-nua existindo pela devoção dos maestros Euclides, Francelino e João Ferreira, que morreu em atividade musical, aos 87 anos.
Agora, a missão de continui-dade é do seu filho João Vicente. Técnico em enfermagem, não herdou do pai a vocação mu-sical, mas garante ter a força
necessária para administrar, superar a falta de dinheiro e evitar o fechamento. Ao lado dele estão 45 jovens músicos da pequena Piaçabuçu. Eles são apaixonados pela filarmônica da cidade onde nasceram, cres-ceram e aprenderam a tocar.
A dedicação é tanta que muitos chegam a comprome-ter 25% do salário para evitar o
silêncio dos instrumentos. To-cador de trombone, o vigilante José Antônio, 31 anos, é um dos abnegados. Parte da renda da família vai parar no caixa da filarmônica, que precisa pagar água, energia, limpeza, con-serto dos instrumentos e man-ter aberta a escola de música Mestre Francelino.
Rio acima, já nas terras do Sertão, impressiona o traba-lho do rígido Petrúcio Ramos. Oficial-regente reformado da banda da Base Aérea de Salva-dor, em 1999, ele decidiu voltar para a cidade de Pão de Açúcar e ressuscitar a Banda de Músi-ca Guarany. “Minha missão não é apenas formar músicos pro-fissionais, mas oferecer a eles um caminho de disciplina, res-peito e cidadania. Eu os preparo para a vida”, garante o maestro conhecido no cenário musical alagoano pela rigidez e busca da perfeição.
À sua maneira sisuda, o maestro Petrúcio não cansa de repetir: “Uma cidade sem banda é uma banda de cida-de. Menino que pede licença e dá muito obrigado, certa-mente pertence a uma banda de música”.
O exemplo de Pão de Açú-car serve de inspiração para cidades como Piranhas, Traipu e São Braz. Com poucos músi-cos e muita vontade, as ban-das desses municípios lutam diariamente para continuar fazendo parte da dinastia mu-sical de Alagoas.
Os tempos mudaram e, aos poucos, as bandas foram sumindo. Os mais importantes focos de resistência estão nos municípios de Piaçabuçu, Pão de Açúcar e Traipu
junho/julho 201157

GERALDO DE MAJELLA*
FOTOS: MICHEL RIOS
ARTIGO
DAS VÁRIAS FORMAS DE LER, EXPOR, VENDER E APRECIAR LIVROS EM MACEIÓ:
MEMÓRIAS
junho/julho 201158

junho/julho 201159

SOBREVIVENTES DAS ALAGOAS: OS SEBOS DE LIVROS
Os sebos em Maceió têm crescido nos últimos anos e vêm se tornando um mercado promissor. Fazem-se visíveis as livrarias de usados em um improviso generalizado, funcio-nando em logradouros públicos. São locais onde se vendem li-vros, dicionários, almanaques, discos, CD-ROM, DVDs, revis-tas e outros produtos culturais. A maioria deles está localizada nas ruas Dr. Pontes de Miranda, Marechal Roberto Ferreira, do Imperador e Barão de Atalaia. São dezenas de barracas encos-
tadas no gigantesco paredão da Assembleia Legislativa e alhu-res. Nessa área, concentra-se a maioria dos sebos da cidade, mas há os diferenciados.
UM DOS PRIMEIROS SEBOS DA CIDADE
O crescimento dessa ativi-dade em Maceió tem contribu-ído para a difusão da cultura, mas por ironia do destino o apa-recimento, da forma descrita por mim, ocorreu de uma maneira não usual – pela singularidade. Um dos primeiros comerciantes nesse tipo de atividade foi uma pessoa simples, do povo, “de poucas letras”, que havia fre-
quentado alguns poucos anos de salas de aula, e que antes de descobrir esse filão exercia uma atividade profissional típica dos excluídos, dos pobres: a de carroceiro.
Benedito Ferreira Lima, o Biu, como era conhecido, se tor-nou o primeiro, creio, vendedor de livros usados estabelecido no paredão da Assembleia Le-gislativa, em meados da década de setenta. O livro, para Biu, não passava de uma mercadoria que ele comercializava a preço baixo em relação aos das livrarias le-galmente estabelecidas. Dessa forma, o ex-carroceiro susten-tou sua família.
O livro evolui como parte do
Denominado “Paredão da Assembleia” o corredor situado nas ruas Dr. Pontes de Miranda, Marechal Roberto Ferreira, do Imperador e Barão de Atalaia, no Centro de Maceió, abriga a maior concentração de sebos da cidade
junho/julho 201160

processo de desenvolvimento das civilizações, até chegar ao que atualmente conhecemos, passando por várias fases: a do papiro, a do pergaminho, che-gando ao papel manufaturado, confeccionado a partir de tra-pos, e alcançar a fase do papel industrializado, feito de pas-ta de madeira, para hoje tor- nar-se virtual. O nosso livreiro jamais soube desta longa e difí-cil trajetória, mesmo que de for-ma remota ou ilustrativa, mas o fato é que ele conseguiu invo-luntariamente estimular o que hoje podemos denominar de corredor cultural do “Paredão da Assembleia”.
O SURPREENDENTE INÍCIO
No começo, Biu negociava com papel velho, garrafa, lata e outros objetos, hoje em dia de-
nominados “recicláveis”. Certo dia comprou, a preço módico, uma biblioteca de uma tradicio-nal família alagoana, desejosa de se livrar, finalmente, daquele estorvo. Biu iniciou o transporte em sua carroça, puxada por ele próprio – conhecida como “bur-
ro sem rabo”. Cansado, parou na Praça Dom Pedro II, em frente à estátua do imperador, um belo monumento construído em ho-menagem a sua majestade. Ao arriar a carroça, pesada, cheia de livros, os transeuntes, vendo a inusitada cena, foram parando e aglomerando-se em torno da carroça: iniciava-se ali mesmo a venda dos livros, adquiridos ini-cialmente como papel impres-tável, destinado a embrulho.
Ao despertar o interesse dos clientes que transitavam apressados pela praça, Biu per-cebeu sua nova e repentina ap-tidão, sem sequer saber ao certo como deveria chamá-la, mas o fato inquestionável é que agora ele inaugurara nova atividade comercial.
O destino da carga foi subi-tamente alterado, e a “monta-nha” de livros comprados das
famílias ilustres de nossa capi-tal teria destino glorioso: a difu-são da cultura. Não mais papel para embrulhar mercadorias vendidas no Mercado Público, em bancas fedorentas de pei-xes, mariscos, verduras, frutas, crustáceos, além dos embru-
lhos de sabão, prego, material de construção etc.
Passados mais de 10 anos de sua morte, acontecida quando contava ainda 48 anos de idade, percebemos hoje que ele nos deixou a perseverança como legado cultural – os sebos do Centro de Maceió cresceram e se tornaram referência –, e uma nova geração de livreiros surgiu. Nesse contexto, a se-gunda geração de sua família deu continuidade, através do seu filho, José Augusto da Silva Lima, que desde os oito anos de idade trabalhava na banquinha do pai, estabelecendo-se poste-riormente como proprietário de uma livraria de usados.
O livro está distante de se tornar um produto essencial à vida da população, que não o considera gênero de primeira necessidade. Os preços proibi-tivos transforma-os em pro-dutos para poucos. Talvez esse seja o motivo do crescimento de frequentadores de sebos: o preço relativamente acessível se comparado aos das livrarias estabelecidas.
Na falta de alfarrábios mais sofisticados, com raridades bi-bliográficas, os sebos improvi-sados do “Paredão da Assem-bleia” e das ruas adjacentes vão sobrevivendo às intempéries: enfrentam sol, chuvas e en-chentes, a voracidade dos roe-dores, inimigos declarados dos impressos, esses convivas fol-gados que transitam pelos lo-gradouros da capital causando
junho/julho 201161
O destino da carga foi subitamente alterado, e a “montanha“ de livros comprados das famílias ilustres de nossa capital teria destino glorioso: a difusão da cultura

prejuízos aos proprietários de lojas e bancas.
A pouca visibilidade que este comércio tem deve-se, talvez, ao fato de que os seus consu-midores são oriundos de classes sociais pauperizadas ou mesmo a baixa classe média, que ve-lozmente se proletariza. Porém, diante da pobreza material da população e das altas taxas de desemprego, os que ainda con-seguem manter seus negócios, pela persistência laboriosa e enfrentado as pesadas peculia-ridades e preconceitos de toda ordem, merecem nosso respeito e elogio pela dignidade com que exercem o seu ofício.
AS LIVRARIAS E OS LIVREIROS
Há entre as profissões uma que, particularmente, me seduz: a de livreiro. Comercializar livros é disponibilizar um bem cultural
que contribui para transformar as pessoas e o mundo.
É recorrente lembrarmos de livreiros e livrarias. Monteiro Lobato foi múltiplo, criou a livra-ria Brasilense, foi editor, jorna-lista e um extraordinário escri-tor. Outro nome que sobressai no cenário nacional é o de José Olympio, editor e livreiro. Na sua famosa livraria, os principais in-telectuais do Brasil se reuniam. Entre esses, o alagoano Graci-liano Ramos, junto a Jorge Ama-do, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e tantos mais. Os encontros di-ários na livraria José Olympio se tornaram célebres e marcaram definitivamente a história da li-teratura brasileira.
Não é raro ouvirmos refe-rências às livrarias que foram importantes, mas que por mo-tivos outros fecharam suas por-tas. Essas lembranças surgem
num clima de certa nostalgia, seja entre jovens intelectuais, estudantes, ou entre antigos leitores que frequentaram am-bientes agradáveis como são os das livrarias. Por mais simples e singelas que sejam, paira nas li-vrarias uma aura de saber sobre os livros e prateleiras.
As gerações que adquiriram o hábito da leitura e estabele-ceram com o livro uma relação de amor sentem pelas livra-rias uma atração indescritível, diferentemente dos que estão se formando em contato dire-to com o mundo virtual. O livro em papel é algo menos praze-roso, imagino. As janelas que se abrem ao mundo através da tela de computador vêm via co-nexão à rede mundial, onde é possível acessar as megalivra-rias virtuais que disponibilizam milhões de títulos em todos os idiomas e dialetos. Algo impen-sável até bem pouco tempo. Isso evidencia que o livro no formato tradicional continuará sua tra-jetória secular e insubstituível.
ANTIGAS LIVRARIAS DE MACEIÓ
Livraria em Maceió sempre foi uma atividade econômica de pouca expressão. No entan-to, esse tipo de negócio marcou época na cidade e na vida cul-tural de Alagoas. A livraria Casa Ramalho, fundada por Manoel Joaquim Ramalho, foi um grande marco na vida cultural de Ala-goas no século 20. Estabelecida
junho/julho 201162
Bancas do “Paredão“comercializam livros e revistas usados

na Rua do Comércio, funcionava também como editora. Pela Ra-malho, nomes como Jayme de Altavila, Humberto Bastos, Al-fredo Brandão, Craveiro Costa, Théo Brandão, Abelardo Duarte, Felix Lima Júnior, Humberto de Araújo Cavalcanti e tantos ou-tros importantes intelectuais foram editados e tiveram seus livros vendidos por mais de 70 anos.
A Rua do Comércio era o principal logradouro da “Maceió de Outrora”. Nessa mesma rua funcionou, por muitos anos, a li-vraria José de Alencar, proprie-dade do Enéas, local que tam-bém aglutinou intelectuais nas décadas de 50, 60, 70 na cidade. Já na Moreira Lima reinava a li-vraria Castro Alves, do livreiro José Barros.
Em Maceió, na década de 1970, instalou-se a Livro 7, livra-ria originária de Recife que fun-
cionou de 1976 a 1983, e ajudou durante esse período na am-pliação do horizonte de leitura na cidade. Quando o País vivia as agruras de uma ditadura mi-litar, o mercado editorial se res-sentia em não poder editar li-
vros que aos olhos dos ditadores eram tidos como subversivos. A intensa censura aos meios de comunicação, as artes em geral ampliava o terror, intimidava, para dizer o mínimo.
Os editores mais ousados corriam os riscos e colocavam pequenas edições no mercado.
A Livro 7 era uma dessas livra-rias que ousava e corria os ris-cos necessários para difundir os bons livros e arejar o ambiente pesado e turvo da cidade. Co-mercializar livros que expres-sassem o pensamento filosófico
e político de esquerda ou sim-plesmente de adversários do regime militar era um ato de ou-sadia e uma maneira de resistir à tirania.
Localizada na Rua Cincinato Pinto, a Livro 7 tornou-se um ponto frequentado pela inte-lectualidade de esquerda e de-mocrática. Em torno dos livros, nos fins de tardes, reuniam-se jovens ativistas, estudantes, professores universitários, pro-fissionais liberais. Era o point de que a rapaziada necessitava. Os encontros serviam para discu-tir, resenhar o último livro lido, comentar o filme da semana – não eram muitos, pois o cinema andava em baixa –, falar mal do governo militar e marcar o encontro para a farra no fim de semana no Bar do Alípio, à beira da Lagoa Mundaú ou no Ipane-minha, na Pajuçara.
O leitor que desejasse ad-quirir os clássicos da economia
junho/julho 201163
Clássicos da literatura estão entre as obras que podem ser encontradas nos sebos
Quando o País vivia as agruras de uma ditadura militar, o mercado editorial se ressentia em não poder editar livros que aos olhos dos ditadores eram tidos como subversivos

política do filósofo alemão Karl Marx, por exemplo, não teria outro local mais apropriado que a Livro 7. O teatro do drama-turgo alemão Bertold Brecht, a poesia russa e universal de Maiakovski, a de Ferreira Gullar, o teatro de Dias Gomes ou do “marginal” Plínio Marcos: per-deria tempo quem fosse a outro local que não a Livro 7. A livraria tornou-se o ponto de encontro da esquerda dos anos 1970 e 1980 em Maceió. Durante certo
tempo, na década de 1980, quem se tornou vizinho da Livro 7 fo-ram os comunistas do PCdoB, o que fez aumentar ainda mais a aglomeração de militantes da esquerda alagoana na livraria. A razão social da Livro 7, a par-tir de 1983, muda, passando a se chamar Caetés, nome que permanece até hoje, no mesmo local, sob a direção do João Pe-reira.
Alagoas, durante boa parte do século 20, teve altas taxas de analfabetismo, rivalizando com o Piauí. Se levarmos em consi-deração as estatísticas do Cen-so de 1950, Alagoas tinha 77,9% e o Piauí 78,4% de analfabetos.
Argumento forte para qualquer cidadão pensar muito ao decidir instalar uma livraria ou editora e se perguntar: quem compraria livros nessa terra?
O Brasil tem apenas 2.008 livrarias e uma população que ultrapassa os 180 milhões de habitantes, o que dá, em média, um estabelecimento para cada 89,6 mil habitantes. A Argen-tina, nosso vizinho ao sul do continente, chegou a ter 950 li-vrarias para uma população de
37 milhões de habitantes, o que dá, em média, 34,9 mil habitan-tes para cada estabelecimento. Cerca de 250 livrarias fecharam com a crise econômica. Mesmo assim ainda há 700 livrarias. O que dizer de Paris, que tem duas mil livrarias apenas na capital francesa?
Entanto, não há por que de-sanimar. Como nem tudo está perdido, muitas livrarias nas últimas décadas abriram e fe-charam em Maceió (mas isso faz parte de outra história). É crescente a profissionalização e o empenho de livreiros, editores e escritores, o que gera um sig-nificativo incremento na venda de livros em nosso Estado.
A CIDADE E SUA ORIGEM
As cidades surgem em luga-res muitas vezes inesperados, à beira-mar, ou próximo a lagos, restingas. Maceió é um exem-plo: bate com os costados no Oceano Atlântico, mas não dei-xou por menos, abriu o seu co-ração para os canais e mangue-zais da Mundaú; outras foram construídas em topo de monta-nhas, depressões vulcânicas, às margens de rios, como Anadia, banhada pelo São Miguel.
Maceió, para o historiador Craveiro Costa, “nasceu espúria (...) no pátio de um engenho co-lonial, sem ascendência conhe-cida e assentamento autorizado nas crônicas do período históri-co da luta pelo domínio do gen-tio e conquista da terra”.
O sítio histórico tido por Cra-veiro Costa como sendo o nú-cleo formador de nossa cidade conserva, apesar de maltrata-do, um conjunto arquitetônico importante. As construções re-manescentes dos séculos 19 e 20 localizadas na Praça Pedro II resistem, não sabemos como e de que maneira, à fúria da de-molição do patrimônio histórico formado ao longo dos séculos.
Abstenho-me de encampar a polêmica versão sustentada por Craveiro Costa, que defen-deu a tese de que a cidade sur-giu a partir do engenho Mas-sayó, que moeu cana e fabricou açúcar onde hoje se localiza a
junho/julho 201164
Considerada uma das principais livrarias de Maceió nos anos 1980, a Livro 7 ousava e corria os riscos necessários para difundir os bons livros

Assembleia Legislativa e suas adjacências. Décadas depois, essa tese foi contraditada pelo pesquisador Moacir Sant’Ana, que afirma, baseado em docu-mentação, haver Maceió nas-cido à beira-mar, na enseada de Jaraguá.
No quadrado onde foram erguidos os prédios da Assem-bleia Legislativa, da Catedral metropolitana, da sede do Mi-nistério da Fazenda, do Arquivo e da Biblioteca Pública estadu-al, além da majestosa estátua do imperador Pedro II, que do centro da praça a tudo impá-vido observa, antes existia um bem cuidado jardim; restaram apenas as árvores centenárias, oitizeiros e palmeiras imperiais que continuam a ornamentá-lo, oferecendo sombra ao cidadão
que ao passar pelo antigo logra-douro pode se livrar do sol es-caldante do verão alagoano.
As cidades cada vez mais se tornam conhecidas através dos seus símbolos econômicos, intelectuais e culturais. Em Ma-ceió, ocorre o oposto: a repre-sentação do passado é o canal que a todo instante denuncia a ignorância e o obscurantismo, por não ser preservada. É fá-cil constatar isso ao caminhar pelas ruas centrais da cidade e com atenção olhar o casario abandonado ou já destruído.
BIBLIOTECAS DE MACEIÓ
A Biblioteca Pública Estadu-al é a voz necessária encrava-da no Centro de Maceió. Ao ser transferida da Rua do Comércio,
na década de 1960, para o atual prédio, ganhou espaço e pompa ao ser instalada no novo edifício, ajudando, portanto, a manter o clima de efervescência intelec-tual na cidade. Teve o acervo ampliado e ganhou melhores acomodações.
A criação da Universidade Federal de Alagoas foi decisiva e, daí em diante, outras escolas de ensino superior foram aber-tas em Maceió. As mudanças no mundo cultural são expressi-vas, mas um dado é preocupan-te nesse contexto: a Biblioteca Estadual continua a ser a única a prestar serviços à comuni-dade e a preservar um acervo que a cada dia se deteriora pela falta de recursos destinados à manutenção e à modernização desse imprescindível equipa-
junho/julho 201165
Biblioteca do Sesc Poço, a única da cidade que empresta livros à população

mento cultural público. Atu-almente, seus frequentadores são os estudantes da rede pú-blica de ensino, moradores de bairros distantes.
Os avanços tecnológicos têm modificado hábitos de pes-quisadores e de estudantes: a facilidade de se obter informa-ções através da rede mundial de computadores, a internet, é o diferencial em relação ao que se realizava no passado recente, quando a biblioteca, enquanto instalação física, era determi-nante. Ao conectar-se, qualquer
um entra nas principais biblio-tecas do Brasil e do mundo.
Localizado no centro da ci-dade, Rua do Sol com a Ladeira do Brito, o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas (IHGAL), fundado em 1869, mantém ex-traordinário acervo onde a his-tória, a geografia e a cultura da gente alagoana estão efetiva-mente preservadas e postas à disposição dos que têm interes-se em pesquisar esses temas. A biblioteca do IHGAL tem mi-lhares de volumes, muitos des-ses, raros; há ainda coleções de
periódicos em sua hemeroteca, que vem sendo formada desde o século 19 até os nossos dias.
O IHGAL é, na atualidade, o principal guardião da memória alagoana e, certamente, por ser uma instituição privada, é que pôde ao longo de 136 anos man-ter em excelentes condições de conservação o rico acervo for-mado essencialmente pelas do-ações de seus sócios.
A Academia Alagoana de Letras, também localizada no centro da cidade, é outra insti-tuição que tem se preocupado
junho/julho 201166

em organizar uma biblioteca e em dar acesso ao público, prin-cipalmente aos pesquisadores. E pode-se afirmar que o acer-vo já catalogado é uma das re-ferências na cidade na área de literatura, muito embora pouco conhecida.
A Fundação Jayme de Al-tavila – Fejal, mantenedora do Cesmac, tem surpreendido a todos com a organização e com o crescimento do acervo biblio-gráfico. Há uma nova concepção em prática naquela instituição, na qual a biblioteca central tem
recebido investimentos na mo-dernização e na ampliação do seu acervo, inclusive tendo sido incorporada parte considerá-vel da biblioteca do historiador Jayme de Altavila, que empresta seu nome à instituição.
Infelizmente, o mesmo não podemos dizer do enorme acer-vo bibliográfico, patrimônio va-lioso da Biblioteca Central da Ufal. São milhares de volumes em situação precária, sem falar de outros tantos milhares de li-vros amontoados em depósitos, ainda não catalogados e pos-tos à disposição dos alunos e dos pesquisadores. É o sinal do
sucateamento da universida-de pública brasileira, obra que ardilosamente vem sendo exe-cutada durante as últimas dé-cadas. A alegação para tal des-caso é a crônica falta de recursos financeiros.
Mas o mundo encantado das bibliotecas pode ser visualizado no bairro do Poço, na biblioteca do Serviço Social do Comércio (Sesc), pela movimentação de milhares de jovens, principal-mente, que para ali acorrem. É, creio, a única biblioteca da ci-dade que empresta livros à po-
pulação há quase três décadas, contribuindo assim para a for-mação de leitores daquele bairro popular e de outros que para lá se dirigem com esse fim.
O LEITOR ESSENCIAL
A magia da leitura e o encan-tamento das bibliotecas atraem milhares de leitores. Desde a dé-cada de 1970, consta como usu-ário assíduo Walfrido Pedrosa de Amorim, o Nô Pedrosa, como é conhecido, personagem tradi-cional da esquerda alagoana. A carteirinha de usuário da biblio-teca é talvez a identidade desse
velho e irrequieto leitor. A figura pública de Nô Pedrosa,
ex-militante do PCB na juventude, é sempre associada ao anarquis-mo, militância que abraçou como opção de vida. De uma coisa ele não pode ser acusado: de que não gosta de livros e de bibliotecas. Fez disso um sacerdócio. Digo isso consciente de que estou proferin-do uma heresia, já que o incrédu-lo anarquista talvez não entenda que o seu modo de viver seja um sacerdócio.
Esse personagem é uma ra-ridade em nossos tempos, des-pojado de qualquer apego a bens materiais. Assim é conhecido, mas para muitos é tido como louco; para outros, é um ser integrado à paisagem urbana de Maceió e um-bilicalmente vinculado à Biblioteca Pública Estadual. Foi a partir desse local que chegou a formar segui-dores durante a década de 1970, quando resistir à ditadura militar era, também, frequentar o grupo do Nô Pedrosa, em frente à BPE.
O fato de nunca ter vendido a sua força de trabalho a qualquer patrão o torna um ser que vive livre das amarras da sociedade capitalista. Encantado com os li-vros, continua a viver como nas-ceu: livre. Devemos manter a luta para que seja criada, em Maceió, uma rede pública de bibliotecas. Assim, iniciaremos a grande ca-minhada em direção ao futuro, quando os livros passarão a ser um bem essencial e disponível a todos.
*é historiador
junho/julho 201167
A biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas mantém um dos maiores e mais importantes acervos de Alagoas

ENTREVISTA
HOMEM DE PENSAR E FAZER TEATRO
ROBERTO AMORIM
Discípulo de Linda Mascarenhas, Ronaldo de Andrade lembra do nascimento da Associação Teatral das Alagoas (ATA) e das transformações nas três primeiras décadas de vida do grupo de teatro mais antigo em atividade em solo alagoano
junho/julho 201168

Michel Rios
O professor, ator e dramaturgo alagoano Ronaldo de Andrade, presidente da Associação Teatral das Alagoas, grupo fundado por Linda Mascarenhas
junho/julho 201169

Há mais de meio século, a Associação Teatral das Alago-as (ATA) teima em praticar ar-tes cênicas no chão alagoano. A teimosia foi herdada da sua fundadora, a atriz e diretora Lin-da Mascarenhas. Mulher mais importante do teatro alagoano no século passado, ela nunca questionou sua fé na capacida-de alagoana de produzir teatro de qualidade. Não à toa, dedicou a maior parte da vida à forma-ção de atores e grupos teatrais.
Um dos discípulos mais fi-éis ao legado do teatro de Linda Mascarenhas é o professor, ator e dramaturgo alagoano Ronal-do de Andrade. Numa conversa
rápida enquanto se preparava para mais uma reunião com os novos atores da ATA, ele desta-ca as principais transformações do grupo desde a fundação, na década de 1950 até os anos 80, quando a ATA decide se renovar e tomar as rédeas do processo criativo. GRACILIANO - Em que contex-to artístico nasceu a Associação Teatral das Alagoas?RONALDO DE ANDRADE - Lin-da Mascarenhas é a grande res-ponsável. Ela e outras pessoas na Maceió da década de 1940 tentavam fazer teatro. É o mo-mento marcado pelo Teatro De-odoro fechado e o início do mo-vimento do moderno teatro em Alagoas. Em 1944, Linda Mas-carenhas inicia a montagem do espetáculo Miragem, Fantasia pela Federação Alagoana Pelo Progresso Feminino. Em segui-da, ao lado de Aldemar de Paiva e Nelson Porto, funda o grupo Teatro de Amadores, que estreia em 23 de outubro de 1944, com o espetáculo A Cigana me En-ganou, de Paulo de Magalhães. Esse grupo se manteve produ-tivo durante quase uma déca-da, nos últimos anos graças ao pulso firme de Linda. Em 1954, ela volta dirigindo o espetáculo Terra Natal, de Oduvaldo Via-na. A montagem fazia parte do recém-criado Teatro de Ama-dores de Maceió, o TAM. É nesse momento que se instala o teatro renovado brasileiro em Alagoas. Um ano depois, Linda Mascare-nhas decide fundar a Associa-
ção Teatral das Alagoas.Como a sociedade alagoana re-agiu a um grupo de teatro co-mandado por uma mulher?Linda escreveu o texto e diri-giu o primeiro espetáculo da ATA, a comédia Conflito Íntimo. A estreia foi no palco do Teatro Deodoro e a recepção do públi-co foi a mais reticente possível. Foi uma estreia cheia de sus-pense, dificuldades e muitas críticas. Aí começa, mesmo, a trajetória da ATA. Alheia ao fa-latório, aos 61 anos Linda monta a segunda peça da ATA e decide estrear como atriz. Todos cor-rem para vê-la no palco e ela se mostra ainda mais vigorosa e determinada.Ela continuou nos palcos?Nessa década de 60, já temos uma consagração pontual de Linda, com interpretações de Romana e Dona Xepa. Ela é ova-cionada e suas atuações têm re-percussão extraordinária. Par-ticipa de festivais de teatro em outros estados, sendo premia-da como melhor atriz. Quando apresentou Dona Xepa na cida-de alagoana de União dos Pal-mares, o entusiasmo da plateia foi tanto que ela saiu carregada pelo público.Qual a diferença da ATA em re-lação aos outros grupos de tea-tro da época?A ATA tinha, na autonomia de pensar os espetáculos que queria fazer, uma característi-ca muito própria. Linda usava como paradigma de referência as grandes companhias do Rio
junho/julho 201170
Linda Mascarenhas, ícone do teatro alagoano

de Janeiro. Também trouxe mu-lheres diretoras para Maceió, como Rosa Borges, Margarida Cardoso e Maria José Campos de Lima. Linda também criou o núcleo de teatro infantil. A ATA estava sempre inquieta, borbu-lhando novas ideias. E aí uma questão muito interessante: acho que os jovens que faziam teatro não tinham consciência, na época, da importância do que estavam fazendo. A década de 70 foi produtiva para a ATA?É um novo momento para a ATA. É quando chegam atores como Zé Márcio Passos, Milton Aze-vedo, Tereza Cabral e Homero Cavalcante. Todos se juntam no espetáculo Procura-se um Rosa. Nesse contexto, em 1971, Linda lança uma alternativa de sobrevivência: a Sociedade dos Amigos da ATA. Era preci-so dinheiro para as montagens e Linda tinha o salário modes-to de professora. Sua casa já servia de palco para ensaios e sede provisória da ATA. Mas o negócio não deu certo devido à administração amadora. Linda gostava mesmo da parte ar-tística dos espetáculos. Tantas dificuldades e a mão de ferro da ditadura militar enfraqueceram os grupos de teatro de Alago-as. Muitos desapareceram, mas a ATA continua firme fazendo teatro. Quando Linda Mascarenhas en-trou na sua vida?Vi a fotografia dela num jornal de Recife e decidi que iria fazer
teatro e fazer teatro com ela. Vim para Maceió e um dia to-mei coragem e fui até a casa de Linda, na ladeira da Catedral. Bati palmas, ela veio atender e eu disse que queria fazer teatro. Na noite do mesmo dia partici-pei da leitura de O Jacaré Azul, uma peça infantil. Era o início da minha história não apenas com Linda, mas também com a ATA, que dura até hoje. Como era a relação dela com os atores?Num determinado momento, Linda começou a nos preparar para assumir várias responsa-bilidades na ATA. Eu e Homero fomos escrever peças e Zé Már-cio Passos começou a dirigir com a experiência que trouxe do Rio de Janeiro. Linda já esta-va com idade avançada e tinha dificuldade para tantas ativida-des. Nos últimos anos, ela ficou apenas trabalhando como atriz, fazendo monólogos e participa-
ções em peças como Hoje É Dia de Rock e Hipólito.Nos anos 80 a ATA se renovou?Realmente a ATA viveu outra fase criativa na década de 1980. Nós começamos a ter autonomia criativa como grupo. Além de amigos, os participantes da ATA também são comprometidos com o teatro e assumem o papel de profissionais de teatro. A par-tir daí, montamos espetáculos exclusivamente nossos, porque passamos a escrever os textos, assumir a direção, cenário, trilha sonora e todo o resto do proces-so de montagem de uma peça. Não tem mais essa história de trazer diretor do Rio de Janeiro. Tudo fica por nossa conta. É um momento muito especial que se transformou na base para a ATA ser o que é hoje. A ATA agora vive mais um momento de renovação com atores novos e com a mes-ma garra tão admirada por Linda Mascarenhas.
Em 1978, os atores Ronaldo de Andrade (Pedro) e Thalmann Bernardes (Zeca) no espetáculo Pano de Boca, de Fauzi Arap, com direção de Lauro Gomes
junho/julho 201171

A ÉPOCA DE OURO DO CINEMA EM MACEIÓ
VANESSA MOTA
Anos após desaparecerem da capital alagoana, cinemas de bairro são relembrados com saudade por quem viveu o apogeu da sétima arte na cidade
junho/julho 201172

Fachada do Cine São Luiz. O prédio, situado na Rua do Comércio, hoje abriga uma loja de eletrodomésticos
Os cinemas de bairro de Ma-ceió eram a forma de entrete-nimento mais popular nos anos 50. Os fins de semana eram, tradicionalmente, marcados pelas matinês que lotavam as salas espalhadas por toda a ci-dade. No Poço, havia o Plaza. Na Ponta Grossa, o CineLux. Na Pa-juçara, o luxuoso Rex. O Centro abrigava talvez o mais famo-so deles: São Luiz. Já no Prado, ficava o Ideal.
Mas o movimento cinema-tográfico na cidade começou muito antes do nascimento das salas de exibição propriamente ditas. Em 1908, no prédio onde funcionava o Telégrafo Nacional, na Praça dos Martírios, ocor-reram exibições de imagens
em movimento utilizando um aparelho movido por uma fonte luminosa, chamada de luz oxie-térica. Pouco depois, este equi-pamento foi levado para o Teatro Maceioense, que passou a abri-gar estas exibições, ganhando o nome de Cine-teatro Delícia, de propriedade de Moacyr Miranda que, posteriormente, viria a er-guer o Lux.
Algum tempo depois, apare-ceram vários cinemas na Rua do Comércio. Todos sumiram pou-co após sua abertura. Outros, como o São Luiz, tiveram vida longa, passando por vários ad-ministradores.
Quando surgiu, em 1913, o cinema, que se chamava Cine-theatro Floriano, ainda em
tempos de cinema mudo, conta-va com uma orquestra que exe-cutava músicas ao vivo durante as exibições. Em 1933, ele muda de dono e passa a chamar-se Capitólio, sem alterações em sua estrutura.
A partir de 1941, foi negocia-do com a empresa recifense Fi-lizola, que modernizou o espaço – os assentos, que eram 1.800 passaram a 1.000, foi instalado um palco para apresentações teatrais e caixa acústica – e passou a ser chamado de Cine-arte. Após protestos, em 1957, por melhorias na estrutura, como instalação de ar- condi-cionado e cadeiras mais con-fortáveis, o cinema foi fechado, só reabrindo dois anos depois,
Acer
vo pa
rticu
lar: I
nês A
morim
junho/julho 201173

quando passou a ser adminis-trado pelo Grupo Severiano Ri-beiro, ganhando seu quarto e mais popular nome: Cine São Luiz, em homenagem ao funda-dor do grupo.
Por trás do Teatro Deodoro, no Centro, surgiu o Cine Roial, conhecido popularmente como “poeirinha”. Este cinema teve vida breve e, após seu fecha-mento, em 1959, deu lugar ao
escritório do Grupo Severiano Ribeiro.
Nos anos 30, nasceu o Ideal, onde hoje estão concentradas diversas barracas de camelô, nas proximidades do Mercado Público da Levada. Assim como o Lux, que deu lugar a uma igre-ja, o Ideal teve seu apogeu nos anos 60, quando eram exibi-dos filmes italianos de direto-res consagrados, como Fellini e Antonioni.
Na Pajuçara, foi criado o Cine Glória, que depois se transfor-mou em Rex. Era o cinema mais luxuoso de Maceió. Nos anos 60, ficaram famosas suas sessões de arte, que ocorriam nas sex-tas-feiras à noite, sempre se-guidas por discussões sobre os filmes. Tais sessões passaram a ocorrer também numa versão matinal, no São Luiz. Anos de-pois ficaram somente neste úl-
timo, nas noites de sexta-feira.A glória do Rex teve fim em
1978. No bairro, numa galeria comercial situada no térreo do edifício Ana Maria, surgiu então o Art Pajuçara que, após alguns anos fechado, deu lugar ao Cine Sesi, único cinema que Maceió possui, atualmente, fora dos shoppings centers.
No bairro do Poço ficava o Plaza, do empresário Hermann Voss. Inaugurado na década de
1950, exibiu, nos primeiros anos de funcionamento, clássicos europeus e norte-americanos. A sala foi a introdutora do ci-nemascope na cidade, tecnolo-gia de filmagem e projeção que utilizava lentes anamórficas, marcando o início do formato moderno tanto para a filmagem quanto para a exibição de filmes.
Em seu período decadente, já nos anos 1980 e 1990, o Plaza
tornou-se o cinema especiali-zado em filmes pornográficos. A tendência se espalhou por todos os demais cinemas, e foi, possi-velmente, a principal causa do fechamento da maioria deles.
Assim como o Roial, surgi-ram vários outros “poeirinhas” pela cidade. Estes cinemas sem conforto e de vida breve espa-lharam-se por bairros da peri-feria de Maceió como o Vergel, Bebedouro e Tabuleiro dos Mar-
junho/julho 201174
Vanessa Mota
Eu vivi a época de ouro dos cinemas da capital. Passavam sempre filmes bons, interessantesElinaldo Barros | Crítico de cinema

tins, concorrendo com o brilho das salas já tradicionais.
Segundo o escritor e críti-co de cinema Elinaldo Barros, quando menino, ele costumava frequentar os cinemas de bair-ro, especialmente o Lux, que se tornou tema de um de seus li-vros, Cine Lux: Recordações de um cinema de bairro, lançado em 1989. As sessões de filmes famosos sempre lotavam as sa-las de cinema. “Eu vivi a época de ouro dos cinemas da capi-tal. Passavam sempre filmes bons, interessantes. Quando era um filme famoso, o dono do cinema corria até a bilheteria e dizia: ‘Ainda tem lugar. Só na frente, mas ainda tem lugar’. E voltava para dentro das salas”, relembra.
Elinaldo relata, com carinho, as “aventuras” que vivia para ir às sessões. Quando algum filme que estava em cartaz no Plaza chamava sua atenção, ele e os colegas iam andando até o bairro do Poço para assisti-lo. Depois, voltavam caminhando e discutindo sobre o que acaba-ram de assistir.
O cinéfilo que dedicou sua vida a estudar e ensinar sobre o tema, não esquece quando, durante as sessões, os garo-tos vibravam e aplaudiam ao verem cenas de beijos nos fil-mes. “Quando havia uma cena de beijo, a gente gritava ‘1 a 0’. Se tivesse um segundo, ‘2 a 0’. Quando eram cinco, era uma goleada. Naquela época, a cen-sura era generosa. A própria
conduta das pessoas era de uma sociedade reprimida. A gente berrava”, conta.
Elinaldo conta ainda que a bagunça nas salas de exibição não parava por aí. “Fazíamos campeonatos de ‘pum’. No meio da sessão, alguém soltava uma ‘bomba’, aí era a gritaria. Con-tavam também de um rapaz que era muito gaiato. Ele pegou um gato pequeno, amarrou e colocou numa caixa de sapato. Depois, entrou no cinema, su-biu pela galeria e quando che-gou no alto, cortou o cordão e soltou o gato”.
Os jovens que moravam nas proximidades dos cinemas queriam assistir a todos os fil-mes que entravam em cartaz. Algumas vezes, chegavam a falsificar documentos para bur-lar a classificação dos filmes. A prática de entrar no cinema sem pagar – conhecida, à épo-ca, como “maiar” – também era frequente entre a juventude.
Embora relembrar as brin-cadeiras seja uma diversão para Elinaldo, sua lembrança prefe-
rida está nos clássicos exibidos naquelas telas. “Assisti vários filmes muito bons. Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, foi muito bonito. A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que vi no São Luiz. Também vi dois dos Bea-tles: Help e Os Reis do Iê-iê-iê. Fui ao cinema caminhando da Ponta Grossa até o Poço, numa matinal, às 08h30. Uma vez, fui ver um filme de Elvis Presley, o rei do rock. As meninas ficaram extasiadas com o cantor sem camisa. Teve uma que pegou no joelho da outra e disse: ‘Ai, ne-guinha!’. Foi uma das situações mais cômicas que vivi num ci-nema”, conta Elinaldo.
Passado o apogeu dos cine-mas de rua, alguns tiveram suas programações invadidas por fil-mes pornográficos. Ao mesmo tempo, a televisão substituía a ida às salas de exibição e, com o crescimento da violência, as pessoas começaram a optar por ficar em casa. Hoje, resta só o saudosismo das histórias vivi-das por aqueles que frequenta-vam as sessões.
Cine Theatro Floriano Peixoto, que deu origem ao Cine São Luiz
junho/julho 201175

ARNALDO GOULART, IMAGENS DE UM LEGADO FOTOGRÁFICO
EDUARDO ROSS*
ARTIGO
junho/julho 201176

Praia de Sete Coqueiros, na Pajuçara, registrada por Goulart: cartão postal de Maceió
junho/julho 201177

Catedral Metropolitana de Maceió
As sombras brandas do co-queiral pareciam até mais con-vidativas do que as frescas e calmas águas do mar em frente. Um halo de luz solar entrecorta-va as nuvens, enquanto a espu-ma chegava até a areia da praia em uma visão aparentemente profética. Na beira da água, a ca-beça protegida por um pano tal qual um turbante, a negra lava-deira limpa suas roupas. Alheio a tudo, a esse e outros cenários, em ambiente recluso, envolto na penumbra, o branco e o preto se contrastam no tabuleiro de xa-
drez manuseado por duas mãos: uma jovem e delicada, a outra, enrugada e velha, as veias aflo-rando na pele.
As imagens, capturadas em papel amarelado pelo tem-po, remetem às impressões de uma Maceió de décadas atrás. A Alagoas dos olhos de Arnal-do Goulart. Eram olhos ama-dores, é verdade, mas capazes de enxergar a composição de uma imagem, a sensibilidade por trás da paisagem. Seria di-fícil imaginar tais habilidades vindas de um bancário do Bank
of London. Nem sempre o ofí-cio faz o homem. E por ter tido a vida de 64 anos (1904-1968) pode-se apenas imaginar sua paixão pela fotografia como uma esquiva para a monótona rotina do mundo burocrático, mas não. Considerar apenas esta possibilidade seria des-merecimento à sua memória. Sua introdução à vida artística começou desde cedo. Vivia cer-cado por intelectuais e outros homens que deviam usar mo-nóculos, relógios com correntes de ouro e finos bigodinhos de
junho/julho 201178

Além de paisagens, Goulart registrava também o modo de vida dos alagoanos
pontas enroladas. Isso porque seu pai, Ranulpho Goulart, era membro da Academia Alagoana de Letras e estava sempre em volta de outros literatos e artis-tas. Se as fotografias de Arnaldo retratassem esses momentos, talvez ele pudesse ser visto em elegantes saraus, contemplan-do alguma senhorita tocar um piano de cauda no centro do sa-lão.
Talvez deslumbrar donzelas em seus devaneios fosse mo-nótono, às vezes. Pois, além da “agitada” vida cultural, foi do
próprio Ranulpho que Arnaldo herdou o inicial interesse pela fotografia. Para o pai era apenas mais um hobby, algo que ocu-passe os momentos de bloqueio criativo em suas poesias, mas para o filho Arnaldo se tornaria motivo de fixação amadorista no futuro. De fato, e talvez seja redundante dizer, se tornou o seu maior prazer, levando-o a estudar as técnicas mais a fun-do. Inclusive não era à-toa que fazia parte de um clube de fo-tógrafos amadores em Maceió (o Fotoclube). Regularmente, o
grupo se encontrava para dis-cutir suas trivialidades fotográ-ficas. Como caçadores em bus-ca de suas presas, saíam pela cidade à procura de eternizar o momento perfeito. Aliás, Arnal-do também sabia criar este mo-mento perfeito: era um dos pre-cursores do Photoshop. Claro, poderia estar aqui a enaltecer o homem a troco de nada, mas o fato é que utilizava técnicas que hoje são feitas por um computa-dor. Sem exageros. Fazia sobre-posição de imagem, colocava os contornos em relevo e até usava
junho/julho 201179

técnica de pintura para colorir suas fotos em preto e branco. Manipulava cuidadosamen-te cada fotografia, criando as
próprias montagens. Aparen-temente pode-se imaginar de onde a Adobe Systems e a Mi-crosoft tiraram sua inspiração. Bem, talvez seja exagero.
Obviamente que, como o meio em que vivia realmente o influenciou, não se limitava apenas à fotografia. Também
chegou a escrever as próprias poesias. Era mais um de seus passatempos artísticos, um dom ou aptidão, ou qualquer ou-
tra desculpa para justificar sua polivalência, pois também se dedicava à pintura (autodidata, diga-se de passagem). Gostava mais de pintar em cerâmica do que em telas. A leveza que exi-gia das mãos para adornar em tinta vasos, pratarias e afins, servia como terapia e – por que
não? – como forma de expres-são. E para não dizer que era mais uma forma de mera dis-tração, ele chegou a expor algu-mas de suas obras.
Então, como se no Brasil houvesse algum incentivo à cultura e à arte, Arnaldo fazia a parte dele para influenciar seus descendentes. Sua única filha, Maria Helena Goulart, tendo o avô e agora também o pai como bem relacionados a pessoas in-fluentes, sabia que sempre po-deria esperar por lugares reser-vados no teatro. Maria Helena lembra-se de como os presen-tes que sempre esperava do pai eram livros. Coleções comple-tas, obras de Monteiro Lobato e outras coisas que pudessem despertar a vertente artística. Entretanto, nem sempre orgu-
Coreto de Jaraguá, na Praia da Avenida
junho/julho 201180
Eram olhos amadores, é verdade, mas capazes de enxergar a composição de uma imagem, a sensibilidade por trás da paisagem

Lagoa da Anta, na Jatiúca. Hoje, o local abriga um dos maiores hotéis da cidade
junho/julho 201181

FAMÍLIA DE ARTISTAS
Odontologia. Hoje, viúva, reside
em Salvador, para onde se
mudou em janeiro de 1972, com
o marido, Fernando Motta da
Silva Rosa. Por ter tido apenas
uma filha, Arnaldo deixou poucos
descendentes, todos vivendo em
Salvador. Os netos são: Rosana,
54 anos, casada com Heraldo
Quadros, 56 anos, que são pais
de Eliza, casada com Marcelo
Valente (pais de Lara,1 ano) e de
Bruno; depois, a neta Flávia, 52
anos, casada com Jayme Garcia
Rosa Filho, 55 anos, pais de
Eduardo, e dos gêmeos Ricardo e
Leonardo (17 anos). Finalmente,
Fernando, 48 anos, casado com
Rosane, 43 anos, sem filhos.
O artista Arnaldo Broad Goulart,
que nos deixou importante
legado de fotos antigas sobre
a bela Maceió, era filho de
Ranulpho Goulart e Eliza Broad
Goulart. Nasceu nesta capital a
13 de janeiro de 1904. Faleceu,
em consequência de um infarto
fulminante, aos 64 anos, na
sua residência de Maceió, a 14
de fevereiro de 1968. Pertencia
a uma família de artistas
autodidatas. O pai, Ranulpho
Goulart, era escritor – poeta
e contista – pertencente à
Academia Alagoana de Letras e
tinha como patrono Guimarães
Passos. Também era fotógrafo
amador. Os irmãos: Alzira,
pianista e compositora; Arthur,
pintor; Armia, pintora; Arnulpho,
contador, o único que não se
dedicou à arte. Arnaldo e Arthur
trabalharam profissionalmente
como bancários. A 30 de junho
de 1928, Arnaldo casou-se
com Maria José Moura de
Araújo (Marily), de Viçosa
e descendente, pelo lado
materno, da família Brandão. Do
casamento tiveram dois filhos:
Maria Helena, hoje com 81 anos,
e Carlos Rubens, falecido dias
após o nascimento.
Maria Helena estudou na
Faculdade de Medicina,
Odontologia e Farmácia
da Universidade do Recife,
formando-se em 1949, em
Arnaldo Goulart pertencia a uma família de artistas autodidatas
junho/julho 201182

Praça dos Martírios. Ao fundo, o Palácio Marechal Floriano Peixoto, antiga sede do governo estadual, hoje transformado em museu
lhamos nossos pais da exata forma que eles esperam. Jamais Arnaldo questionou as escolhas da filha. Porém, infelizmente, se perdeu e acabou se formando em Odontologia. Mas ainda as-sim os ensinamentos de Arnal-do perduraram em sua mente.
Depois, foi a vez dos netos. Ainda havia alguma esperan-ça. Sempre de forma prazerosa, ele os ensinava (Rosana, Flávia e Fernando) sobre como usar uma câmera. Arnaldo jamais precisou impor que gostassem ou se interessassem pela fo-tografia. Não era necessário. O fantástico de tentar eles pró-prios, ainda crianças, desven-darem seus mundos através de um diafragma prescindia de qualquer obrigação. Além do
mais, era uma relação de mútua diversão. O avô acompanhava e guiava as mãos inexperien-tes no manuseio da câmera ao tempo em que duas gerações se uniam em torno de uma mesma arte.
Entretanto, Arnaldo não vi-veu muito mais tempo para ver seus netos crescerem e poder continuar com suas lições. Não pretendia transformá-los no próximo Pierre Verger, apenas, como tentara fazer com Maria Helena, incentivar sua criativi-dade. O fato é que nenhum deles realmente se enveredou por ca-minhos mais artísticos. Rosa-na, a mais velha, (tinha 13 anos quando Arnaldo morreu) até se aproximou dessa perspectiva ao se formar em Arquitetura,
porém, lamentavelmente, acabou preferindo ensinar Matemática. Flávia também chegou perto, afi-nal jornalistas precisam de impul-sos criativos e, por vezes, artísti-cos. Fernando aproveitou pouco o avô, pois este morreu quando ainda era muito novo (provavel-mente por isso tenha se tornado administrador).
Como todo legado, suas influ-ências podem ser resgatadas. Os bisnetos, e até seus ainda inexis-tentes trinetos, quando olharem uma foto e enxergarem através dos olhos do avô, quem sabe, não despertem aptidões ainda ador-mecidas.
*é bisneto de Arnaldo Goulart, concluin-
te do curso de Jornalismo na Universi-
dade Federal da Bahia
junho/julho 201183

LUIZ CARLOS FIGUEIREDO*
O INESQUECÍVEL GOGÓ DA EMA
ARTIGO

No ano de 2010 ocorreu o centenário do nascimento de dois grandes e famosos sambis-tas brasileiros: Adoniran Barbo-sa e Noel Rosa. Em 1910, tam-bém nascia um coqueiro que cresceu torto e cada vez mais bonito, num sítio onde hoje é a atual Ponta Verde. Ele se tornou famoso em todo o Brasil, tor-nando-se importante símbolo de Maceió: o Gogó da Ema. In-felizmente, tombou há mais de 50 anos, deixando muitas sau-dades, mas se tornou inesque-cível, continuando a representar Maceió. O local onde ele cresceu, hoje é a Praça Gogó da Ema.
A morte do coqueiro signifi-cou uma grande perda e provo-cou diversas emoções, de revol-ta e de tristeza. Reproduzimos abaixo um artigo do historiador Luís Veras Filho, publicado em
Maceió – História e Costumes, folhetim editado pela Fundação Teatro Deodoro em 1990, con-tando como aconteceu. Confira.
Uma onda de tristeza, la-mentos e protestos invadiu Maceió na manhã do dia 28 de julho de 1955, ao ser divulgado, amplamente, o tombamento – no sentido drástico do vocábu-lo – do Gogó da Ema. Lá estava, deitado, moribundo, na areia alva da Ponta Verde, a palmá-cea poética da cidade. Há muito que se esperava o espetáculo. Os jornais e a população cla-mavam por uma proteção mais segura ao coqueiro. Despreza-do pelas autoridades, apesar de gabado e sempre apresentado por todos os maceioenses aos visitantes da cidade, o Gogó da Ema, às 16h30 do dia 27 de julho de 1955, teve sua proteção for-
Gogó da Ema retratado por Arnaldo Goulart
junho/julho 201185

temente invadida pelas águas impetuosas do Atlântico; e, fi-nalmente, sem mais se conter em suas raízes, caiu, naquela encantadora hora de início de crepúsculo, como são os fins de tarde da Pajuçara e da Ponta Verde. O Gogó da Ema desafiava a lei da gravidade, o que fazia com que houvesse a necessi-dade do máximo de fixação ao solo para que permanecesse de pé. Mas o que ele mereceu das autoridades foi apenas um pu-nhado de barro em sua base e um cais de proteção de troncos
no País e no estrangeiro, através de postais, gravuras, fotogra-fias, panfletos e “posters”, nos interessantes aspectos colhidos pela habilidade dos fotógrafos amadores e profissionais, nas manhãs tranquilas e cheias de luz, como nas noites poéticas, com a lua a surgir dentre as nu-vens, através da sua fronde ma-jestosa a dominar a paisagem. O Gogó da Ema vivia por todas as partes: na vitrine dos estúdios; nos álbuns de seus mostruários; na bela coleção de fotografias colorizadas que enriqueciam
e coqueiros, estacas de madeira e pedaços de arrecifes extraídos do local, juntados com cimento, de pouca resistência, que a pre-amar, sempre debelando, aos poucos foi tornando sua queda iminente.
Nunca se pode compreender o esquecimento a que o governo relegou o coqueiro-aleijão, cujo defeito o tornou motivo histórico para nossa capital. Estranhável o descuido do poder público, de-pois que a fama da inditosa pal-meira atravessou os limites do Estado para torná-la conhecida
junho/julho 201186

e encantavam o atelier de Ar-naldo Goulart; nas telas de José Paulino; nas luxuosas latas dos biscoitos “Brandim” . Por toda parte estava o Gogó da Ema.
O local onde ele dominava tornara-se o ponto de encon-tro escolhido dos namorados e das conquistas arriscadas. Nas tardes amenas, era o passeio preferido pelo encanto mara-vilhoso da paisagem marítima e pelos que se deliciavam com a água saborosa do coco ver-de. Nas noites de luar, o Gogó da Ema foi testemunha discreta
e muda dos encontros felizes, das confissões apaixonadas que ouvia, dos devaneios, dos íntimos aconchegos amorosos a que assistia impassível. Ele atraía, com um estranho mag-netismo, os namorados, como se fosse tal como Vênus da mi-tologia, inspirando mais o amor, lançando nos pensamentos pa-lavras carinhosas que transmi-timos àqueles que amamos...
Lembro-me, quando me-nino, vi o Gogó da Ema pela primeira vez: o dia era claro e a luminosidade cobria a terra;
e eu, boquiaberto, admirava aquela silhueta que se lançava ao mar e ao firmamento. Fiquei deslumbrado por algum tem-po, olhando aquela paisagem maravilhosa que mais parecia imaginária... Veio o entarde-cer, uma brisa suave agitava os meus cabelos salgados, o vento tornava-me sonolento, o manto escuro começava a substituir a luminosidade do sol que se tor-nava rubro cada vez mais, tor-nando a paisagem tão bonita que nenhum pintor deste uni-verso, por gênio que fosse, con-
Ilustração de Pedro Lucena
junho/julho 201187

A LENDA DO GOGÓ
Pediu para lutar e venceu três
embates. Não se mata um herói
entre os índios. Só os civilizados
têm medo da coragem e do
heroísmo dos outros. A virgem
caeté apaixonou-se pelo índio
prisioneiro e fugiram na calada
da noite. Andavam sol a sol. À
noite, deitavam-se na terra e
suas bocas sedentas de água
e de amor se encontravam na
escuridão. Recomeçavam a
caminhada com a aurora. A
índia definhava. Seus passos já
não eram ágeis, seus membros
pesavam, seus olhos ofuscados
pela claridade dos dias de sol
procuravam a terra e a cabeça
pendia-lhe no peito. A marcha
prosseguia em busca de outras
terras. Um dia viram água,
muita água. Era a imensidão
do mar. Exausta, ela se deitou
na beira da praia deserta.
Suas forças chegavam ao fim.
Desesperado, ele pediu a Tupã
que o transformasse em uma
árvore cujo fruto tivesse água
Há uma lenda sobre o
nascimento do Gogó da Ema.
É contada pela professora de
música Maria Aída Wucherer
Braga, no Boletim Alagoano de
Folclore, nº 11, de 1987. Confira.
Era uma vez uma índia morena,
virgem de corpo e de coração.
Habitava a taba dos guerreiros
caetés, tecia redes e se enfeitava
de penas. Mirava o rosto nas
águas claras da lagoa e corria
pela mata, ouvindo o grito da
araponga e respondendo ao
canto da cauã. Um dia, ouviu-
se um brado de guerra e os
guerreiros partiram manejando
os tacapes. Os arcos retesados
expediam flechas, e eram tantas
que se confundiam no ar. Três
sóis lutaram sem descanso e
sem cansaço. Ao alvorecer do
quarto dia, voltaram triunfantes.
Entre os troféus, traziam preso
um inimigo. Começaram os
festejos. O índio era forte e belo.
Não queria ser sacrificado.
doce para matar a sede à sua
amada, polpa para mitigar-lhe a
fome, óleo para untar seus pés
cansados e palmas longas para
abrigar na sombra seu corpo
franzino.
Tupã atendeu. Transformou-o
em coqueiro, o primeiro coqueiro
que houve sobre a terra. Na
ânsia de crescer, ele elevou o
tronco muito acima das areias
brancas, e ela não alcançou seus
frutos pendentes. Então, num
esforço gigantesco, ele se curvou
para a praia, abaixando o tronco
poderoso. A índia já não resistia.
Com as mãos estendidas para
colher os frutos de água doce e
polpa macia, sua alma voara em
direção às nuvens. Novamente,
num esforço supremo, ele
movimentou o tronco para o alto
e ergueu a copa verde carregada
de frutos para o céu. Até morrer
ele ficou ali numa praia de
Alagoas, embalando nas palmas
adejantes, a alma fugitiva de sua
amada.
seguiria transpor para sua tela. Era o Gogó da Ema, o co-
queiro fenomenal que, aciden-talmente, cresceu – a natureza, para ser retilínea, às vezes en-torta – daquela forma: na parte inferior da curva pronunciada do ‘Gogó’, havia cicatrizes de traumatismos causados por pequenos insetos que, com cer-
teza, afirmaram agrônomos da época, deram-lhe aquela forma. Era uma espécie de monumento da natureza, o qual, naquela so-lidão, vivia confortado pela lem-brança de todos os que o visita-vam para ver se, de fato, aquele vegetal tinha mesmo, no tronco, a curva parecida com a do pes-coço dos pernaltas. Ele ficava na
ponta do semicabo que conhe-cemos como Ponta Verde, como se fosse um farol, mostrando as adjacências dos pontos de partida dos destemidos janga-deiros. E, naquele recanto, ele era como se fosse uma pessoa contando-nos uma história que só terminava quando se saía de lá. O coqueiro amigo era como
junho/julho 201188

recanto para todas as idades, porque era o recanto para todas as mocidades.
Quando foi plantado e quem o plantou, isso ninguém desco-briu. Quem o batizou, ninguém o sabe; mas, segundo Roberto Stuckert, um repórter-fotográ-fico que foi quem mais o retra-tou, quem oficializou o nome foi o então deputado e escritor Mendonça Júnior, que havia, também, sido diretor do Depar-tamento Estadual de Cultura. Segundo se afirmava, o coquei-ro-símbolo de Maceió existia desde os meados dos anos 1910, no sítio outrora pertencente a
Francisco Venâncio Barbosa, mais conhecido como Chico Zu. No início era pouquíssimo conhecido, e quem o fosse ver arriscava-se a ser mordido por cães que guardavam o local.
Além do descaso das autori-dades, outro motivo que provo-cou sua morte, segundo consta, se deu a partir de 1930, quando, próximo ao local, uma empresa norte-americana perfurou vá-rios poços em busca de petró-leo; os alicerces de uma das tor-
res ainda estão lá até hoje. Com isso, o mar começou a avançar, derrubando vários coqueiros, fazendo com que se pudesse divisar o “Gogó” ao longe, quer da Praia de Pajuçara, quer do mar. Mas o mar continuava a avançar, pondo em risco a fa-mosa palmeira. Veio então a construção do Porto de Jaraguá, que ocasionou mais acentua-damente a invasão marítima, quando a Prefeitura construiu o bisonho cais de proteção, que não resistiu à fúria do mar. José Dias de Oliveira, empregado na propriedade onde ficava o Gogó, que já pertencia ao sr. Álvaro
Otacílio, foi quem viu o coqueiro cair: “... Ele não caiu de uma vez. Foi aos pouquinhos. Foi cain-do e, já embaixo, despencou com mais violência, com um barulho seco.”
A queda do referido vege-tal chegou a merecer uma am-pla reportagem em O Cruzeiro, a melhor revista brasileira da época, ilustrada com fotogra-fias dele, imponente, majestoso e, depois, sucumbido. Tentaram ressuscitar o coqueiro, com a
participação de centenas de pessoas, autoridades e agrôno-mos, além de soldados do Corpo de Bombeiros, o qual, com a aju-da de um guindaste, ergueram a árvore. Essa iniciativa foi enca-beçada pelo jornalista Clarival-do Brandão. Mas, em 1956, foi, o Gogó da Ema, dado como mor-to definitivamente. Sobre ele, é importante transcrever, aqui, palavras do ilustre folclorista Théo Brandão: “É verdade que o Gogó da Ema é um aleijão. Mas há harmonia em suas linhas. Quanto ao mais, o povo já o ele-geu como símbolo da cidade. Significa uma preciosidade da terra. Como folclorista, temos obrigação de zelar pelos que, mesmo sem serem feitos pelo povo, são entronizados como símbolos pelas camadas popu-lares. Aliás, no material da Co-missão de Folclore de Alagoas, o Gogó da Ema aparece como símbolo”.
O saudoso coqueiro, como já foi dito, sempre foi muito que-rido pelos namorados, a quem acolhia nas manhãs e tardes ensolaradas, ou nas noites de luar. Talvez por isso, tantas visi-tas teve depois de moribundo. A solidariedade foi tamanha, que parecia que todos eram paren-tes do coqueiro. E, mesmo sen-do o Gogó da Ema o recanto pre-dileto dos namorados, que lá se encontravam cheios de amor, por incoerência morreu por fal-ta desse sentimento.
*é jornalista e escritor
junho/julho 201189
A queda do Gogó chegou a merecer uma ampla reportagem em , ilustrada com fotografias dele, imponente, majestoso e, depois, sucumbido

LIVROS
ONDE PESQUISAR FILMES
ABC DAS ALAGOAS: DICIONÁRIO
BIOBIBLIOGRÁFICO, HISTÓRICO E GEOGRÁFICO
DE ALAGOAS
Dividida em dois volumes, a publicação conta com mais
de 6.000 verbetes, todos referentes a personagens e
aspectos da história de Alagoas, onde são listadas desde
autoridades políticas a personalidades históricas.
Autor: Francisco Reinaldo Amorim de Barros
Editora do Senado Federal, primeiro volume: 570 páginas,
segundo volume: 695.
Onde encontrar: disponível para download no site da
Biblioteca Digital do Senado Federal ou através do site
www.abcdasalagoas.com.br, onde os verbetes podem ser
consultados individualmente.
ARQUIVO PÚBLICO DE ALAGOAS
No acervo do Arquivo Público de Alagoas podem ser
encontradas edições de jornais já extintos, mais de
3.000 livros, documentos do século 17 até os dias
atuais, além de catalogação para consulta do Diário
Oficial desde 1912. Com sede recém-inaugurada, a
instituição conta com laboratório de restauração e
conservação e ambiente para gestão eletrônica.
Endereço: Rua Sá e Albuquerque, s/n, Jaraguá,
Maceió, AL
Mais informações: (82) 3315-7879
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira,
das 9 às 16 horas
CARTOFILIA ALAGOANA
O estudo das imagens de cartões-postais do Estado de
Alagoas desvenda a fisionomia arquitetônica, social e
cultural do início do século 20.
Autores: Carmem Lúcia Dantas e Douglas Apratto
Massangana e Fundação Joaquim Nabuco, 118 págs.
Onde encontrar: no site da Livraria Cultura
(www.livrariacultura.com.br) ou através de contato com
a editora Massangana, pelo e-mail [email protected].
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE
ALAGOAS (IHGAL)
Fundado em 1869, abriga peças históricas, além de
inúmeras publicações que tratam da história do Estado.
A biblioteca da instituição é uma das mais completas e
organizadas de Alagoas.
Endereço: Rua João Pessoa, 382, Centro, Maceió, AL
Mais informações: (82) 3223-7797
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira,
das 8 às 11h30
HISTÓRIA BRASILEIRA DA INFÂMIA (doc., 55 min.)
O documentário propõe uma reflexão sobre a escrita da
história ao defrontar versões para a morte do 1º Bispo do
Brasil, dom Pero Fernandes Sardinha, ocorrida há mais
de 450 anos. A história é submetida à revisão a partir
de contraditórias versões oferecidas por historiadores,
antropólogos e padres, que ora ratificam a “versão
oficial”, ora sugerem uma conspiração da fidalguia
portuguesa que governava a Colônia.
Ano de lançamento: 2005
Direção: Werner Salles
Mais informações: (82) 3311-8034
MACEIÓ
O livro retrata a história dos primórdios de Maceió e sua
evolução até a década de 1930, passando por engenho,
povoado, vila, até a transformação em cidade.
Autor: Craveiro Costa
Sergasa, 219 págs.
Onde encontrar: no site de sebos virtuais Estante
Virtual (www.estantevirtual.com.br)
Para saber mais sobre o passado de Alagoas – seja na história ou
nas artes – um roteiro de livros, filmes e instituições de pesquisa.
SAIBA MAIS
junho/julho 201190