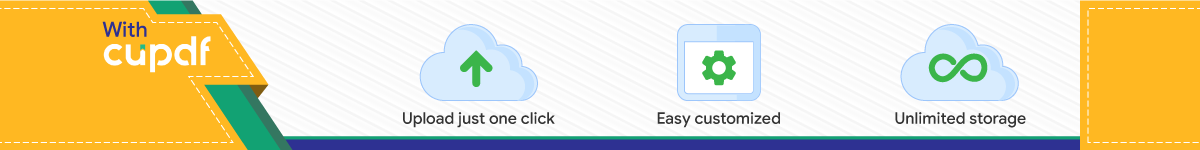
\
Vilm Flusser
O MUNDO CODIFICADO POR UMA FILOSOFIA DO DESIGN E DA COMUNICAO
organizao Rafael Cardoso traduo Raquel Abi-Smara
, .
UN151NOS
INTRODUO Rafael Cardoso 7
FORMA E MATERIAL 22
A FBRICA 33 A ALAVANCA CONTRA-ATACA 45
A NO COISA [ 1] 51 A NO COISA [2] 59 RODAS 66
SOBRE FORMAS E FRMULAS 75 POR QUE AS MQUINAS DE ESCREVER ESTALAM? 80
CDIGOS O QUE COMUNICAO? 88 LINHA E SUPERFICIE 101
O MUNDO CODIFICADO 126
O FUTURO DA ESCRITA 138
IMAGENS NOS NOVOS MEIOS 151
UMA NOVA IMAGINAO 160
CONSTRUC0ES
SOSRr: A PAI AVRA DE lGN 180
O tv10D( Df vrR DO DfSI ,N[R 187 orSIGN OB T AClJ () PARA A r
INTRODUO Rafael Cardoso
Um dos maiores pensadores da segunda metade do sculo 9 XX viveu durante mais de trinta anos no Brasil. As impli-caes desse fato ainda no foram devidamente digeridas, nem aqui, nem internacionalmente. Vamos a elas. Que um dos herdeiros mais brilhantes da tradio europeia de an-lise crtica tenha sido despejado pelo exlio neste envelhe-cido Novo Mundo, conseguindo aqui se refugiar da pior barbrie a assolar a repblica da Razo desde sua proclama-o no Sculo das Luzes, que tenha vivido e trabalhado no Brasil grande de Getlio e Juscelino Kubitschek, abraan-do a possibilidade de uma ltima encarnao do Progresso no chamado pas do futuro, e que tenha sido enxotado des-sa falsa utopia pelo recrudescimento do mesmo terror que o trouxera aqui, surgido dessa vez das entranhas profun-das do suposto para1so nos trpicos; finalmente, que tenha regressado s origens, para pregar a novidade urgente de um futuro "sem histria" e, enfim, para morrer uma morte estpida e precoce - tudo isso anuncia com uma devasta-dora coerncia alegrica os grandes dilemas que o mundo hoje enfrenta nos conflitos geminados entre tecnologia e misria, liberdade e fundamentalismo, cultura e violncia.
Se for plaus1vel sugerir que o planeta caminha clere em direao ao atropelo fatal de seus valores mais essenciais, ento hcito enxergar na pessoa de Vilm Flusser o pre-nncio proftico do desastre - e tambm, quem sabe, as primeiras indicaes de uma sada para a maior crise que a humanidade j enfrentou, aquela de sua prpria sobrevi-vncia coletiva.
Nascido em 1920 e falecido em 1991, na cidade tcheca de Praga, o filsofo Vilm Flusser viveu no Brasil entre 1940
10 e 1972, realizando aqui parte importante de sua formao e de seu trabalho. Este no o lugar para uma anlise detida de sua vasta obra. Faz tempo que outros, mais capacitados para empreend-la, j iniciaram tal esforo. A inteno des-ta introduo bem mais modesta: apresent-lo a um p-blico que, em sua maioria, o desconhece, mas cuja rea de interesse a mesma eleita por esse grande pensador, como foco privilegiado para algumas de suas mais intrigantes consideraes. Ao contrrio da maioria dos filsofos mo-demos, que costuma concentrar suas anlises na lingua-
,
gero verbal ou nos cdigos matemticos, Flusser dedicou boa parcela de seu gigantesco poder de reflexo s imagens e aos artefatos, elaborando as bases de uma legtima filo-sofia do design e da comunicao visual. Pela quase abso-luta carncia de iniciativas semelhantes, a leitura de sua obra deveria ser obrigatria para qualquer formao nes-sas reas. Todavia, ele no deve ser estudado apenas por ser um dos poucos pensadores de peso a voltar sua ateno para esses assuntos, mas por ser um pensador nico, capaz de situar imagem e artefato em seu devido lugar, no centro nervoso da existncia contempornea.
I
At a, Flusser tem algo em comum com estudiosos como Roland Barthes, Marshall McLuhan, Jean Baudrillard ou Susan Sontag, cujos escritos so dedicados em grande par-te a desvendar o papel de novas mdias e meios de comu-nicao no mundo moderno e no ps-moderno. No entan-to, diferentemente de outros "pensadores de mdias" mais conhecidos, ele trouxe ao assunto o rigor prprio sua for-mao filosfica, e suas anlises tendem a se ocupar mais da identificao de estruturas de pensamento do que de sua recepo em determinado meio ou contexto. Flusser 11 um pensador de causas, e no de comportamentos; por conseguinte, ele no hesita em ultrapassar as limitaes metodolgicas necessrias ao pensamento de cunho hist-rico. Para reas marcadas desde sempre pelo predomnio de abordagens e pressupostos advindos das cincias sociais
-como o caso tanto da comunicao quanto do design -, o efeito surpreendente e enriquecedor. Passado o susto inicial, melhor dizer, visto que o autor afeito a gene-ralizaes e aproximaes capazes de provocar ataques de apoplexia em qualquer cientista social ortodoxo.
O texto de Flusser dotado de um vigor sem paralelo
nos estudos de design, mdia e comunicao. E claro, sucinto, livre de jarges e at de notas de rodap, pelas quais de-tinha notria aversao. Trata-se de uma escrita que seduz por sua simplicidade aparente na mesma medida em que impresswna por sua consistncia, prova das mais duras investidas crticas e de inmeras leituras reiteradas. Isso verdade especillmentc com relao aos textos produzi-dos durante o ultimo decnio de sua vida, quando a maes-tria de sua tcnica como escritor a flori\ com tn\ior impacto.
A impresso que fica de estar lendo no algo provisrio, como deve ser necessariamente toda contribuio ao edif-cio coletivo das cincias, mas algo definitivo, como as me-lhores obras literrias e filosficas . Para o aluno de faculda-de ou de ps-graduao, habituado a lutar com alarmante freqncia contra a sintaxe confusa dos mestres encarrega-dos de ilumin-lo, a experincia grata e refrescante. O 'perigo pode ser o efeito contrrio- o de ser levado insensi-velmente na correnteza do pensamento flusseriano com a
12 displicncia de uma folha a deslizar na superfcie de um ria-cho doce e cristalino. Que ningum se engane com a aparn-cia amena dessa gua, cuja superfcie transparente esconde a profundidade vivente de um oceano!
Vale a pena repisar aqui alguns pontos do pensamento flusseriano de especial interesse para os estudantes de de-signou comunicao. Primeiramente, cabe frisar que essas reas - divididas por nossas vs burocracias acadrn!cas em departamentos distintos - so, para Flusser, desdobra-mentos muito prximos de um mesmo fenmeno maior. Interdependentes, ambas so frutos de um processo de
- ' codificao da experincia. Todo artefato produzido por - -
meio da ao de dar forma matria seguindo uma inten-o. Do ponto de vista etimolgico, portanto, a manufatura corresponde ao sentido estrito do termo in + formao Oite-ralmente, o processo de dar forma a algo). No sentido am-plo, fabricar informar. Da deriva o sentido, menos usual, de "fabricar" como inventar ou engendrar idias ou verses, como na frase .. fabricar um libi".
Todo objeto manufaturado, por sua vez, tem como meta transformar as relaes do usurio com seu entorno de
modo a tirar dele algum proveito. Ao concretizar uma pos-sibilidade de uso, o artefato se faz modelo e informao. Por exemplo, depois que se v uma alavanca em operao e se compreende o princpio empregado, no mais possvel olhar para qualquer vara de madeira ou metal sem reconhe-cer seu potencial de aplicao mesma finalidade. O que antes era um simples pedao de pau adquire uma funo e um significado especficos pela existncia prvia de um conceito. Ou seja, informar tambm fabricar.
Tudo isso pode parecer bvio, mas no . Se fosse, no 13 dividiramos as atividades de design em "projeto de produ-to" e "comunicao visual", como muitos continuam a fazer em deferncia a uma tradio gasta de prtica profissional. Muito menos separaramos "programao visual" de outros aspectos da comunicao, com um reles intuito corporati-vista de preservar feudos profissionais e de ensino. Afinal, ser que um livro ou uma revista no tm uma existncia tridimensional, no so construdos de matrias-primas e fabricados mediante processos industriais, no so distri-budos e vendidos como produtos?
Por outro lado, ser que as cadeiras ou as garrafas no participam de um universo de significao regido por cdi-gos e sistemas prprios? Algum pode defender seriamente que os artefatos no sejam tambm suportes de informao, que no tenham sua "semntica"? Posse esse o caso, ento no haveria o menor sentido em criar distines de aparn-cia entre objetos destinados a umn mesma ut ilizatio. No existiria moda, nem estilo, nem qualquer t ipo de val'iao da forma /aparncia dos artefatos que no fosse baseada em ct itrios estritos de operacionalidade. Ao colocnr-se acima
dessas divises oriundas do senso comum, Flusser nos per-mite enxergar o problema maior da codificao do mundo.
As implicaes da concepo flusseriana so imensas. No que tange comunicao no seu sentido lato, ela nos instiga a rejeitar uma separao dicotmica entre representao e referente, entre signo e coisa em si, entre teoria e prtica das estruturas de linguagem. Fabricar e informar so aspec-tos de um mesmo programa, so manifestaes da ao hu-mana nica de tentar impor sentido ao mundo por meio de
14 cdigos e tcnicas. So, para lanar mo de uma palavra que anda um tanto acuada, arte- da qual deriva todo o complexo de conceitos correlatos como artefato, artifcio e artificial.
Para Flusser, a base de toda a cultura a tentativa de enganar a natureza por meio da tecnologia, isto , da ma-quinao. Fazemos isso com tamanha engenhosidade que o mundo parece corresponder ao sistema conceitual que im-pingimos a ele. Assim, as regras numricas inventadas pelo ser humano, em abstrato, so capazes de descrever, expli-car e at prever a experincia sensorial. To poderosos so nossos cdigos, alis, que construmos a partir deles ver-ses alternativas da chamada realidade, mundos paralelos, mltiplas experincias do aqui e agora, as quais convencem, comovem e tornam-se "reais" medida que acreditamos cole-tivamente em sua eficcia. As imagens e os textos de fico so exemplos primitivos e primorosos desse fenmeno .
Se uma rvore cai no espao virtual, e no h ningum on-line, ser que ela gera uma mensagem de aviso? A pergunta, capciosa, suscita uma contemplao mais aprofundada dos cdigos e convenes que empregamos em nosso dia-a-dia cada vez mais sofisticado. A partir de palavras, imagens e
\
J
' \
artefatos, a sociedade humana criou um mundo de enorme complexidade, mas cuja lgica profunda permanece oculta para a maioria imensa de seus habitantes e, em ltima ins-tncia, inacessvel at mesmo para os autores do programa. Qual a diferena entre o material e o imaterial? Podemos trocar coisas por no coisas? Como faremos para armazen-las, ambas? Que destino devemos reservar para os detritos gerados por nossa frentica atividade de transformao da natureza em cultura? Sim, porque o resultado final de toda nossa manipulao de palavras, imagens, artefatos um 15 imenso acmulo de lixo, mesmo que eletrnico.
O fim da histria parece ser o fim de nossa capacidade coletiva de lutar contra a entropia, contra a desagregao do sentido e da forma. Se a base daquilo que entendemos por cultura reside na ao de in+ formar, ento no para-doxal que o excesso de informao nos conduza desagre-gao do sentido? Flusser responde a essa e outras pergun-tas com uma viso aterradoramente lcida do admirvel mundo novo inaugurado no sculo retrasado pela industria-lizao e pelo advento da imagem tcnica, cuja primeira ma-nifestao teria sido a fotografia.
A filosofia de Flusser empurra nossa viso de mundo para alm do burburinho histrico de nomes, datas, relaes e contextos. Ela torna possvel desvendar a lgica mais am-pla do sistema engendrado pela humanidade na tentativa milenar de superar suas limitaes fsicas por meio da tec-nologia. Reportando-se ao passado mtico - Deus e o diabo, Prometeu e o roubo do fogo divino, os astros e as estaes -, ela conduz at o limiar das eternidades artificiais que po-dem ser manipuladas por ns: como profetas, deuses, cria-
dores .. . enfim, como designers de mundos projetados. Para realizar esse perigoso percurso com xito necessrio que tal filosofia atravesse a conscincia histrica, atropelando aqui e ali nossa crena na cronologia, na causalidade, at mesmo na certeza de nosso destino como espcie.
Apesar do humanismo profundo que a motiva, a filosofia fiusseriana no aponta para uma apoteose da humanidade. Antes, ela situa o indivduo do presente como ndulo numa rede de interaes e possibilidades. Vivendo em simbiose
16 com as mquinas que criou, o ser humano obrigado a abrir mo da possibilidade de controle da realidade, at mesmo porque a noo de "realidade" transformada por sua ao. O humano toma-se escravo das foras de uma outra "natu-reza" que ajudou a gerar artificialmente, com a diferena de que essa nova, ao contrrio da antiga, existe a servio de seu bem-estar (pelo menos em tese). O futuro que podemos es-perar do mundo robotizado - termo pelo qual Flusser abran-ge noes tanto de informtica quanto de biotecnologia- incerto, pois as mquinas, mais eficientes e mais inteligen-tes, comeam a adquirir a capacidade de prescindir de ns.
Para o estudante de design ou comunicao, a devida compreenso dessa filosofia conduz a uma concluso bem menos pessimista do que sugere a leitura superficial do pa-rgrafo precedente. A paisagem tecnolgica que herdamos da Revoluo Industrial dos ltimos duzentos anos fru-to, em grande parte, da matemtica, da fisica, da mecnica e das engenharias. Ela corresponde a um mundo feito de ao e concreto, alumnio e plsticos, cabos e condutores. O que corre risco de superfluidade justamente esse para-digma de tecnologia como algo concreto, tangfvel, atual, e
por conseguinte a iluso de determos controle absoluto do sistema. A partir de agora, seguindo a viso de Flusser, a experincia do mundo passa a ser regida por outros cdi-gos e convenes, por linguagens e projetos capazes de re-formular a percepo, muito mais do que a paisagem.
Ao ingressarmos plenamente na era da imagem tcnica, retornamos, de certo modo, ao tempo anterior ao discurso linear, histrico. A grande arena da transformao possvel
- e, portanto, das poucas utopias que nos restam- encon-tra-se atualmente no limiar entre verbal e visual, entre ma- 17 terial e imaterial, precisamente no campo do projeto de de-sign e comunicao. Antes, porm, que algum interprete essa afirmao como uma retomada do salvacionismo ine-rente ao discurso de outras vozes profticas, como Buck-minster Fuller ou Victor Papanek, cabe lembrar que Flusser seria o ltimo a apostar suas fichas num final feliz. Como, para ele, todo projeto ao mesmo tempo soluo e obs-tculo, a nica certeza de um aumento da complexida-de, em escalada geomtrica. No se sabe se o resultado disso ser maior agregao ou desagregao, pois os dois so facilmente confundidos t'), attS certo ponto, coadunados. Sabe-se apenas que a nova fron teira, daqui para a frente, aquela de nossa prpl"ia conscincia do sistema const rurlo, o qual nos comanda mais completamente no moment o em que temos a mpressno de usufru lo.
A crescente impo1 tnda do conceito de virt unlidade tal vez S(ljtl a melhot e anais elegante prova do quanto Flusser tinha raz, o. Embota alguns o tenham cond nado como pou co srio ou at (_ lannista quando despontou p, rn o cen rio internacional na d~ctld d 3980, sua r putt o s t m
18
crescido desde ento. Hoje, no h exagero em afirmar sua importncia mpar como, talvez, o primeiro verdadeiro fi-lsofo do predomnio das linguagens visuais e digitais - ou, como preferia ele, da era ps-histrica da "idolatria" e da
"caixa-preta". O presente livro busca apresentar as idias desse grande pensador ao pblico de design e comunica-o por meio de uma seleo de textos publicados anterior-mente no exterior, mas nunca no Brasil. Trata-se apenas de uma pequena amostra da rica e variada obra do filsofo, o qual merecia maior ateno do que tem recebido at agora da parte dos estudiosos brasileiros e, em especial, do meio de artes, designe comunicao, que sempre constituiu seu pblico eleito. Cabe ressaltar que ainda h muito em Flusser para ler e descobrir .
Se a filosofia fiusseriana nos deixa poucas certezas, pelo ~
menos resta a ns, leitores, a soluo histrica de situar a vida dele no contexto em que viveu. A obra e a biografia de Vilm Flusser so permeadas por um esforo herico de tor-nar inteligvel para si mesmo um mundo complexo e tumul-tuado. Escrevendo ao mesmo tempo em diversos idiomas (principalmente alemo, portugus e ingls) e publicando textos sobre assuntos to diversos quanto design, fotogra-fia, mdias eletrnicas, comunicao, teoria da informao, escrita, literatura, filosofia e religio, Flusser no recuou diante da imensido do desafio de conciliar a tradio ilumi-nista com as foras aparentemente caticas e destrutivas que regem a desagregao em escala planetria das antigas certezas civilizatrias. Talvez tenha sido ele a ltima voz da razo, no melhor e mais elevado sentido dessa palavra .
..
COISAS
'
A palavra "imaterial" (immateriell) tem sido alvo de disparates 23 h bastante tempo. Mas, desde que se comeou a falar de
"cultura imaterial", esses disparates no podem mais ser to-lerados. Este ensaio tem a inteno de recuperar o conceito, atualmente muito distorcido, de "imaterialidade".
A palavra materia resulta da tentativa dos romanos de traduzir para o latim o termo grego hyl. Originalmente, hyl significa "madeira", e a palavra materia deve ter designa-do algo similar, o que nos sugere a palavra espanhola madera. No entanto, quando os gregos passaram a empregar a pala-vra hyl, no pensavam em madeira no sentido genrico do termo, mas referiam-se madeira estocada nas oficinas dos carpinteiros. Tratava-se, para eles, de encontrar uma pala-vra que pudesse expressar oposio em relao ao conceito de Hforma" (a morph grega). Hyl, portanto, significa algo amorfo. A idea fundamental aqui a seguinte: o mundo dos fenmenos, tal como o percebemos com os nossos sentidos, uma geleia amorfa, c atrs desses fenmenos encontram-se ocultas ns formas eternas, imutveis, que podemos per-ceber graas perspectiva suprassensvel da teoria. A geleia amorfll dos fenmenos (o ''mundo material") uma iluso
e as formas que se encontram encobertas alm dessa iluso (o "mundo formal") so a realidade, que pode ser descoberta com o auxlio da teoria. E assim que a descobrimos, conhe-cendo como os fenmenos amorfos afluem as formas e as preenchem para depois aflurem novamente ao informe.
Essa oposio hyl-morph, ou "matria-forma", fica ain-da mais evidente se traduzirmos a palavra "matria" (Mate-rie) por "estofo" (Stoffl. A palavra "estofo" o substantivo do verbo "estofar" (stopfen). O mundo material (materielle
24 Welt) aquilo que guarnece as formas com estofo, ore-cheio (Fllsel) das formas. Essa imagem muito mais escla-recedora do que a da madeira entalhada que gera formas, porque mostra que o mundo "do estofo" (stoffliche Welt) s se realiza ao se tornar o preenchimento de algo. A pala-vra francesa que corresponde a "recheio" (Fllsel) farce, o que toma possvel a afirmao de que, teoricamente, todo material (Materielle) e todo estofo (Stoffliche) do mundo no deixam de ser uma farsa. Com o desenvolvimento das cin-cias, a perspectiva terica entrou numa relao dialtica com a perspectiva sensria ("observao -teoria- experi-mento"), que pode ser interpretada como opacidade da teoria. E assim se chegou a um materialismo para o qual a matria a realidade. Mas hoje em dia, sob o impacto da infonntica, comeamos a retornar ao conceito original de "matria" como um preenchimento transitrio de for-mas atemporais.
Por razes cuja explicao ultrapassaria o objetivo deste ensaio, desenvolveu-se a oposio "matria-esprito", inde-pendentemente do conceito filosfico de matria. O concei-to original nessa oposio que corpos slidos podem ser
transformados em lquidos, e os lquidos, em gases, poden-do ento escapar do nosso campo de viso. Assim se pode entender, por exemplo, o hlito (em grego, pneuma; em la-tim, spiritus) como a gasificao do slido corpo humano. A transio do slido para o gasoso (do corpo ao esprito) pode ser observada no efeito do sopro em dias frios.
'
Na cincia moderna, a ideia da mudana de estados da matria (do slido ao lquido, do lquido ao gasoso- e vice-versa) deu origem a uma nova imagem do mundo. Trata-se, grosso modo, de uma mudana entre dois horizontes. Em 25 um deles (o do zero absoluto), tudo o que se mostra sli-do (material); j no outro horizonte (na velocidade da luz), tudo se apresenta num estado mais do que gasoso (energ-tico). (Vale lembrar aqui que "gs" e "caos" so a mesma pala-vra.) A oposio "matria-energia" que aparece aqui nos re-mete ao espiritismo: pode-se converter matria em energia (fisso) e energia em matria (fuso) -a frmula de Eins-tein faz essa articulao. Conforme a viso de mundo da cincia moderna, tudo energia, ou seja, a possibilidade de aglomeraes casuais, improvveis, a capacidade de for-mao da matria. A "matria", nessa viso de mundo, equi-para-se a ilhas temporrias de aglomeraes (curvaturas) em campos energticos de possibilidades, que se entrecru-zam. E da provm o despropsito, em moda hoje em dia, de se falar de "cultura imaterial". O que se entende aqui uma cultura em que as informaes so introduzidas em um campo eletromagntico e transmitidas a partir desse campo. O despropsito consiste no apenas no abuso do conceito "imaterial" (em lugar de "energtico") como tam~ bm na compreenstio inadequada do termo "informar".
Retomemos a oposio original"matria-forma", isto , "contedo-continente". A idia bsica esta: se vejo alguma coisa, uma mesa, por exemplo, o que vejo a madeira em forma de mesa. verdade que essa madeira dura (eu trope-o nela), mas sei que perecer (ser queimada e decompos-ta em cinzas amorfas). Apesar disso, a forma "mesa" eter-na, pois posso imagin-la quando e onde eu estiver (posso coloc-la ante minha visada terica). Por isso a forma "mesa" real e o contedo "mesa" (a madeira) apenas aparente.
26 Isso mostra, na verdade, o que os carpinteiros fazem: pe-gam uma forma de mesa (a "idia" de uma mesa) e a im-pem em uma pea amorfa de madeira. H uma fatalidade nesse ato: os carpinteiros no apenas informam a madeira (quando impem a forma de mesa), mas tambm defonnam a idia de mesa (quando a distorcem na madeira). A fata-lidade consiste tambm na impossibilidade de se fazer uma mesa ideal.
Isso tudo pode soar arcaico, no entanto de uma atua-lidade, digamos, abrasadora. Vejamos um exemplo simples e possivelmente esclarecedor: os corpos densos que nos ro-deiam parecem rolar independentemente de regras, mas na realidade obedecem frmula da queda livre. O movimento percebido pelos sentidos (aquilo que material nos corpos) aparente, e a frmula deduzida teoricamente (aquilo que formal nos corpos) real. E essa fnnula (ou essa forma) est fora do tempo e do espao, inalteravelmente eterna. A frmula da queda livre uma equao matemtica, e as equaes so desprovidas de tempo e de espao: no faz sentido perguntar se a equao "1 + 1 = 2" igualmente ver-dadeira s quatro horas da tarde em Semipalatinsk. Mas
tambm faz pouco sentido dizer que a frmula "imate-rial". Ela o como da matria, e a matria o o qu da for-ma. Em outras palavras: a informao "queda livre" tem um contedo (corpo) e uma forma (uma frmula matemtica). Uma explicao como essa poderia ter sido dada no pero-do barroco.
Mas a pergunta insiste: como Galileu chegou a essa ideia? Ser que a descobriu teoricamente, alm dos fen-menos (interpretao platnica), ou a teria inventado com a finalidade de orientar-se entre os corpos? Ou por acaso 27 teria passado longo tempo brincando com corpos e ideias at que surgisse a ideia da queda livre? A resposta a essa pergunta decidir se o edifcio da cincia e da arte perma-nece ou cai, esse palcio de cristal de algoritmos e teoremas a que chamamos de cultura ocidentaL Para aclarar esse pro-blema e ilustrar a questo do pensamento formal, citemos outro exemplo do tempo de Galileu.
Trata-se da pergunta sobre a relao entre cu e Terra. Se o cu, juntamente com a Lua, o Sol, os planetas e as es-trelas fixas, gira em torno da Terra (como parece aconte-cc>r), o faz ento em rbitas epicclicas bastante complexas, stndo que alguns tm que girar em sentido contrrio. Se o Sol estiver no centro, o que consequentcmentc converte a Terra em mais um corpo celeste, as rbitas certamente vo adquirir formas elpticas relativamente simples. A res-postn barroc,1 pnra essa pergunta a seguinte: na realidade ~ o Sol que se encontra no centro, e as ,~Jipses sfio ns for-mas reais; nas formas epicclicas de Ptolomeu, as figuras rlo discurso, as fices, eram fonnas inventadas para mante1 as aparncias (para salvar os fenmenos). I Ioje pensamos
mais formalmente do que naquela poca, e nossa resposta seria assim: as elipses so formas mais convenientes que os epiciclos, e por isso so preferveis. As elipses, por sua vez, so menos convenientes que os crculos, mas os crculos in-felizmente no podem ser utilizados aqui. A questo j no mais voltada para o que real, mas sim para o que con-veniente; e ento se verifica que no se pode simplesmente aplicar formas convenientes aos fenmenos (no caso, os crculos), a no ser aquelas mais convenientes que harmo-
28 nizem com eles. Em suma: as formas no so descobertas nem invenes, no so idias platnicas nem fices; so recipientes construdos especialmente para os fenmenos ("modelos"). E a cincia terica no nem "verdadeira" nem
"fictcia", mas sim "formal" (projetam modelos) . Se "forma" for entendida como o oposto de "matria",
ento no se pode falar de design "material"; os projetos es-tariam sempre voltados para informar. E se a forma for o
"como" da matria e a "matria" for o "o qu" da forma, ento o design um dos mtodos de dar forma matria e de faz-la aparecer como aparece, e no de outro modo. O design, como todas as expresses culturais, mostra que a matria no aparece ( inaparente), a no ser que seja informada, e assim, uma vez informada, comea a se manifestar (a tomar-se fenmeno). A matria no design, como qualquer outro aspecto cultural, o modo como as formas aparecem.
Falar de design, no entanto, como algo situado entre o material e a "i materialidade" no totalmente sem sentido. Pois existem de fato dois modos distintos de ver e de pen-sar: o material e o formal. Pode-se dizer que o modo pre-dominante no perodo barroco era o material: o Sol real-
mente o centro, e as pedras caem realmente de acordo com uma frmula. (Era material, e exatamente por essa razo no materialista.) Hoje em dia, o modo formal que pre-valece: o sistema heliocntrico e a equao da queda livre so formas prticas (exatamente por se tratar de um modo formal, no imaterialista). Esses dois modos de ver e de pensar levam a duas maneiras distintas de projetar: a ma-terial e a formal. A material resulta em representaes (por exemplo, as pinturas de animais nas paredes das cavernas). A formal, por sua vez, produz modelos (por exemplo, os 29 projetos de canais de irrigao nas tbuas mesopotmicas). A maneira material de ver enfatiza aquilo que aparece na forma; a maneira formal reala a forma daquilo que apare-ce. Portanto, a histria da pintura, por exemplo, pode ser interpretada como um processo, no decorrer do qual a visa-da formal se impe sobre a visada material (ainda que com alguns retrocessos). o que ser mostrado a seguir.
Um passo importante no caminho que conduziu for-malizao foi a introduo da perspectiva. Pela primeira vez tratou-se, de maneira consciente, de preencher formas preconcebidas com matria, de fazer os fenmenos apare-cer em formas especficas. Um passo seguinte talvez tenha sido dado por Czanne, ao conseguir impor a uma mesma matria duas ou trs formas simultaneamente (consegue
"mostrar", por exemplo, uma mesma ma sob diversas perspectivas). Isso foi levado ao pice pelo cubismo: trata-va-se de mostrar as formas geomtricas preconcebidas (en-trecruzadas); nelas, a matria serve exclusivamente para deixar as formas aparecer. Pode se dizer, portanto, que a pintura cubista, entre o conteudo e o continente, entre
entre a matria e a forma. entre o aspecto material e o for-mal dos fenmenos. se move sempre em direo quilo que designado erroneamente de "imaterial.
Mas tudo isso apenas uma preparao de caminho para a produo das chamadas "imagens artificiais". So elas as responsveis por tornar to "abrasadora" hoje em dia a pergunta sobre a relao entre matria e forma. O que est em jogo so os equipamentos tcnicos que permi-tem apresentar nas telas algoritmos (frmulas matemti-
30 cas) em forma de imagens coloridas (e possivelmente em movimento). Isso diferente de projetar canais em tbuas mesopotmicas. de desenhar cubos e esferas nos quadros cubistas. e tambm difere de projetar avies a partir de cl-culos. Porque nesses casos se trata de projetar formas para materiais que sero contidos nelas (formas para aquedutos. para as Demoiselles d'Avignon, para os jatos Mirage); j o exemplo anterior diz respeito a formas platnicas "puras". As equaes fractais. por exemplo. que brilham nas telas como "bonecos de ma" de Mandelbrot. * no possuem matria (embora possam posteriormente ser preenchidas
Em alemo, Mandelbrots Apfelmii.nnchen. A expresso refere-se ao conjunto de Mandelbrot, uma imagem fractal que parece produ-zir a si mesma infinitamente. gerada pela primeira vez num com-putador pelo matemtico francs Benoit Mandelbrot. Por se asse-melhar a uma ma com braos e pernas, o fractal foi chamado, por pesquisadores alemes, de "boneco de ma de Mandelbrot". No livro de lan Stewart, Ser que Deus joga dados? A nova matemtica do caos (Jorge Zahar, 1991, p. 254), o conjunto de Mandelbrot identi-ficado como "boneco de po-de-mel". [N.T.]
formaes montanhosas, nuvens de tormenta ou flocos de neve). Essas imagens sintticas podem (erroneamente) ser chamadas de "imateriais", e no porque apaream no campo eletromagntico, mas por mostrarem formas vazias, livres de matria.
A questo "abrasadora" , portanto, a seguinte: antiga-mente (desde Plato, ou mesmo antes dele) o que importava era configurar a matria existente para torn-la visvel, mas agora o que est em jogo preencher com matria uma tor-rente de formas que brotam a partir de uma perspectiva 31 terica e de nossos equipamentos tcnicos, com a finalidade de "materializar" essas formas. Antigamente, o que estava em causa era a ordenao formal do mundo aparente da matria, mas agora o que importa tornar aparente um mundo altamente codificado em nmeros, um mundo de
\
formas que se multiplicam incontrolavelmente. Antes, o objetivo era formalizar o mundo existente; hoje o objetivo realizar as formas projetadas para criar mundos alterna-tivos. Isso o que se entende por "cultura imaterial", mas deveria na verdade se chamar ~~cultura materializadora".
O que se debate aqui o conceito de informar, que significa impor formas matria. Esse conceito tornou se muito claro a partir da Revoluo Industrial. Uma ferra-menta de ao em uma prensa uma forma, e ela informa o fluido de vidro ou de plstico que escorre por ela para criar garrafas ou cinzeiros. A questo antigamente ern distinguir as informaes verdadeiras das falsas. Verdadeiras emm aquelas cujas formas eram descobertas, c falsas aquelas em que as formas eram fices. Essa distino perde o sentido quando passamos a considv.rar as formas no mais como
descobertas (aletheiai), nem como fices, mas como mo-delos . Fazia sentido, antigamente, diferenar a cincia da arte, o que hoje parece um despropsito. O critrio para a crtica da informao hoje est mais para a seguinte per-gunta: at que ponto as formas aqui impostas podem ser preenchidas com matria? Em que medida podem ser rea-lizadas? At que ponto as informaes so operacionais ou produtivas?
Mas no o caso de se perguntar se as imagens so su-32 perfcies de matrias ou contedos de campos eletromag-
nticos. Convm saber em que medida essas imagens corres-pondero ao modo de pensar e de ver material e formal. Seja qual for o significado da palavra "material", s no pode ex-primir o oposto de "imaterialidade". Pois a "imaterialidade", ou, no sentido estrito, a forma, precisamente aquilo que faz o material aparecer. A aparncia do material a forma. E essa certamente uma afirmao ps-material.
34 O nome escolhido pela zootaxonomia para identificar a nossa espcie - Homo sapiens sapiens - expressa a opinio de que nos diferenciamos dos homindeos que nos prece-deram exatamente por uma dupla sabedoria. Se conside-rarmos o que conseguimos fazer at aqui, essa denomin~o torna-se no mnimo questionvel. Por outro lado, a designao Homo faber afigura-se menos investida ideo-logicamente, pelo fato de apresentar um carter mais an-tropolgico do que zoolgico. Ela denota que pertencemos quelas espcies de antropides que fabricam algo. uma designao funcional, uma vez que nos permite colocar
. . , . , .
em cena o segutnte cnteno: se encontrarmos resqutcws de homindeos em qualquer lugar, desde que nas proximi-dades de algum local de produo de artefatos (fbrica), e se acaso no houver dvidas de que a atividade nessa f-brica era exercida por esse homindeo, ento pode-se desig-n-lo como Homo faber, ou, mais propriamente, como ho-mem. Em stios arqueolgicos de esqueletos de primatas, por exemplo, fica evidente que as pedras ao redor foram coletadas e trabalhadas por eles mesmos de modo fabril. A despeito de todas as incertezas zoolgicas, esses primatas
deveriam ser chamados de Homines fabri, ou, por que no, de homens propriamente. A fbrica , portanto, uma cria-o comum e caracterstica da espcie humana, aquilo a que j se chamou de "dignidade" humana. Podem-se reconhe-cer os homens por suas fbricas.
Os especialistas em pr-histria dedicam-se tambm a esse estudo, e o que os historiadores deveriam fazer, mas nem sempre o fazem, ou seja: pesquisar as fbricas para identificar o homem. Para investigar, por exemplo, como vivia, pensava, sentia, atuava e sofria o homem neoltico, 35 no h nada mais adequado que estudar detalhadamente as fbricas de cermica. Tudo, e em particular a cincia, a poltica, a arte e a religio daquelas comunidades, pode ser reconstitudo a partir da organizao das fbricas e dos ar-tefatos de cermica. E o mesmo pode ser afirmado para as demais pocas. A anlise detalhada de uma oficina de sa-pateiro do sculo XIV no norte da Itlia, por exemplo, pode resultar em entendimento mais profundo das razes do Humanismo, da Reforma e da Renascena do que aquele derivado do estudo das obras de arte e de textos polticos, filosficos e teolgicos. Pois as obras e os textos foram em c;ua maioria produzidos por monges, ao passo que as gran-des revolues dos sculos XIV e xv tiveram sua origem nas oficinas e nos conflitos que ali insurgiram. Portanto, aquele que indaga sobre o nosso passado deveria concentrar-se na escavao de runas das fbricas. E quem se interessa por nosso tempo deveria em primeiro lugar analisar criti-camente as fbricas atuais. Aquele que dirige sua pergunta para os dias futuros estar com certeza perguntando pela fbrica do futuro.
Se considerarmos ento a histria da humanidade como uma histria da fabricao, e tudo o mais como meros co-mentrios adicionais, torna-se possvel distinguir, grosso modo, os seguintes perodos: o das mos, o das ferramentas, o das mquinas e o dos aparelhos eletrnicos (Apparate). Fa-bricar significa apoderar-se (entwenden) de algo dado na na-tureza, convert-lo (umwenden) em algo manufaturado, dar-lhe uma aplicabilidade (anwenden) e utiliz-lo (verwenden). Esses quatro movimentos de transformao (Wenden) -
36 apropriao, converso, aplicao e utilizao - so realiza-dos primeiramente pelas mos, depois por ferramentas, em seguida pelas mquinas e, por fim, pelos aparatos eletrni-cos. Uma vez que as mos humanas, assim como as mos dos primatas, so rgos (Organe) prprios para girar (Wen-den) coisas (e entenda-se o ato de girar, virar, como uma informao herdada geneticamente), podemos considerar as ferramentas, as mquinas e os eletrnicos como imita-es das mos, como prteses que prolongam o alcance das
-
mos e em conseqncia ampliam as informaes herda-das geneticamente graas s informaes culturais, adqui-ridas. Portanto, as fbricas so lugares onde aquilo que dado (Gegebenes) convertido em algo feito (Gemachtes),
'
e com isso as informaes herdadas tomam-se cada vez me-nos significativas, ao contrrio das informaes adquiridas, aprendidas, que so cada vez mais relevantes. As fbricas so lugares em que os homens se tornam cada vez menos naturais e cada vez mais artificiais, precisamente pelo fato de que as coisas convertidas, transformadas, ou seja, o pro-duto fabricado, reagem investida do homem: um sapatei-ro no faz unicamente sapatos de couro, mas tambm, por
tneio de sua atividade, faz de si mesmo um sapateiro. Dito de outra maneira: as fbricas so lugares onde sempre so produ-zidas novas formas de homens: primeiro, o homem-mo, de-pois, o homem-ferramenta, em seguida, o homem-mquina e, finalmente, o homem-aparelhos-eletrnicos. Repetindo: essa a histria da humanidade.
Somente com dificuldades conseguimos reconstruir a primeira Revoluo Industrial, aquela em que ocorre a subs-tituio da mo pela ferramenta, apesar de estar bem docu-mentada por meio da arqueologia industrial. Mas uma coisa 37 certa: no momento em que a ferramenta - corno um ma-chado, por exemplo - entra em jogo, possvel falar de uma nova forma de existncia humana. Um homem rodeado de ferramentas, isto , de machados, pontas de flecha, agulhas, facas, resumindo, de cultura, j no se encontra no mundo corno em sua prpria casa, corno ocorria por exemplo com o homem pr-histrico que utilizava as mos. Ele est alienado do mundo, protegido e aprisionado pela cultura.
A segunda Revoluo Industrial, que supe a substitui-o da ferramenta pela mquina, ocorreu h pouco mais de duzentos anos, e somente agora comeamos a compreen-d-la. As mquinas so ferramentas projetadas e fabrica-das a partir de teorias cientficas, e exatamente por isso so mais eficazes, mais rpidas e mais caras. Inverte-se assim a relao homem-ferramenta, e a existncia do ho-mem modifica-se completamente. Quando se trata de fer-ramenta, o homem a constante e a ferramenta, a vari-vel: o alfaiate senta se no meio da oficina e, quando quebra uma agulha, a substitui por outra. No caso da mquina, ela a constante e o homem, a varivel: a mquina encontra-
se l, no meio da oficina, e, se um homem envelhece ou fica doente, o proprietrio da mquina o substitui por outro. como se o proprietrio, o fabricante, fosse a constante e a mquina, sua varivel, mas ao se analisar mais de per-to verifica-se que tambm o fabricante uma varivel da mquina ou do parque industrial como um todo. A segun-da Revoluo Industrial expulsou o homem de sua cultura, assim como a primeira o expulsou da natureza, e por isso podemos considerar as fbricas mecanizadas uma espcie
38 de manicmio. Pensemos agora na terceira Revoluo Industrial, aque-
la que implica a substituio de mquinas por aparelhos eletrnicos. Ela ainda est em andamento, e seu final no passvel de ser visto. Por isso perguntamos: como ser a f-brica do futuro (ou seja, a de nossos netos)? Mesmo a sim-ples pergunta sobre o que afinal significa a expresso "apa-relho eletrnico" esbarra em dificuldades; uma resposta possvel seria: as mquinas so ferramentas construdas de acordo com teorias cientficas, em um momento em que a cincia consistia sobretudo na fsica e na qumica, ao passo que os aparelhos eletrnicos podem ser tambm aplicaes, teorias e hipteses da neurofisiologia e da biologia. Em ou-tras palavras: as ferramentas imitam a mo e o corpo em-piricamente; as mquinas, mecanicamente; e os aparelhos, neurofisiologicamente. Trata-se de "converter" (wenden) em coisas as simulaes cada vez mais perfeitas de infor-maes genticas, herdadas. Pois os aparelhos eletrnicos consistem nos mais adequados mtodos para transfonnar coisas para o uso. A fbrica do futuro ser certamente mui-to mais compatvel que as atuais, e sem dvida refonnula-
mular completamente a relao homem-ferramenta. Po-de-se, portanto, esperar que a louca alienao do homem com relao natureza e cultura, que atingiu o grau m-ximo na revoluo das mquinas, possa ser superada. E as-sim a fbrica do futuro no mais ser um manicmio, mas um lugar onde as potencialidades criativas do Homo faber podero se realizar.
O que est fundamentalmente em questo aqui are-lao homem-ferramenta. Trata-se de uma questo topol-gica ou, se se quiser, arquitetnica. Enquanto se fabricava 39 sem ferramentas, isto , enquanto o Homo faber apreendia a natureza com as mos, a fim de apropriar-se das coisas e transform-las, enquanto no se podia identificar a loca-lizao de fbricas, no havia um "topos" para elas. O ho-mem pr-histrico, da Idade da Pedra Lascada, no especi-ficava lugares para fabricao, produzia em qualquer lugar. Quando entram em jogo as ferramentas, torna-se necess-rio delimitar espaos no mundo para a fabricao - como os lugares onde se extraa o slex das montanhas, ou os lo-cais onde o slex era convertido em objetos que receberiam uma aplicao e seriam utilizados. Esses espaos de fabri-cao so crculos em cujo centro se encontra o homem; em crculos excntricos localizam-se suas ferramentas, que, por sua vez, esto rodeadas pela natureza. Verifica-se essa arquitetura fabril praticamente durante toda a histria da humanidade. Com a inveno das mquinas, essa arquite-tura tetn que mudar, e da tnaneira a seguir.
J que a mquina deve estar situada no meio, devido ao fato de durar mais e de ter maior valor que o homem, a arquitetura humana ter de se submeter arquitetura
das mquinas. Surgem agrupamentos significativos de mquinas na Europa ocidental e na Amrica do Norte, e, posteriormente, em todo o mundo, formando entronca-mentos de uma rede de circulao. Por serem ambivalen-tes, os fios dessa rede podem ser organizados de modo centrpeto ou centrfugo. Ao longo dos fios centrpetos, as coisas relacionadas natureza e aos homens so absorvi-das pelas mquinas para que l possam ser convertidas e utilizadas. Ao longo dos fios centrfugos, as coisas e os
40 homens transformados fluem para fora das mquinas. As mquinas em rede, conectadas entre si, formam comple-xos, e estes, por sua vez, se unem formando parques in-dustriais, e os assentamentos humanos formam aqueles lugares, em rede, a partir dos quais os homens so suga-dos pelas fbricas, para depois serem regurgitados perio-dicamente, cuspidos outra vez de l. A natureza inteira atrada, de forma concntrica, por essa suco das m-quinas. Essa a estrutura da arquitetura industrial dos sculos XIX e XX.
Essa estrutura mudar radicalmente em funo dos apa-relhos eletrnicos. No somente pelo fato de que os apare-lhos sejam mais adaptveis ao uso e, por isso, radicalmente menores e mais baratos que as mquinas, mas tambm por no mais serem uma constante em relao ao homem. Fica cada dia mais evidente que a relao homem-aparelho eletrnico reversvel, e que ambos s podem funcionar conjuntamente: o homem em funo do aparelho, mas, da mesma maneira, o aparelho em funo do homem. Pois o aparelho s faz aquilo que o homem quiser, mas o homem s pode querer aquilo de que o aparelho capaz. Est sur-
gindo um novo mtodo de fabricao, isto , de funciona-mento: esse novo homem, o funcionrio, est unido aos aparelhos por meio de milhares de fios, alguns deles in-visveis: aonde quer que v, ou onde quer que esteja, leva consigo os aparelhos (ou levado por eles), e tudo o que faz ou sofre pode ser interpretado como uma funo de um aparelho.
' A primeira vista como se estivssemos retornando fase de fabricao anterior s ferramentas. Exatamente como o homem primitivo, que sem mediao alguma apreendia a 41 natureza com as mos e, graas a elas, podia fabricar em qualquer momento e lugar, os futuros funcionrios, equi-pados com aparelhos pequenos, minsculos ou at mesmo invisveis, estaro sempre prontos a fabricar algo, em qual-quer momento e lugar. Assim, no somente os gigantescos complexos industriais da era das mquinas havero de ex-tinguir-se como os dinossauros, e na melhor das hipteses terminaro expostos em museus de histria, mas tambm as oficinas vo se tornar suprfluas. Graas aos aparelhos, todos estaro con ectados com todos onde e quando qui-serem, por meio de cabos reversveis, e, com esses cabos e aparelhos, todos poderao se apropriar das coisas existen-tes, transform-las e utiliz-las.
Essa visada telemtica, ps -industrial e ps-histrica sobre o futuro do Homo fabcr apresenta, no entanto, um pequeno problema: quanto mais complexas se tornam as ferramentas, mais abstrltas so suas ftmoPs. Ao homem primitivo, que fazn tudo essencialmente com lS mos, eram suficientes as informaes concretlS e herclndas p
potes e sapatos, por exemplo, para fazer uso das ferramen-tas, tinha que adquirir essas informaes empiricamente. As mquinas exigiam no apenas informao emprica, mas tambm terica, e isso explica o porqu da escolaridade obrigatria: escolas primrias que ensinem o manejo de mquinas, escolas secundrias para o ensino da manuten-o das mquinas e escolas superiores que ensinem a cons-truir novas mquinas. Os aparelhos eletrnicos exigem um processo de aprendizagem ainda mais abstrato e o desen-
42 volvimento de disciplinas que de modo geral ainda no se encontram acessveis. A rede telemtica que conecta os ho-mens com os aparelhos e o conseqente desaparecimento da fbrica (para ser mais preciso: o conseqente processo de desmaterializao da fbrica) pressupem que todos os homens devam ser competentes o suficiente para isso. Mas no se pode confiar nessa pressuposio.
Pode-se imaginar qual ser o aspecto das fbricas no fu-turo: sero como escolas. Devero ser loE:ais em que os ho-mens aprendam como funcionam os aparelhos eletrnicos, de forma que esses aparelhos possam depois, em lugar dos homens, promover a transformao da natureza em cultu-ra. E os homens do futuro, por sua vez, nas fbricas do futu-ro, aprendero essa operao com aparelhos, em aparelhos e de aparelhos. Em funo disso, a fbrica do futuro dever assemelhar-se mais a laboratrios cientficos, academias de arte, bibliotecas e discotecas do que s fbricas atuais. E o homem-aparelho (Apparatmenschen) do futuro deve-r ser pensado mais como um acadmico do que como um operrio, um trabalhador ou um engenheiro.
Aqui surge, porm, um problema conceitual que consti-
Aqui surge, porm, um problema conceitual que consti-tui o ncleo dessas reflexes: segundo as ideias clssicas, a fbrica o oposto da escola: a "escola" o lugar da contem-plao, do cio (otium, schol), e a "fbrica", o lugar da perda da contemplao (negotium, ascholia); a "escola" nobre, e a
"fbrica", desprezvel. Mesmo os filhinhos romnticos dos fundadores de grandes indstrias compartilhavam dessa opinio clssica. Agora comea a desvelar-se o erro funda-mental dos platnicos e dos romnticos. Enquanto escola e fbrica esto separadas e se depreciam mutuamente, go- 43 verna a maluquice industrial. Por outro lado, enquanto os aparelhos eletrnicos continuam expulsando as m quinas, fica evidente que a fbrica no outra coisa seno a escola aplicada, e a escola n o mais que uma fbrica para aqui-sio de informaes. E somente nesse momento o t ermo Homo faber adquire total dignidade.
Isso n os permite formular a pergunta sobre a fbrica do futuro de modo topolgico e arquitetnico. A fbrica do futuro dever ser aquele lugar em que o homem aprender, juntamente com os aparelhos eletrnicos, o qu, para qu e como colocar as coisas em uso. E os fut uros arquitetos fabris tero de projetar escolas ou, em termos clssicos, academias, 1 emplos de sabedoria. Como dever ser o aspecto desses tem-plos, se estaro materialmente assentados no cho, se flutua-ro como objetos semimateriais, se sero quase totalmente materfls, uma questo secundria. O que importa que a fbrica do futuro dever ser o lugar em que o l lcuno (aber se converter em I fomo sapiens sapiens, porque reconhecera que fabricar significfl o mesmo qur. aprender, isto , adquirir informaes, produzi-las e divulg-las.
44
Isso soa no mfnimo tio utpico quanto & 1odedd lemtica conectada em rede cotn apare1tio1 autom4tfcol. Mas na realidade trata-se de uma pr.ojelo de tendlnda1 que j podem ser observadas. Semelbanw escow-fbricas __ ....,. e fbricas-escolas j estO surgincl .em toda parte ...
A
46 As mquinas so simulaes dos rgos do corpo humano.
#
A alavanca, por exemplo, um brao prolongado. Poten-cializa a capacidade que tem o brao de erguer coisas e des-carta todas as suas outras funes. "mais estpida" que o brao, mas em troca chega mais longe e pode levantar cargas mais pesadas .
As facas de pedra- cuja forma imita a dos dentes incisi-vos- so uma das mquinas mais antigas. So mais antigas que a espcie Homo sapiens sapiens e continuam cortando at hoje: exatamente por no serem orgnicas, mas feitas de pedra. Provavelmente os homens da Idade da Pedra Las-cada tambm dispunham de mquinas vivas: os chacais, por exemplo, que deviam utilizar na caa como extenso de suas prprias pernas e incisivos. Os chacais, assim como os in-cisivos, so menos estpidos que as facas de pedra; por sua vez, estas duram mais tempo. Talvez essa seja uma das ra-zes pelas quais, at a Revoluo Industrial, empregavam-se tanto mquinas "inorgnicas" como orgnicas: tanto fa-cas quanto chacais, tanto alavancas quanto burros, tanto ps quanto escravos - para que se pudesse dispor de du-rabilidade e inteligncia. Mas as mquinas "inteligentes"
(chacais, burros e escravos) so estruturalmente mais com-plexas que as "estpidas". Esse o motivo pelo qual, desde a Revoluo Industrial, se comeou a prescindir delas.
A mquina industrial se distingue da pr-industrial pelo fato de que aquela tem como base uma teoria cientfica. Certamente a alavanca pr-industrial tambm tem a lei da alavanca em seu bojo, mas somente a industrial sabe que a tem. Habitualmente isso se expressa assim: as mquinas pr-industriais foram fabricadas empiricamente, ao passo que as industriais o so tecnicamente. Na poca da Revolu- 47 o Industrial, a cincia dispunha de uma srie de teorias a respeito do mundo "inorgnico'', principalmente teorias de mecnica. Porm, em relao ao mundo orgnico, as teorias eram bastante escassas. Que leis tem o burro no seu ven-tre? No s o prprio burro as desconhecia, como tambm os cientistas pouco sabiam sobre elas. Da que, a partir da Revoluo Industrial, o boi deu lugar locomotiva, e o ca-valo, ao avio. O boi e o cavalo eram impossveis de ser fei-tos tecnicamente. Com relao aos escravos, a coisa era ain-da mais complicada. As mquinas tcnicas no apenas iam se tornando cada vez mais eficazes como tambm maio-res e mais caras. Desse modo, a relao "homem-mquina" invPrteu-se de tal modo que as mquinas no serviam aos homens, mas estes serviam a elas. Haviam-se convertido em escravos relativamente inteligentes de mquinas rela-tivamente estpidas.
Essa situao mudou um pouco no sculo XX. As teorias se aperfeioaram e, graas a isso, as mquinas se tornaram ao mesmo tempo cada vez mais eficazes e menores, e sobretudo mais "inteJigentes". Os escravos se tornam progressivamente
..
redundantes e fogem das mquinas para o setor de servi os, ou ento ficam desempregados. Essas so as conheci-das conseqncias da automao e da "robotizao, que caracterizam o processo da sociedade ps-industrial. Mas essa no a mudana realmente importante. Muito mais significativo o fato de que estamos comeando a dispor tambm de teorias que se aplicam ao mundo orgnico. Come-amos a saber que leis o burro traz no ventre. Em conseqn-cia, em breve poderemos fabricar tecnologicamente bois,
48 cavalos, escravos e superescravos. Isso ser chamado, pro-vavelmente, a segunda Revoluo Industrial ou a Revolu-o Industrial "biolgica".
E assim ficar explcito que a inteno de construir m-quinas "inorgnicas inteligentes, , no melhor dos casos, um remendo e, no pior, um erro; uma alavanca no tem por que ser um brao estpido se receber um sistema nervoso central. A elevada inteligncia do boi pode ser inclusive superada pelas locomotivas que estejam bem construdas
"biologicamente'. Em breve, ao construir mquinas ser possvel combinar a durabilidade do "inorgnico, com a in-teligncia do orgnico. Logo haver uma praga de chacais de pedra. Mas essa no necessariamente uma situao paradisaca: os chacais, bois, escravos e superescravos de pedra se agitam freneticamente nossa volta, enquanto tentamos comer e digerir os produtos industriais secund-rios que deles jorram sem parar. Isso no pode ser assim. E no s porque essas "inteligncias de pedra., estejam se tomando cada vez "mais inteligentes., e, conseqentemente, deixando de ser estpidas o suficiente para nos servir; no pode ser assim porque as mquinas, por mais estpidas que
sejam, contra-atacam, revidam nossas investidas. Como vo golpear quando se tornarem mais espertas?
A velha alavanca nos devolveu o golpe: movemos os bra-os como se fossem alavancas, e isso desde que passamos a dispor delas. Imitamos os nossos imitadores. Desde que criamos ovelhas nos comportamos como rebanhos e neces-sitamos de pastores. Atualmente, esse contra-ataque das mquinas est se tornando mais evidente: os jovens dan-am como robs, os polticos tomam decises de acordo com cenrios computadorizados, os cientistas pensam di- 49 gitalmente e os artistas desenham com mquinas de plota-gem . Por conseguinte, toda futura fabricao de mquinas tambm dever levar em conta o contragolpe da alavanca. J no possvel construir mquinas considerando apenas
' a econ omia e a ecologia. E preciso pensar tambm como essas mquinas nos devolvero seus golpes. Uma tarefa difcil, se levarmos em considerao que, na atualidade, a maioria das m quinas construda por ''mquinas inteli-gentes" ~ ns apenas observam os o processo para intervir ocasonlmente.
Esse um problema de design: como devem ser as m quinas, para que seu contragolpe no nos cause dor? Ou melhor: como devem ser essas mquinas para que o contra golpe nos faa bem? Como devero ser os chacais de pedra para que no nos esfarrapem e para que ns mesm os no no!{ comportemos c:omo chacais? Nat uralmcnt'c podem os projetn-los de modo a que nos lnmbam, em vez de rnordc>r-nos. Mas queremos realmente ser lambidos? So qunstes difceis, porque ningum sabe de fato como quct ser. No entanto, devemos debater essas questes antes de come
50
annos a projetar chacais de pedra (ou talvez clones de invertebrados ou quimeras de bactrias). E essas questes so ainda mais interessantes do que qualquer chacal de pe-dra ou qualquer futuro super-humano. Ser que o designer estar preparado para coloc-las?
A NO COISA [1]
52 Pouco tempo atrs, nosso universo era composto de coi-sas: casas e mveis, mquinas e veculos, trajes e roupas, livros e imagens, latas de conserva e cigarros. Tambm havia seres humanos* em nosso ambiente, ainda que a ci-ncia j os tivesse, em grande parte, convertido em ob-jetos: eles se tornaram, portanto, como as demais coisas, mensurveis, calculveis e passveis de serem manipula-dos. Em suma, o ambiente era a condio de nossa exis-tncia (Dasein). Orientar-se nele significava diferenar as coisas naturais das artificiais. Uma tarefa nada fcil. Essa hera na parede de minha casa, por exemplo, uma coisa natural simplesmente porque cresce e porque objeto de estudo da botnica, uma cincia natural? Ou ser uma coi-sa artificial por ter sido cultivada por meu jardineiro con-forme um modelo esttico? E minha casa? Ser algo artifi-cial, uma vez que projetar e construir casas uma arte? Ou
Nesta passagem, traduzimos "Menschen" por "seres humanos para pr em evidncia seu contraste com "coisas". Nas demais ocor-rncias do termo, optamos invariavelmente por "o homem" ou "os homens", visando respeitar o registro coloquial do texto. [N.T.]
ser natural as pessoas morarem em casas, assim como os pssaros vivem nos ninhos? Far sentido ainda querer distinguir natureza de cultura quando se trata de se orien-tar no mundo das coisas? No seria hora de buscar outros critrios "ontolgicos", como, por exemplo, a distino en-tre coisas animadas e inanimadas, mveis e imveis? Isso tambm cria dificuldades. Um pas, aparentemente, uma coisa imvel; no entanto, a Polnia deslocou-se para oes-te. Uma cama, pelo que parece, um mvel, mas a minha cama deslocou-se menos do que a Polnia. Qualquer cat- 53 logo referente ao universo das coisas, independentemen-te dos critrios utilizados para comp-lo - "animado-ina-nimado", "meu-seu", "til-intil", "prximo-distante" -, apresentar lacunas e impreciso. No fcil nos movi-mentarmos entre as coisas.
No entanto, ao olharmos para trs, como fazemos aqui, reconhecemos que era mais aconchegante viver em um
,
mundo de coisas. E claro que havia, se quisermos nos ex-pressar com elegncia, certas dificuldades epistemolgicas, mas era possvel saber mais ou menos o que se deveria fa-zer para poder viver. "Viver, significa ir em direo mor-te. Nesse caminho topava-se com coisas que obstruam a passagem. Essas coisas chamadas "problemas" tinham de ser consequentemente retiradas da frente. "Viver" signifi-cava ento resolver problemas para poder morrer. E os pro-blemas eram solucionados quando as coisas que resistiam obstinada mente eram transformadas em dceis, e n isso se chamava 11produo"; ou ento O serem superndos - o que era identificado como "progresso". At que finalmente apareceram problemas que nno podiam ser t nmsformados
e ne1n superados. Eram denominados "as ltimas coisas", e morria-se por sua causa. Esse era o paradoxo da vida en-tre as coisas: acreditava-se que os problemas tinham de ser resolvidos para limpar o caminho para a morte, a fim de, como se costumava dizer, "libertar-se das circunstncias", e morria-se justamente por causa dos problemas insol-veis. Isso pode at no soar de um modo muito aprazvel, mas no deixa de ser tranqilizador. Sabe-se ao menos o que se tem para ater-se vida - ou seja, as coisas.
Mas essa situao infelizmente mudou. Agora irrom-pem no-coisas por todos os lados, e invadem nosso espao suplantando as coisas. Essas no-coisas so denominadas
"informaes". Podemos querer reagir a isso dizendo "mas que contra-senso!", pois as infonnaes sempre existiram e, como a prpria palavra "infonnao" indica, trata-se de
"formar em" coisas. Todas as coisas contm infonnaes: livros e imagens, latas de conserva e cigarros. Para que a infonnao se tome evidente, preciso apenas ler as coisas,
"decifr-las". Sempre foi assim, no h nada de novo nisso. Essa objeo absolutamente vazia. As infonnaes
que hoje invadem nosso mundo e suplantam as coisas so de um tipo que nunca existiu antes: so infonnaes ima-teriais (undingliche Infonnationen). As imagens eletrnicas na tela de televiso, os dados annazenados no computador, os rolos de filmes e microfilmes, hologramas e programas so to "impalpveis" (software) que qualquer tentativa de agarr-los com as mos fracassa. Essas no-coisas so, no sentido preciso da palavra, "inapreensfveis". So apenas de-codificveis. B bem verdade que, como as antigas infor maes, parecem tambm estar inscritas nas coisas: em
tubos de raios catdicos, em celuloides, em microchips, em raios laser. Ainda que isso possa ser admitido "ontologica-mente", trata-se de fato de uma iluso "existencial". A base material desse novo tipo de informao desprezvel do ponto de vista existencial. Uma prova disso o fato de que o hardware est se tornando cada vez mais barato, ao passo que o software, mais caro. Os indcios de materialidade ain-da ligados a essas no coisas podem ser descartados ao se apreciar o novo ambiente. O entorno est se tornando pro-gressivamente mais impalpvel, mais nebuloso, mais fan- 55 tasmagrico, e aquele que nele quiser se orientar ter de partir desse carter espectral que lhe prprio.
Mas no se faz sequer necessrio trazer conscincia essa nova configurao de nosso ambiente. Estamos todos impregnados dela. Nosso interesse existencial desloca-se, a olhos vistos, das coisas para as informaes. Estamos cada vez menos interessados em possuir coisas e cada vez mais querendo consumir informaes. No queremos apenas um mvel a mais ou uma roupa, mas gostaramos tambm de mais uma viagem de frias, uma escola ainda melhor para os filhos e mais um festival de msica em nossa regio. As coisas comeam a retirar-se para o segundo plano de nos-so campo de interesses. Ao mesmo tempo, uma parcela cada vez maior da sociedade ocupa-se com a produao de infor-maes, ,,servios", administrao, sistemas, e menos pes soas se dedicam produo de COlSclS. A dasse trabalhadora, ou seja, os produtores de coisas, est se tornando minoria, enquanto os func10narios c os apparatchiks. esses produto-res de no coisas, tornarn .. se m:tioria. A moral hurguesn ba-seada em coisas- produo, acumulao e consumo- c:edc
lugar a uma nova moral. A vida nesse ambiente que vem se tornando itnaterial ganha uma nova colorao.
Pode-se reprovar a descrio dessa reviravolta por ela no considerar a enxurrada de trastes inteis que acom-panha a invaso das no-coisas. Essa reprovao, no en-tanto, no procede: os trastes inteis provam o ocaso das coisas. O que acontece que alimentamos as mquinas de informaes para que elas "vomitem" esses trastes da for-ma mais massiva e barata possvel. Esses restos descart-
6 veis, isqueiros, navalhas, canetas, garrafas de plstico, no so coisas verdadeiras: no d para se apegar a elas. E medida que, progressivamente melhor, aprendermos a ali-mentar de informaes as mquinas, todas as coisas vo se converter em trastes desse tipo, inclusive casas e imagens. Todas as coisas perdero seu valor, e todos os valores se-ro transferidos para as informaes. "Transvalorao de todos os valores." Essa definio, alis, apropriada para o novo imperialismo: a humanidade dominada por gru-pos que dispem de informaes privilegiadas, como por exemplo a construo de usinas hidreltricas e armas at-micas, de automveis e aeronaves, de engenharia gentica e sistemas informticos de gerenciamento. Esses grupos vendem as informaes por preos altssimos a uma huma-nidade subjugada.
O que est em marcha ante nossos olhos, esse desloca-mento das coisas do nosso horizonte de interesses e a focali-zao dos interesses nas informaes, sem precedente na histria. E, por isso, inquietante. Mas se quisermos nos orientar melhor nesse campo, teremos de buscar, apesar da ausncia de precedentes, algum tipo de paralelismo. Seno,
corno poderamos sequer tentar imaginar nosso modo de vida em um ambiente imaterial como esse? Que tipo de ho-mem ser esse que, em vez de se ocupar com coisas, ir se ocupar com informaes, smbolos, cdigos, sistemas e mo-delos? Existe um paralelo: a primeira Revoluo Industrial. O interesse se deslocou nitidamente da natureza, das vacas e dos cavalos, dos lavradores e artesos para as coisas, para as mquinas e seus produtos, para a massa de trabalhado-res e para o capital, e assim surgiu o mundo ((moderno". Nessa poca podia-se afirmar, e com razo, que um campo- 57 ns do ano 1750 a.C. seria mais parecido com um campons de 1750 d.C. do que com um proletrio, seu filho, do ano 1780 d.C. Hoje em dia ocorre algo parecido. Estamos mais prximos do trabalhador e do cidado da Revoluo Fran-cesa do que de nossos prprios filhos, dessas crianas que vemos a brincando com aparelhos eletrnicos. A compara-o certamente no vai fazer com que a atual revoluo se torne mais confortvel para ns, mas ela pode servir para melhor apreenso do objeto.
Poderemos ento compreender que o esforo de nos ater-mos s coisas na vida talvez no seja o nico modo racional de viver, o que vai ao encontro daquilo em que estamos in-clinados a acreditar, que nossa "objetividade" (Objektivitiit) algo relativamente novo. Entenderemos que se pode vi-ver diferentemente, talvez de forma at melhor. Alis, a vida "moderna", a vida entre as coisas, no to excep-cionalmente maravilhosa como talvez pensassem nossos pas. Muitas sociedades do Terceiro Mundo, excludas do bloco ocidental, parecem ter boas razoes para rejeit-la. Se nossos filhos tambm comearem a repudi-la, no ser
necessariamente motivo de desespero. Pelo contrrio, tere-mos que imaginar essa nova vida com as no-coisas.
Admitamos: essa no uma tarefa fcil. Esse novo ho-mem que nasce ao nosso redor e em nosso prprio interior de fato carece de mos (ist handlos). Ele no lida (behandelt) mais com as coisas, e por isso no se pode mais falar de suas aes concretas (Handlungen), de sua prxis ou mes-mo de seu trabalho. O que lhe resta das mos so apenas as pontas dos dedos, que pressionam o teclado para operar
ss com os smbolos. O novo homem no mais uma pessoa de aes concretas, mas sim um performer (Spieler): Homo ludens, e no Homo faber. Para ele, a vida deixou de ser um drama e passou a ser um espetculo. No se trata mais de aes, e sim de sensaes. O novo homem no quer ter ou fazer, ele quer vivenciar. Ele deseja experimentar, conhe-cer e, sobretudo, desfrutar. Por no estar interessado nas coisas, ele no tem problemas. Em lugar de problemas, tem programas. E mesmo assim continua sendo um homem: vai morrer e sabe disso. Ns morremos de coisas como proble-mas insolveis, e ele morre de no-coisas como programas errados. Essas reflexes pennitem que nos aproximemos dele. A irrupo da no-coisa em nosso mundo consiste numa guinada radical, que no atingir a disposio bsica da existncia humana (Dasein), o ser para a morte (das Sein zum Tod). Seja a morte considerada como a ltima coisa ou
~ .
como uma nao-cmsa.
A NO COISA [2)
60 O homem, desde sempre, vem manipulando seu au: ,
E a mo, com seu polegar oposto aos demais dedos, distingue a existncia humana no mundo. Essa mo :.__-liar do organismo humano apreend as coisas. o -lDti! por ela apreendido como um con}unto de concreto. E no apenas apreendido: das para serem transformadas. A formiert) nas coisas qU pega. E ass1m dos ao redor do homem: o mundo&--= 1111
---
------............
eJatentes (llorllittida) .e
cada vez mais interessante: diversas reas do conhecimen-to, como por exemplo a ecologia, a arqueologia, a etimolo-gia e a psicanlise, tm se dedicado a estud-lo. O que se constata que o lixo retorna para a natureza. A histria humana, portanto, no uma linha reta traada da natu-reza cultura. Trata-se de um crculo, que gira da natureza cultura, da cultura ao lixo, do lixo natureza, e assim por diante. Um crculo vicioso.
Para poder saltar desse crculo seria necessrio ter dis-posio informaes inconsumveis, "inesquecveis", que 61 no poderiam ser manuseadas. Mas a mo agita todas as coisas, tenta alcanar tudo. As informaes inconsumveis, portanto, no devem ser armazenadas em coisas. Seria preciso produzir uma cultura imaterial (undinglich). Se isso ocorresse, no haveria mais esquecimento, e assim a histria da humanidade consistiria efetivamente num pro-gresso linear: uma memria crescente, em plena expan-so. Somos hoje testemunhas da tentativa de se produzir uma cultura imaterial desse tipo, uma memria expansvel. As memrias do computador so um exemplo disso.
A memria do computador uma no coisa. De forma similar, tambm as imagens eletrnicas e os hologramas so no coisas, pois simplesmente no podem ser apalpa-das, apreendidas com a mo. So no coisas pelo fato de
serem informaes inconsumveis. E certo que essas no coisas continuam enclausuradas em coisas como chips de silcio, tubos de raios catdicos ou raios laser. O jogo das contas de vidro, de Hermann I I esse, e trnbnlhos similnres de futurologia permitem que ao menos se imnginr. umn li-hert ao das no coisas com relano s coisas. A libertao
do software com relao ao hardware. Mas no sequer ne-cessrio que fantasiemos o futuro: a crescente imaterili-dade ( Undinglichkeit) e a impalpabilidade da cultura j so hoje uma vivncia diria. As coisas ao nosso redor esto encolhendo, em uma espcie de uminiaturizao", e fican-do sempre mais baratas; em contrapartida, as no-coisas em nosso entorno inflam, como o caso da "informtica". E essas no-coisas so simultaneamente efmeras e eter-nas. No esto ao alcance da mo (vorhanden), embora es-
2 tejam disponveis (zuhanden): so inesquecveis. Em um contexto como esse, as mos no tm nada a pro-
curar e nada a fazer. Uma vez que a situao inalcanvel, no h nada a ser tocado ou manipulado. A mo, a ativi-dade de apanhar e de produzir, tornou-se a suprflua. E o que ainda precisa ser apreendido e produzido efetuado
. - . ,,. automaticamente por nao-c01sas, por programas: por In-teligncia artificial" e mquinas robotizadas. Desse modo, o homem se emancipou do trabalho de apreender e de pro-duzir, e ficou desempregado. O atual desemprego no um
"fenmeno conjuntural", mas um sintoma da superficiali-dade do trabalho nesse contexto imaterial.
As mos tornaram-se suprfluas e podem atrofiar, mas as pontas dos dedos no. Pelo contrrio: elas passam a ser as partes mais importantes do organismo. Pois, nesse estado de coisas imateriais (undinglich), trata-se de fabri-car informaes tambm imateriais e de desfrutar delas. A produo de informaes um jogo de permutao de smbolos. Desfrutar das informaes significa apreci-los, e nessa situao imaterial, trata-se de jogar com eles e ob-serv-los. E, para jogar com os smbolos, para programar,
necessrio pressionar teclas. Deve-se fazer o mesmo para se apreciar os smbolos, para desfrutar dos programas. As teclas sao dispositivos que permutam smbolos e permitem torn-los perceptveis: consideremos, por exemplo, o piano ou a mquina de escrever. As pontas dos dedos so indis-pensveis para pressionarmos as teclas. O homem, nesse futuro de coisas imateriais, garantir sua existncia graas s pontas dos dedos.
E a se pode perguntar o que acontece, em termos exis-tenciais, quando pressiono uma tecla. O que ocorre quando 63 pressiono uma tecla na mquina de escrever, no piano, no aparelho de televiso, no telefone. O que acontece quando o presidente dos Estados Unidos aciona o boto vermelho ou quando o fotgrafo pressiona o boto do obturador. Eu escolho uma tecla, decido-me por uma tecla. Decido-me por uma determinada letra na mquina de escrever, por um determinado tom no piano, por um determinado pro-grama de televiso, por um nmero especfico de telefone. O presidente opta por uma guerra, o fotgrafo, por uma imagem. As pontas dos dedos so "rgos" de uma escolha, de uma deciso. O homem emancipa-se do trabalho para poder escolher e decidir. A situao em que se encontra, sem trabalho e sem coisas (undinglich), lhe permite a liber-dade de escolha e de deciso.
Essa liberdade das pontas dos dedos, sem mos, no entanto inquietante. Se coloco o revlver contra minhas tmporas e aperto o gatilho, porque decidi pr termo minha prpria vida. Essa aparentemente a maior liber-dade possvel: ao pressionar o gatilho, posso me libertar de todas as situaes de opresso. Mas, na rcalidde, ao
pression-lo, o que fao desencadear um processo que j4 estava programado em meu revlver. Minha deciso nlo foi assim to livre, j que me decidi dentro dos limites do programa do revlver. E, igualmente, do programa da m- .. ..,., quina de escrever, do programa do piano, do programa da televiso, do programa do telefone, do programa admiJs- _.....,.. trativo americano, do programa da mquina fotogrfica. A liberdade de deciso de pressionar uma tecla com a ponta
_..
do dedo mostra-se como uma liberdade programada, como 64 uma escolha de possibilidades prescritas. O que escolho, ..v--...
fao de acordo com as prescries. Por isso, como se a sociedade. do fuu1ro. im
dividisse em duas dasses_:_ a dos pn: ...,--- programados.A
Mas trata-se certamente de um totalitarismo extrema-mente satisfatrio, pois os programas so cada vez melho-res. Ou seja, eles contm uma quantidade astronmica de possibilidades de escolha que ultrapassa a capacidade de deciso do homem. De modo que, quando estou diante de uma deciso, pressionando teclas, nunca me deparo com os limites do programa. So to numerosas as teclas disponveis que as pontas dos meus dedos jamais podero toc-las todas. Por isso tenho a impresso de ser totalmen-te livre nas decises. O totalitarismo programador, se es- 65 tiver algum dia consumado, nunca ser identificado por aqueles que dele faam parte: ser invisvel para eles. S se faz visvel agora, em seu estado embrionrio. Somos talvez a ltima gerao que pode ver com clareza o que vem acon-tecendo por aqui.
E podemos v-lo claramente, pois ainda temos mos para alcanar as coisas e manipul-las. E ento podemos re-conhecer como no coisa o totalitarismo programador que se aproxima, por no podermos apreend-lo. Ser que essa inabilidade de apreenso no seria um sinal de que estamos
11Ultrapassados"? Pois uma sociedade emancipada do traba-lho e que acredita ser livre para decidir no seria por acaso uma daquelas utopias desde sempre imaginadas pela huma-nidade? Ser que no estamos nos aproximando da plenitu-de das eras? Para poder julgar isso, haveria de se analisar com mais preciso o que se entende por 11programa" esse con-ceito fundamental dos tempos atuais e futuros.
RODAS
Um dos efeitos do nazismo que mais se prolongou no tem- 67 po foi a kitschizao da sustica. E isso no significa pouco, se considerarmos que o smbolo est assentado nas profun-dezas da conscincia humana. E encontra-se instalado de uma forma to arraigada a ponto de, metaforicamente, tor-nar raso o Atlntico: a sustica tem um aspecto muito simi-lar para os celtas e os astecas. Este ensaio pretende refletir sobre esse smbolo, mas antes ser apresentada uma obser-vao metodolgica.
As coisas podem ser vistas pelo menos de duas manei-ras: mediante observao e por meio da leitura. Quando observadas, as coisas so vistas como fenmenos. No caso da sustica, por exemplo, vemos duas barras que se cruzam, e, nas extremidades das barras, ganchos. Quando lemos as coisas, pressupomos que elas signifiquem algo, e tentamos decifrar esses significados. (No tempo em que o mundo era considerado um livro, natura libellum, e enquanto se tenta-va decifr-lo, era impossvel uma cincia natural sem pres-suposies. E, desde que o mundo comeou a ser observado, e nao mais lido, passou a no ter mais significndo.) Se al gum se aproximar da sustica para l-la, ven1 quntro raios
e1nitidos a partir de um eixo; esses raios giram no sentido dos ganchos, e os ganchos comeam a descrever uma cir-cunferncia. Do ponto de vista da leitura, o signo manifes-ta-se dizendo: sou a roda solar, e estou irradiando.
E aqui devo confessar o motivo deste ensaio: se obser-varmos a condio do mundo ps-industrial, ficaremos im-pressionados com o lento, porm irreversvel, desapareci-mento das rodas. No se ouve mais seu rudo nos aparelhos eletrnicos. Aquele que quer avanar no se coloca mais so-bre rodas, mas sim sobre asas, e uma vez que a biotecno-logia tiver superado a mecnica, as mquinas deixaro de ter rodas e passaro a ter dedos, pernas e rgos sexuais. Talvez a roda esteja prestes a se converter em um mero cr-culo, e depois em mais uma entre tantas outras curvas. An-tes que essa decadncia das rodas se encaminhe ainda mais rapidamente para o fim, parece indispensvel interpretar a profunda inapreensibilidade da roda - ainda que nesses momentos finais e apesar da kitschizao - a partir da ima-gem da roda solar.
A imagem aponta do signo ao significado, da sustica ao Sol. um disco incandescente que gira ao redpr da Terra. Mas somente o semicrculo superior que descreve, do nascer ao pr-do-sol, se faz visvel. O semicrculo inferior penna-nece um segredo obscuro. Esse crculo eterno, que se repete eternamente em suas fases, completamente antiorgnico (antiorganisch). No reino dos seres vivos no existem rodas, e as nicas coisas que rolam so as pedras e os troncos de rvores derrubados. E a vida um processo: descreve um trecho que vai do nascimento morte, um devir em dire-o ao perecer. Mas a roda do Sol contradiz tambm a morte.
e no somente a vida: retorna secretamente e completa o crculo, do ocaso alvorada. A roda solar supera a vida e a morte, e o mundo todo se faz visvel sob essa roda, pois exatamente essa roda que o torna passvel de ser visto.
E quando se olha o mundo desse modo, ele parece o se-guinte: um cenrio em que homens e coisas interagem en-tre si, isto , trocam de posio uns com os outros. A roda do Sol, o crculo do tempo, coloca tudo e todas as coisas de volta no lugar que lhes devido. Cada movimento um deli-to cometido por homens e coisas contra si mesmos e contra 69 a eterna ordem circular, e o tempo se move em crculo para expiar os delitos e voltar com os homens e as coisas para seu devido lugar. Portanto, no existem diferenas essenciais entre homens e coisas: ambos so animados pelo desejo de provocar desordem, e ambos so levados pelo tempo e com o tempo rumo ao perecimento. Tudo no mundo animado, pois tudo se move e deve ter um motivo para se mover. E o tempo o juiz e o carrasco: ele circula pelo mundo, dispe tudo em seus devidos lugares e passa como uma roda por cima de tudo, atropelando e destruindo o que encontra em seu caminho. Foi nessa atmosfera de culpa, de expiao e de eterno retorno, ou, em outras palavras, sob o signo da roda solar que a humanidade viveu a maior parte de seu tempo na Terra.
Sempre existiram homens que tentaram se rebelar con-tra a roda do destino. Mas o que conseguiam com isso era apenas provocar ainda mais o destino. dipo dormiu com sua me exatamente porque no o queria e, por esse mesmo motivo, teve de arrancar seus prprios olhos. A isso os gre-gos chamavam de 11herosmo". Os pr-socrticos quiseram
'
superar a roda pelo lado de fora, pela via da transcendncia. Eles acreditavam que mesmo a roda, para poder se mover, tinha de ter um motivo, um motor (Beweger). A idia desse motor imvel situado alm do tempo, desse motivo nlo motivado em si mesmo, idia aprimorada posteriotntente por Aristteles, fundamental para se pensar o conceito ocidental de Deus.
Muito antes dos pr-socrticos, porm, surgiu na Meso-potmia um tipo de heroismo bastante diferente. Tente- _ mos nos colocar no papel de um sacerdote snmrio. A -par-
--
tir de suas previsOes, tentava decifrar o mundo que girava=: sobre rQdas. Via o nascimento, a morte ~o renasdmento; : via a culpa e- a expialo, n dia e a noite, D veria a guerra e a paz, dtas:de:.pmspertd:ade: e de udsda; ---...
as
Esse giro filosfico no nos deve impedir de acompanhar os estgios seguintes do desenvolvimento da roda, ou seja, devemos nos lembrar daquelas carroas, puxadas por burros, que transportavam cereais para os moinhos. Essa uma cena totalmente diferente daquela do sacerdote engenhoso e heroico. Ela se encontra no meio da histria e est mais prxima da Revoluo Industrial que do mito. Pois a ideia da roda veicular (Fahrrad),* isto , a roda na carroa, deve-se inteiramente conscincia histrica, e s pode surgir onde se vive historicamente. 71
Por exemplo: imaginemos uma roda hidrulica que se soltasse do eixo e ainda fosse impulsionada. Ela deveria ro-lar por um espao infinitamente extenso, durante um tem-po infinitamente longo, e isso o que se chama de "hist-ria": um rolar infinitamente longo e infinitamente extenso. Mas evidente que aqui no se trata disso, mas sim de que necessrio um motor, por exemplo o cavalo, que precisa dar roda impulso contnuo para mant-la rolando. Como podemos afinal explicar o fato de que uma roda veicular (Fahrrad) tem de ser uma roda motorizada (Motorrad) e nao pode ser um automvel (Automobil) ou um perpetuum mobile, e tambm no pode ser algo motivado eternamente? A ideia da roda veicular no pode esclarecer isso por si s. Por ser um crculo, a roda est sempre em contato com o
Fahrrad, em alemo, stgnificl btctc.leta. No entanto, a traduo mais ;~proprada aqui ''rod.1 veicular", que seria uma traduo literal elo termo aleml\o, composto dns palnvrns "Rad" (roda) e "fahren" (ron-clmdr, guiar). Neste texto, Flusser joga com a etimologia das pall\vras hicicleta, motocicleta (Motormd) e automvel (Automobil).IN.T,]
solo mediante um nico ponto. Como um ponto algo sem dimenso (nulldimensional), um nada, a roda ento nunca est em contato com a realidade sobre a qual avana, e por isso no deveria de modo algum ser influenciada por ela. No entanto, a roda roa a superfcie ilusria do mundo, e os cavalos tm que pux-la para mant-la rodando.
Pode-se pensar o quanto nos distanciamos do mundo mtico da roda solar ao formularmos o problema da roda veicular. Digamos que a diferena fundamental entre o
2 mundo do mito e o nosso prprio mundo seja esta: no pri-meiro no pode haver movimento imotivado. Se algo se move porque tem algum motivo, ou seja, alguma causa o anima. Em nosso mundo, ao contrrio, o movimento exige maiores explicaes. Nosso mundo inerte ou, para dizer de forma mais elegante, a lei da inrcia explica todo e qual-quer movimento e todo e qualquer repouso. Certamente existem tambm em nosso mundo movimentos que pare-cem motivados, como por exemplo nossos prprios movi-mentos. Esses movimentos anormais, por sua vez, carac-terizam os seres vivos. O sculo XVIII nutria a esperana de explicar satisfatoriamente os motivos dos seres vivos como fbulas, e pretendia explicar os seres vivos como m-quinas. Essa esperana no se realizou, e ainda: o mundo dos mitos um mundo animado, tudo nele so seres vivos, movimentados pela roda do destino; j o nosso mundo inerte, sem vida, apesar de os seres vivos ocorrerem nele, I e esse mundo inerte roda sem cessar e sem motivo algum.
Como ento que, por exemplo, os ciclistas continuam perdendo o equilbrio? Porque um ponto apenas na teoria pode significar nada, e porque uma roda, tambm apenas
teoricamente, corresponde a um crculo. Na prtica, um pon-to sempre alongado e um crculo, sempre irregular. Con-forme a lei da inrcia, as rodas deveriam rodar eternamente
'
mas na prtica o atrito acaba freando-as. Isso no quer di-zer que ao construirmos bicicletas tenhamos que renunciar teoria. Pelo contrrio: significa que temos de introduzir uma teoria do atrito dentro da teoria da inrcia. Ao con-siderarmos a carroa puxada pelo cavalo, encontramo-nos no meio de uma contradio entre teoria e observao, en-tre teoria e experimento, em suma, entre o pensamento 73 cientfico e o pensamento tcnico.
Desde que, com a inveno da roda-d'gua e, posterior-mente, da roda veicular, conseguimos romper a roda fatal do eterno retorno do mesmo, o mundo se tornou inerte e inanimado, e por isso ilusrio e repulsivo. Mas graas dia-ltica entre teoria e experimento podemos superar a iluso repulsiva (widerliche Tcke) do mundo inanimado e obri-g la a servir de base para um progresso que rola de modo ilimitado. A roda do progresso no pode avanar de for-ma automtica eternamente, j que forada a superar re-sistncias cegas e imotivadas do mundo inanimado, como por exemplo a gravidade terrestre e as irregularidades da superfcie. A roda do progresso necessita de um motor, e esse motor somos ns mesmos, nossa prpria vontade. Da o slogan da triunfante Revoluao Industrial: "Se depender de seu brao forte, as rodas param de se mover", ou enta.o:
"Somos os condutores de todas as rodas, o Deus vivo de um universo morto".
Mas essa situaao infelizmente no Vli durar muito. H a pouco tempo tornou-se claro que os atritos que detm a
roda do progresso podem ser superados de modo efetivo, e que o progresso comea ento de fato a rolar automatica-mente. Ele se toma um automvel. E assim qualquer mu-dana de direo da roda por parte da humanidade se torna desnecessria. O progresso comea a derrapar, como acon-tece com os carros que estio numa pista no gelo. E existe o perigo de que, em meio a um progresso que desliza sem atritos, a humanidade seja atropelada exatamente quando tenta pisar no freio. Uma situao que lembra aquela de ..
74 Edipo, que se rebela contra a roda do destino e arranca os prprios olhos. Talvez isso consiga expUcar o esforo atual no sentido de desconectar todas as rodas e de saltar deste mundo de rodas-para outro a ser aiuda--experhuemadn. O
---presente ensaio ttaduz..;_se-e111 unta-tentativa de olhar uaajs ---
uma vez para hs- autes de saltardo autoxuvel ena IIIIF . lk:.a:Uitos-- para capturar;. pela . ,
SOBREFORMASEFRMULAS
76 O E temo Oouvado seja Seu nome) formou o mundo a do caos, do Tohuwabohu. Os neutofisiologistas (ser que permaneam no anonimato) descobriram Seu e agora qualquer que se preze : capaz .delmlt
= :
. : : : ~
e indusive de fazer melhor do que me. o que paree: ~ :nte-_mtlitb-tlltll;
as101 riMas que o Deus Criadr havia do: ocntus .atrs
------
Como possvel isso? Deus, o Criador, usou ciclos, epi-ciclos ou elipses no primeiro dia da criao? Ou ser que no foi Deus, nosso Senhor, mas sim os senhores astrno-mos que estabeleceram essas formas? Ser que as formas no so divinas, mas sim humanas? No sero eternas no alm-mundo, mas plsticas e modelveis no nosso mundo? No sero ideias e ideais, mas frmulas e modelos? O difcil de digerir nesse assunto no o fato de destituirmos Deus para colocarmos os designers como criadores do mundo. No, o que realmente no se pode digerir que, se fosse 77 verdade que estivssemos ocupando o trono de Deus, os cus (e em geral todo aspecto da natureza) deveriam poder
ser formalizados do modo que quisssemos, e isso no se d assim. Por que os planetas descrevem rbitas circulares, epicclicas ou elpticas, e no quadradas ou triangulares? Por que que podemos formular as leis naturais de diver-sos modos, mas no do modo que queremos? Existe por acaso alguma coisa l fora que esteja preparada para engo-lir algumas de nossas frmulas, ainda que nos cuspa na face outras? Haver talvez uma "realidade" exterior que permi-ta ser informada e formulada por ns, mas que nos exija no entanto uma certa adequao a ela?
A pergunta difcil de ser digerida, uma vez que no se pode ser designer e criador do mundo e, ao mesmo tempo, estar submetido a ele. Felizmente (um "graas a Deus" no tem muito sentido aqui) descobrimos h pouco uma solu-o para essa aporia. Uma soluo que se retorce como a fita de Moebius. Ei-la: nosso sistema nervoso central (SNC) recebe de seu entorno (que, claro, inclui tambm nosso prprio corpo) estmulos codificados digitalmente. Esses
estmulos so processados por meio de mtodos eletro-magnticos e qumicos ainda no totalmente conhecidos e o sistema os converte em percepes, sentimentos, desejos e pensamentos. Percebemos o mundo, o sentimos e o dese-jamos conforme processado pelo SNC. Esse processo pr-programado no SNC. E est inscrito nele, dentro de nossa infonnao gentica. O mundo tem para ns as formas que esto inscritas na informao gentica desde o princpio da vida na Terra. Isso explica por que no podemos impor ao
78 mundo as formas que quisermos. O mundo s aceita aque-las formas que correspondem ao nosso programa de vida.
Estamos pregando no somente uma, mas uma srie de peas nesse programa vital. Temos de fato inventado mtodos e aparatos que funcionam de modo similar ao sis-tema nervoso, s que de maneira diferente. Podemos com-putar esses estmulos (partculas) que chegam por todos os lados de modo distinto ao do SNC. Somos capazes de criar percepes, sentimentos, desejos e pensamentos distintos, alternativos. Alm do mundo computado pelo SNC, pode-mos tambm viver em outros mundos. Podemos estar-a (dasein) de vrias maneiras distintas. E a palavra ''a" (da) inclusive pode significar vrias coisas. O que acabamos de dizer certamente terrvel, inclusive monstruoso, mas exis-tem tennos mais familiares para isso: cyberespao ou espao virtual, que so denominaes paliativas. E esses termos significam a seguinte receita: tome uma fonna, qualquer que seja, qualquer algoritmo articulvel numericamente. Introduza essa forma, por meio de um computador, em um plotter. Preencha tanto quanto possfvel essa forma (que se fez visfvel desse modo) com partlculas. E ento observe:
mundos surgiro. Cada um desses mundos to real quanto aquele do sistema nervoso central (pelo menos esse nosso SNC), desde que consiga preencher as formas to comple-tamente quanto o SNC.
Esse um belo caldeiro das bruxas: cozinhamos mun-dos com as formas que quisermos e o fazemos ao menos to bem como o fez o Criador no decorrer dos famosos seis dias. Somos os autnticos mestres-feiticeiros, os autnti-cos designers, e isso nos permite, agora que conseguimos superar Deus, jogar a questo da realidade sobre a mesa e 79 dizer, junto com Immanuel Kant: "real" tudo aquilo que computado em formas, de modo decente, eficaz e conscien-te; e "irreal" (onrico, ilusrio) aquilo que computado de modo desmazelado. Por exemplo, a imagem da mulher que amamos no de todo real porque
Top Related