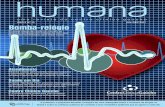Revista Polichinello Nº 14
-
Upload
heleine-fernandes -
Category
Documents
-
view
134 -
download
1
Transcript of Revista Polichinello Nº 14
-
1Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
1414
-
Esta edio dedicada memria deMrio Faustino dos Santos e Silva
H 50 anos nas profundezas.
...
que saber doque de mais vivoter nele havido
uma cartomante?
-
Nilson Oliveira
Vs que aqui entrai, abandonai toda esperana...Dante, Divina Comdia, Inferno.
As experincias que cortam esta edio da Polichinello enunciam uma erupo de foras, cujas linhas dobram-se numa confluencia entre estilos, formas, pulsaes, maneiras pelas quais a escrita efetua sua potncia criadora. Com efeito, a experiencia termina por dar lugar sua prpria pluralizao: trata-se no mais do universo literrio a literatura mas do plural que reune, em um conjunto heterogeneo *, experimentos da escrita. Uma pluralidade fundada no mais na igualdade e na desigualdade, nem na predominncia e na subordinao, tampouco na mutualidade recproca, mas na dissimetria e na irreversibilidade.J no se trata mais de cultivar alinhamentos identitrios ou geracionais, mas de inventar encontros animados por uma vontade de outramento, isto , encontros entre escritas que se atualizam no por semelhana, mas por diferentes linhas de inveno, numa experincia da multiplicidade na qual as foras vibram, efetivamente, numa intensa diferencialidade. Experimentos cujo comum a impossibilidade de cessar as foras que movem a escrita, sobretudo de aceitar a escrita como tmulo da literatura. Escrever (literatura) uma prtica indcil, vontade ingovernvel, selvagem. Escrever incessante, e, no entanto, o texto no avana deixando para trs de si lacunas, buracos, rasgos e outras solues de continuidade, mas as rupturas elas mesmas so rapidamente reinscritas (R.L). Escrever exige e, no entanto, recusa toda escritura, toda tipografia, todo livro. Escrever correr riscos: viver sem ser vivente, morrer sem morte. Escrever nos remete ao outro da experincia.Tal como nos remete os experimentos de Max Martins e Mario Faustino, acontecimentos que se reinventaram em formas no adestradas de criao na qual cada potica, cada singularidade inventa, para alm de si, maneiras de re-existir, portanto, maneiras de resistir, subvertendo o plano do estvel, martelando na direo de um pensamento movente, que institui na escrita a liberdade prpria de um pensamento selvagem, sempre emissor de (mais) um lance, de (mais) um combate.
ED
ITO
RIA
L
* LCB, 2011, 27
-
ISSN 21781230 | 14
NUCLEO EDITORIALNilson Oliveira
Daniel LinsAlberto Pucheu
Ney Ferraz PaivaAntnio Moura
Izabela LealNonato CardozoMarcilio Costa
Evandro Nascimento
DISTRIBUIOLumme
IMAGENSMarcilio Costa
REVISODayse Rabelo
PROJETO GRFICONonato Moreira
TIRAGENS500 Exemplares
CONTATO(91) 32784578
Belm | PA | Janeiro de 2013
-
7Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
ND
ICE
HERA, Max Martins 8 O ANIMAL SORRI, Max Martins 9 ESTA GUA QUE PASTA A GEOGRAFIA, Max
Martins 10 NO TREM, PELO DESERTO, Mrio Faustino 11 A DE ANIMAL, Gilles Deleuze & Claire Parnet
12 A OVELHA NEGRA & OUTRAS FBULAS, Augusto Monterroso 16 SABERES ANIMAIS, Maria
Esther Maciel 17 POEMAS, Annita Costa Malufe 19 SELVAGENS, Luiz Bras 21 A LAGARTIXA UM
XAM, Nonato Cardoso 22 PENSAMENTO SELVAGEM, PENSAMENTO DO OUTRO: O IMPOSSVEL
DILOGO COM MONTEZUMA, Maria Elisa Rodrigues Moreira 23 SELVAGEM, Solange Rebuzzi 27 O
CRNIO FALANTE, Conto Nupe 28 O INFANTE SELVAGEM: PEQUENO TRATADO SOBRE LINGUAGEM
E INFNCIA, Luciano Bedin da Costa & Larisa da Veiga Vieira Bandeira 29 DOIS FRAGMENTOS, Dalcidio
Jurandir 34 NOVAS REVELAES DO PRNCIPE DO FOGO, Marcelo Ariel 35 A MINHA LITERATURA
SELVAGEM, Paulo Nunes 38 NOITE ROMANA, Pier Paolo Pasolini 41 O NEGRO E AS CERCANIAS
DO NEGRO, Haroldo Maranho 42 20 FANTASIAS PARA ESCREVER, LER E CRITICAR O TEXTO 46 (DE
PREFERNCIA, SELVAGEM), Sandra Mara Corazza 46 LVI-STRAUSS, Marcia Tiburi 50 CONFIANA,
Suely Rolnik 52 DEITADO SOBRE O RIO, Evandro Nascimento 59 FAVOS, Arturo Gamero 61 HERA
DE MAX MARTINS, Paulo Vieira 62 COMO SE NASCE NUMA ILHA DESERTA?, Eduardo Pellejero 63
FBULA, Jos Kozer 67 ANOTAES PARA UMA FBULA, Afonso Henriques Neto 69 POEMAS, Contador
Borges 72 O POEMA COMO NORTE OU A DESESPERAO DO 74 HOMEM QUE NO EST NA
CIDADE, Andr Queiroz 74 DE GRAFIES INCISIONS, Joan Navarro 79 CAIO DAS PGINAS NOS TEUS
BRAOS, Heleine Fernandes 83 MORTE-RESSURREIO DE LADy LAZARUS, Ney Ferraz Paiva 86
ENTRE MUITOS, Wislawa Zsymbrska 87 WISLAWA. FEVEREIRO, 2012, Antnio Moura 88 O SACRIFCIO,
Giselda Leirner 89 ANNE OF AMy DEAD HEART?, Juliete Oliveira 94 E QUEM CONSIDERA ALGO DE
SBITO, Mario Arteca 95 QUELLO CHE TU VUOI, Claudio Oliveira 96 DO OUTRO LADO DA PAREDE
DO SONHO, Delfn Nicasio Prats 100 ATRAVESSANDO OS OLHOS DE UM MORTO, Marcilio Costa 102 DOS
SEGREDOS DE SER LNGUA ENCANTADA, Giselle Ribeiro 103 A ASCENSO DE LAURA, Jos Cardona-Lpez
107 2 POEMAS, e. e. cummings 108 BREVES NARRATIVAS, Henry Burnett 109 PEDRAS DESCALSAS, Jair
Cortez 111 LCIFER NO CU, COM DIAMANTES, Andria Carvalho 114 ESQUECIMENTO, Maxine Kumin 115
POEMAS, Hilde Domin 116 A BALADA DO JOVEM SIENKIEWICZ, Francisco dos Santos 117 HA!HABSBURGO
- UM RETORNO, Leonardo Gandolfi 118 POEMAS, Ronald Augusto 120 DO LIVRO (INDITO) GLADIS
MONOGATARI, Vctor Sosa 121 LE PETIT CHAPERON ROUGE DORME, Virna Teixeira 122 DO SONETARIO
MATTOSIANO, Glauco Mattoso 123 POEMA, Andreev Veiga 124 DEVELAR, Juan Arabia 125 LIVRO DE
ORAES, Daniel Faria 126 [LUA MBAR] [NONA SELEO], Ana Carmen Amorim Jara Casco 127 NO
PERGUNTES POR QUE TOCO O TEU ROSTO, Mar Becker 129 COMO NASCEM OS SEGREDOS, Roberta Tostes
Daniel 130 SyLVIA QUEIMA, Anna Apolinrio 131 AOS VENTOS, Vasco Cavalcante 132 SUSPENSO, Lara
Amaral 133 A POTICA DE MANOEL DE BARROS: DEVIR CRIANA, Silvana Ttora 134 O HOMEM QUE
MORAVA NO DCIMO NONO ANDAR, Roseana Nogueira 139 CONECTURAS, Milton Meira 140 LOST DOG,
Benoni Arajo 141 QUANDO PSICANLISE E LITERATURA CONVERSAM TTE--TTE 142 , Njla Assy 142
-
8A Sylvia e Benedito
Em verdes eras - fomos hera num muro cantochorado pelo vento que envolvia tudo o verde embora o verde s vezes de haver se ressentisse no olhar de quem alm a gente amava ave.
ramos e perdurvamos avos do ser estando em dia a carne para o pacto-pasto das razes, um rio-sim manando milhas de sonhos-ervas, gros de smen solto amanhecente - sol a sombra a relva.
E-se era inverno, o verde sido,um no-sim, um ecoainda assim se condiziano prprio corao dos que no leito amando
agora se desamam ou se desdizem h'era amor tecido contra um muro.
HERA | Max Martins
-
9Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
O ANIMAL SORRI | Max Martins
O animal sorri. Seus dentes so rochas e runaspor onde a noite sem memria descesua demncia.
Teu corpo (ainda leve) indelvel sombra sobraduma remota juventudeest de volta.Ningum te segue, e cegaa ave fere a tardete anuncias febres deste dia.Rios se desesperampedras agonizamse torturamse procuram.
(Virs jauladeste animal remanescente do fogo e do Dilvio? Atraioado oco ex-posto em praa pblica para os olhosdas crianas, dos fotgrafos? EU-COBERTO-DE-PELOS: virs me ver atrs das grades?)
-
10
ESTA GUA QUE PASTA A GEOGRAFIA | Max Martins
Esta gua que pasta a geografiade meu tmulodeu-meo leite dos infernos.Na emboscado do cioseu fogofustigou-me o fgadoe f-loestigma, lama. E a sina,do verbo corrompido fez o signo-frutocorrodoque ela enterrou e canta.
SEU COICE FOI INFINITO.
Max Martins (Belm, 1926-2009), poeta, autor, entre outros, de: Anti-Retrato (1960), H'Era (1971), O Risco Subscrito (1980), Caminho de Marahu (1983), Para ter Onde Ir (1992).
-
11
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
Mrio Faustino, O homem e sua hora e outros poemas. So Paulo: Companhia de Bolso, 2009, p.196.
NO TREM, PELO DESERTO | Mrio Faustino
As vozes friasAnulam toda chance de existncia.Jogam cartas terrveisBatem fotografias perigosasNo temem. Falam. Passam,Na chacina do raro ostentam sua misria.
Ningum veste de verde. Um sParece vivo, aberto e esse dorme.As aves lentas voam seus pressgiosE a brisa morna engendra flores durasNa secura dos cactos.
Algum pergunta: "Estamos perto?" E estamos longeE nem rastro de chuva. E nada podeSalvar a tarde.
(S se um milagre, um touroSurgisse dentre os trilhos para enfrentar a feraSe algo frtil enorme aqui brotasseSe liberto quem dorme se acordasse)
-
12
A DE ANIMAL | Gilles Deleuze & Claire Parnet
CP: Ento comeamos com A. A Animal. Poderamos considerar sua a frase de W. C. Fields: "Um homem que no gosta nem de crianas, nem de animais no pode ser totalmente ruim". Por enquanto, deixemos de lado as crianas, sei que voc no gosta muito de animais domsticos, e nem prefere, como Baudelaire ou Cocteau, os gatos aos cachorros. Em compensao, voc tem um bestirio, ao longo de sua obra, que bastante repugnante, ou seja, alm das feras, que so animais nobres, voc fala muito do carrapato, do piolho, de alguns pequenos animais como esses, repugnantes, e alm disso, que os animais lhe serviram muito desde O anti-dipo. Um conceito importante em sua obra o devir-animal. Qual , ento, sua relao com os animais?
GD: Os animais no so... O que voc disse sobre minha relao com os animais domsticos, no o animal domstico, domado, selvagem, o que me preocupa. O problema que os gatos, os cachorros, so animais familiares, familiais, e verdade que desses animais domados, domsticos, eu no gosto. Em compensao, gosto de animais domsticos no-familiares, no-familiais. Gosto, pois sou sensvel a algo neles. Aconteceu comigo o que acontece em muitas famlias. No tinha gato, nem cachorro. Um de meus filhos com Fanny trouxe, um dia, um gato que no era maior que sua mozinha. Ele o tinha encontrado, estvamos no campo, em um palheiro, no sei bem onde, e a partir desse momento fatal, sempre tive um gato em casa. O que me incomoda nesses bichos? Bem, no foi um calvrio, eu suporto, o que me incomoda...
no gosto dos roadores, um gato passa seu tempo se roando, roando em voc, no gosto disso. Um cachorro diferente, o que reprovo, fundamentalmente, no cachorro, que ele late. O latido me parece ser o grito mais estpido. E h muitos gritos na Natureza! H uma variedade de gritos, mas o latido , realmente, a vergonha do reino animal. Suporto, em compensao, suporto mais, se no durar muito, o grito, no sei como se diz, o uivo para a lua, um cachorro que uiva para a lua, eu suporto mais.
CP: O uivo para a morte.
GD: Para a morte, no sei, suporto mais que o latido. E, quando soube que cachorros e gatos fraudavam a previdncia social, minha antipatia aumentou. Ao mesmo tempo, o que digo bem bobo, porque as pessoas que gostam verdadeiramente de gatos e cachorros tm uma relao com eles que no humana. Por exemplo, as crianas, tm uma relao com eles que no humana, que uma espcie de relao infantil ou... o importante ter uma relao animal com o animal. O que ter uma relao animal com o animal? No falar com ele... Em todo caso, o que no suporto a relao humana com o animal. Sei o que digo porque moro em uma rua um pouco deserta e as pessoas levam seus cachorros para passear. O que ouo de minha janela espantoso. espantoso como as pessoas falam com seus bichos. Isso inclui a prpria psicanlise. A psicanlise est to fixada nos animais familiares ou familiais, nos animais da famlia, que qualquer tema animal... em um sonho, por
-
13
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
exemplo, interpretado pela psicanlise como uma imagem do pai, da me ou do filho, ou seja, o animal como membro da famlia. Acho isso odioso, no suporto. Devemos pensar em duas obras primas de Douanier Rousseau: o cachorro na carrocinha que realmente o av, o av em estado puro, e depois o cavalo de guerra, que um bicho de verdade. A questo : que relao voc tem com o animal? Se voc tem uma relao animal com o animal... Mas geralmente as pessoas que gostam dos animais no tm uma relao humana com eles, mas uma relao animal. Isso muito bonito, mesmo os caadores, e no gosto de caadores, enfim, mesmo eles tm uma relao surpreendente com o animal. Acho que voc me perguntou, tambm, sobre outros animais. verdade que sou fascinado por bichos como as aranhas, os carrapatos, os piolhos. to importante quanto os cachorros e gatos. E tambm uma relao com animais, algum que tem carrapatos, piolhos. O que quer dizer isto? So relaes bem ativas com os animais. O que me fascina no animal? Meu dio por certos animais nutrido por meu fascnio por muitos animais. Se tento me dizer, vagamente, o que me toca em um animal, a primeira coisa que todo animal tem um mundo. curioso, pois muita gente, muitos humanos no tm mundo. Vivem a vida de todo mundo, ou seja, de qualquer um, de qualquer coisa, os animais tm mundos. Um mundo animal, s vezes, extraordinariamente restrito e isso que emociona. Os animais reagem a muito pouca coisa. H toda espcie de coisas...
Essa histria, esse primeiro trao do animal a existncia de mundos animais especficos, particulares, e talvez seja a pobreza desses mundos, a reduo, o carter reduzido desses mundos que me impressiona muito. Por exemplo, falamos, h pouco, de animais como o carrapato. O carrapato responde ou reage a trs coisas, trs excitantes, um s ponto, em uma natureza imensa, trs excitantes, um ponto, s. Ele tende para a extremidade de um galho de rvore, atrado pela luz, ele pode passar anos, no alto desse galho, sem comer, sem nada, completamente amorfo, ele espera que um ruminante, um herbvoro, um bicho passe sob o galho, e ento ele se deixa cair, a uma espcie de excitante olfativo. O
carrapato sente o cheiro do bicho que passa sob o galho, este o segundo excitante, luz, e depois odor, e ento, quando ele cai nas costas do pobre bicho, ele procura a regio com menos plos, um excitante ttil, e se mete sob a pele. Ao resto, se se pode dizer, ele no d a mnima. Em uma natureza formigante, ele extrai, seleciona trs coisas.
CP: este seu sonho de vida? isso que lhe interessa nos animais?
GD: isso que faz um mundo.
CP: Da sua relao animal-escrita. O escritor, para voc, , tambm, algum que tem um mundo?
GD: No sei, porque h outros aspectos, no basta ter um mundo para ser um animal. O que me fascina completamente so as questes de territrio e acho que Flix e eu criamos um conceito que se pode dizer que filosfico, com a idia de territrio. Os animais de territrio, h animais sem territrio, mas os animais de territrio so prodigiosos, porque constituir um territrio, para mim, quase o nascimento da arte. Quando vemos como um animal marca seu territrio, todo mundo sabe, todo mundo invoca sempre... as histrias de glndulas anais, de urina, com as quais eles marcam as fronteiras de seu territrio. O que intervm na marcao , tambm, uma srie de posturas, por exemplo, se abaixar, se levantar. Uma srie de cores, os macacos, por exemplo, as cores das ndegas dos macacos, que eles manifestam na fronteira do territrio... Cor, canto, postura, so as trs determinaes da arte, quero dizer, a cor, as linhas, as posturas animais so, s vezes, verdadeiras linhas. Cor, linha, canto. a arte em estado puro. E, ento, eu me digo, quando eles saem de seu territrio ou quando voltam para ele, seu comportamento... O territrio o domnio do ter. curioso que seja no ter, isto , minhas propriedades, minhas propriedades maneira de Beckett ou de Michaux. O territrio so as propriedades do animal, e sair do territrio se aventurar. H bichos que reconhecem seu cnjuge, o reconhecem no territrio, mas no fora dele.
-
14
CP: Quais?
GD: uma maravilha. No sei mais que pssaro, tem de acreditar em mim. E ento, com Flix, saio do animal, coloco, de imediato, um problema filosfico, porque... misturamos um pouco de tudo no abecedrio. Digo para mim, criticam os filsofos por criarem palavras brbaras, mas eu, ponha-se no meu lugar, por determinadas razes, fao questo de refletir sobre essa noo de territrio. E o territrio s vale em relao a um movimento atravs do qual se sai dele. preciso reunir isso. Preciso de uma palavra, aparentemente brbara. Ento, Flix e eu construmos um conceito de que gosto muito, o de desterritorializao. Sobre isso nos dizem: uma palavra dura, e o que quer dizer, qual a necessidade disso? Aqui, um conceito filosfico s pode ser designado por uma palavra que ainda no existe. Mesmo se se descobre, depois, um equivalente em outras lnguas. Por exemplo, depois percebi que em Melville, sempre aparecia a palavra: outlandish, e outlandish, pronuncio mal, voc corrige, outlandish , exatamente, o desterritorializado. Palavra por palavra. Penso que, para a filosofia, antes de voltar aos animais, para a filosofia surpreendente. Precisamos, s vezes, inventar uma palavra brbara para dar conta de uma noo com pretenso nova. A noo com pretenso nova que no h territrio sem um vetor de sada do territrio e no h sada do territrio, ou seja, desterritorializao, sem, ao mesmo tempo, um esforo para se reterritorializar em outra parte. Tudo isso acontece nos animais. isso que me fascina, todo o domnio dos signos. Os animais emitem signos, no param de emitir signos, produzem signos no duplo sentido: reagem a signos, por exemplo, uma aranha: tudo o que toca sua tela, ela reage a qualquer coisa, ela reage a signos. E eles produzem signos, por exemplo, os famosos signos... Isso um signo de lobo? um lobo ou outra coisa? Admiro muito quem sabe reconhecer, como os verdadeiros caadores, no os de sociedades de caa, mas os que sabem reconhecer o animal que passou por ali, a eles so animais, tm, com o animal, uma relao animal. isso ter uma relao animal com o animal. formidvel.
CP: essa emisso de signos, essa recepo de signos que aproxima o animal da escrita e do escritor?
GD: . Se me perguntassem o que um animal, eu responderia: o ser espreita, um ser, fundamentalmente, espreita.
CP: Como o escritor?
GD: O escritor est espreita, o filsofo est espreita. evidente que estamos espreita. O animal ... observe as orelhas de um animal, ele no faz nada sem estar espreita, nunca est tranqilo.
Ele come, deve vigiar se no h algum atrs dele, se acontece algo atrs dele, a seu lado. terrvel essa existncia espreita. Voc faz a aproximao entre o escritor e o animal.
CP: Voc a fez antes de mim.
GD: verdade, enfim... Seria preciso dizer que, no limite, um escritor escreve para os leitores, ou seja, "para uso de", "dirigido a". Um escritor escreve "para uso dos leitores". Mas o escritor tambm escreve pelos no-leitores, ou seja, "no lugar de" e no "para uso de". Escreve-se pois "para uso de" e "no lugar de". Artaud escreveu pginas que todo mundo conhece. "Escrevo pelos analfabetos, pelos idiotas". Faulkner escreve pelos idiotas. Ou seja, no para os idiotas, os analfabetos, para que os idiotas, os analfabetos o leiam, mas no lugar dos analfabetos, dos idiotas. "Escrevo no lugar dos selvagens, escrevo no lugar dos bichos". O que isso quer dizer? Por que se diz uma coisa dessas? "Escrevo no lugar dos analfabetos, dos idiotas, dos bichos". isso que se faz, literalmente, quando se escreve. Quando se escreve, no se trata de histria privada. So realmente uns imbecis. a abominao, a mediocridade literria de todos as pocas, mas, em particular, atualmente, que faz com que se acredite que para fazer um romance, basta uma historinha privada, sua historinha privada, sua av que morreu de cncer, sua histria de amor, e ento se faz um romance. uma vergonha dizer coisas desse tipo. Escrever no assunto privado
-
15
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
de algum. se lanar, realmente, em uma histria universal e seja o romance ou a filosofia, e o que isso quer dizer...
CP: escrever "para" e "pelo", ou seja, "para uso de" e "no lugar de". o que disse em Mil plats, sobre Chandos e Hofmannsthal: "O escritor um bruxo, pois vive o animal como a nica populao frente qual responsvel".
GD: isso. por uma razo simples, acredito que seja bem simples. No uma declarao literria a que voc leu de Hofmannsthal. outra coisa. Escrever , necessariamente, forar a linguagem, a sintaxe, porque a linguagem a sintaxe, forar a sintaxe at um certo limite, limite que se pode exprimir de vrias maneiras. tanto o limite que separa a linguagem do silncio, quanto o limite que separa a linguagem da msica, que separa a linguagem de algo que seria... o piar, o piar doloroso.
CP: Mas de jeito algum o latido?
GD: No, o latido no. E, quem sabe, poderia haver um escritor que conseguisse. O piar doloroso, todos dizem, bem, sim, Kafka. Kafka A metamorfose, o gerente que grita: "Ouviram, parece um animal". Piar doloroso de Gregor ou o povo dos camundongos, Kafka escreveu pelo povo dos camundongos, pelo povo dos ratos que
morrem. No so os homens que sabem morrer, so os bichos, e os homens, quando morrem, morrem como bichos. A voltamos ao gato e, com muito respeito, tive, entre os vrios gatos que se sucederam aqui, um gatinho que morreu logo, ou seja, vi o que muita gente tambm viu, como um bicho procura um canto para morrer. H um territrio para a morte tambm, h uma procura do territrio da morte, onde se pode morrer. E esse gatinho que tentava se enfiar em um canto, como se para ele fosse o lugar certo para morrer. Nesse sentido, se o escritor algum que fora a linguagem at um limite, limite que separa a linguagem da animalidade, do grito, do canto, deve-se ento dizer que o escritor responsvel pelos animais que morrem, e ser responsvel pelos animais que morrem, responder por eles... escrever no para eles, no vou escrever para meu gato, meu cachorro. Mas escrever no lugar dos animais que morrem levar a linguagem a esse limite. No h literatura que no leve a linguagem a esse limite que separa o homem do animal. Deve-se estar nesse limite. Mesmo quando se faz filosofia. Fica-se no limite que separa o pensamento do no-pensamento. Deve-se estar sempre no limite que o separa da animalidade, mas de modo que no se fique separado dela. H uma inumanidade prpria ao corpo humano, e ao esprito humano, h relaes animais com o animal. Seria bom se terminssemos com o A.
ABECEDRIO de Gilles Deleuze: Srie de entrevistas - feita por Claire Parnet - filmada nos anos 1988-1989.
-
16
A OVELHA NEGRA & OUTRAS FBULAS | Augusto Monterroso
Traduo: Nonato Cardoso
A Ovelha NegraEm um pas remoto, existiu h muitos anos uma Ovelha negra. Foi fuzilada.Um sculo depois, o rebanho arrependido lhe ergueu uma esttua equestre que ficou muito bem no parque.Assim, no futuro, cada vez que apareciam ovelhas negras eram rapidamente fuziladas para que as futuras geraes de ovelhas comuns e normais pudessem tambm exercitar-se na arte da escultura.
O Burro e a Flauta
Jogada no campo por um longo tempo havia uma Flauta que nada tocava, at que um dia um Burro que passeava por ali bufou forte sobre ela fazendo-a produzir o som mais doce de sua vida, ou seja, da vida do Burro e da Flauta.Incapazes de compreender o que havia acontecido, porque a racionalidade no era o seu forte e ambos acreditavam na racionalidade, se separaram apressados, envergonhados do melhor que um e o outro haviam feito durante sua triste existncia.
O Fabulista e Seus Crticos
Na selva vivia h muito tempo um Fabulista cujos crticos se reuniram um dia e o visitaram para queixar-se dele (fingindo alegremente que no falavam por eles, mas pelos outros), sobre a base de que suas fbulas no nasciam de boas intenes, mas do dio.Como ele concordou, eles se retiraram s pressas, como a vez que a Cigarra se decidiu e disse a Formiga tudo o que tinha a dizer.
Augusto Monterroso, nasceu em Honduras, 1921. Em 1944 exila-se no Mxico, pas onde publica Obras Completas (y otros cuentos). Considerado um dos mestres das narrativas breves, escreveu o famoso conto Dinossauro, considerado o mais curto da histria da literatura. Autor das obras Oveja Negra y dems fbulas, Movimiento Perpetuo e Viaje al centro de la fbula.
-
17
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
SABERES ANIMAIS | Maria Esther Maciel
Mas at que ponto se pode falar de uma subjetividade animal? A percepo do mundo pelo olhar, a capacidade de sofrer e de construir seu prprio espao vital seriam ndices bastantes de que os animais, alm de seres complexos, so tambm capazes de sentir, criar, se comunicar e at mesmo de pensar?
Montaigne, em Apologia de Raymond Sebond, j chamava a ateno para a complexidade animal, ao mostrar que os bichos, dotados de variadas faculdades, fazem coisas que ultrapassam de muito aquilo de que somos capazes, coisas que no conseguimos imitar e que nossa imaginao no nos permite sequer conceber. Interessante que tais consideraes s muito recentemente encontraram amparo cientfico graas, sobretudo, s descobertas da etologia contempornea. Dominique Lestel, em As origens animais da cultura, aponta a extraordinria diversidade de comportamentos e competncias dos bichos, que vo da habilidade esttica at formas elaboradas de comunicao. No que se refere habilidade das aves na construo de ninhos, por exemplo, o estudioso lembra que para faz-los, as aves tecem, colam, sobrepem, entrecruzam, empilham, escavam, enlaam, enrolam, assentam, cosem e atapetam, valendo-se no apenas de folhas e ramos, como tambm de musgo, erva, terra, excrementos, saliva, plos, filamentos de teias de aranha, fibras de algodo, pedaos de l, ramos espinhosos e sementes, cuidadosamente separados e combinados. J no que tange comunicao, ele explica que uma ave canora dos pntanos europeus revela-se capaz de imitar setenta e oito outras espcies de aves (108), que a vocalizao de certos animais apresenta distines individuais ou regionais, e que os gritos de um sagi podem obedecer a uma semntica bastante
precisa. Para no mencionar o rico repertrio de silvos dos golfinhos, que inclui alguns capazes de caracterizar o indivduo que os produz, como se fosse uma espcie de assinatura capaz de declinar a identidade do golfinho do grupo. Ou as peculiaridades do canto das baleias, visto que elas empregam ritmos musicais e seqncias emocionais, utilizando frases cujo comprimento se aproxima das frases humanas.
Giorgio Agamben, na descrio que faz no ensaio O fim do pensamentode uma paisagem cheia de inauditas vozes animais (silvos, trilos, chilros, assobios, cochichos, cicios, etc.), diz que, enquanto cada animal tem seu som, nascido imediatamente de si, ns (os humanos) os nicos sem voz no coro infinito das vozes animais provamos do falar, do pensar. Colocando em contraponto voz e fala, phon e logos, por considerar que o pensamento a pendncia da voz na linguagem, ele lana uma frase quase-verso: Em seu trilo, claro: o grilo no pensa (56). Por vias oblquas, o filsofo confirma com tal imagem a j referida assertiva heideggeriana de que o animal desprovido de linguagem e, portanto, pobre de mundo, situando-se fora do ser, numa zona de no-conhecimento.
Porm, diante dos estudos etolgicos contemporneos, quem garante que os animais esto impedidos de pensar, ainda que de uma forma muito diferente da nossa, e ter uma voz que se inscreve na linguagem? Estar, como indaga Lestel, a nossa racionalidade suficientemente desenvolvida para explicar uma racionalidade que lhe estranha, caso esta realmente exista?
Emblemtica, neste contexto, a clebre frase de Wittgenstein: se o leo pudesse falar, ns no o
-
18
entenderamos variao do dizer de Ovdio, segundo o qual, se o animal falasse, nada diria. Isso porque, como o filsofo sugere, a lgica que nortearia essa fala seria radicalmente outra e, certamente, nos despertaria para o conhecimento imediato de nossa prpria ignorncia. Do que se pode depreender que a linguagem no suficiente para responder a questo da diferena entre humano e no-humano. Ao contrrio, como afirma Wolfe, ela mantm a questo viva e aberta.
Vale, neste contexto, evocar um divertido poema de Jacques Roubaud, no qual o autor de Os animais de todo mundo parece brincar com a frase de Wittgenstein, ao dar voz a um porco falante que diz, entre outras coisas:
Quando falo, disse o porco, eu gosto de dizer porqarias: graxa goela gripe grunhido paspalho pax luxao resmungo munheca migalho camelo chuchu brejo chiqueiro
Roubaud, nesse poema organizado com palavras sem aparente conexo umas com as outras, mas plenas de sonoridade e humor, esvazia a fala de seu porco da sintaxe que se espera de um dizer inteligvel. No jogo da linguagem, o porco encena uma lgica que, embora estando a servio de vocbulos identificveis (na verdade, palavras porcas, contaminadas pela carga semntica que o senso comum atribuiu existncia suna), no se confina inteiramente nos limites do entendimento imediato e previsvel. V-se que o saber que o porco detm sobre si mesmo se manifesta atravs de um eu desajeitado dentro de uma lngua que no lhe pertence. O desafio que essa brincadeira representa para o leitor se repete em outros momentos do livro e se radicaliza nas ltimas pginas, atravs do poema
O asno, cuja autoria atribuda ao prprio animal. um soneto feito totalmente de zurros, em que o asno fala no registro onomatopico que imaginamos ser o dele. Ao contrrio de Um boi v homens, de Drummond, o poema encena uma voz animal sem palavras, mas que tambm no passa de um exerccio de criatividade do poeta que o cria. Ou seja, no registro simblico, o animal s possvel de ser capturado enquanto um it. Sua subjetividade, ou o que quer que seja que chamemos de subjetividade animal, no se inscreve na linguagem humana.
Assim, no esforo de sondar pelos poderes da imaginao a subjetividade desse completamente outro que o animal, e estabelecer com ela uma relao de cumplicidade ou de devir, cada um dos escritores mencionados constri o seu bestirio particular. Sejam as feras enjauladas nos zoolgicos do mundo, sejam os bichos domsticos, as espcies em extino, os animais que nos alimentam ou os que fomentam as experincias acadmicas no campo da biologia e da gentica, todos ao entrarem na esfera do potico acabam por nos ensinar muito mais do que os escritores sabem sobre eles. Abrem, dessa forma, um campo frtil para os escritores deste novo milnio que, agora, tm a tarefa de repensar a questo dos animais sob o prisma da lamentvel situao de barbrie do mundo. Cabe, cada vez mais, aos zooescritores do presente assumirem a responsabilidade tica e esttica de escrever sob o impacto da certeza de que vivemos hoje num tempo em que as espcies entraram em estado de irremedivel extino, tempo em que uma reflexo incisiva sobre o as prticas de crueldade contra os animais torna-se cada vez mais necessria e urgente no mundo contemporneo. O que no garante necessariamente que tal literatura possa, algum dia, fechar os matadouros.
Maria Esther Maciel, nasceu em Patos de Minas, 1963. Professora de Teoria Literria na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Poeta e crtica literria, publicou: Dos Haveres do Corpo (poesia, 1985); As vertigens da Lucidez: Poesia e Crtica em Octavio Paz (ensaio, 1995), A Lio do Fogo (ensaio, 1998), Triz (poesia, 1998),Vo Transverso (ensaio, 1999), A memria das coisas (ensaio, 2004) e O Livro de Zenbia (prosa potica, 2004).
-
19
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
POEMAS |Annita Costa Malufe
o mundo comea a funcionar soprimeiro os nibus que se intensificam e depois os passosno andar de cima o chuveiro a reforma os gatos as buzinas o mundo comea cedo olho pela terceira vez o relgio ao lado tudo comea muito cedo tudo comea e um dia termina
o que eles dizem eles te enganam elescostumavam dizer o avesso de umafrase e depois romp-la pelo meiovoc acreditou era umpacto foi isto um pacto muito bem feito
a voz de uma adolescente rompiaa vedao da janela anti-rudos mas tudoera incompreensvel
faz tempo simque no te escrevo
tudo incompreensvel passosno escuro do corredor longo corredor de hospital madrugadaquartos desativados a escada degranito pedra de cemitrio como no poema de Baudelaire que fala devagas ou vagar entre lpides de pessoasdesconhecidas descer as escadassem fazer barulho eu vim apenascumprir minha parte isto tudo temuma atmosfera azul-gua as prateleirasno cho eu no pude te chamar maiscedo no antes de verificar as portas a resistncia dos materiais no antesde me assegurar eram anos e anos semresposta nem uma nica vez estive aqui prometo sair e tudo ficasem resposta ou continuao prometosair sem explicar
no esta a voz que ouo preciso conseguiralcanar o volume
e depois a vida comezinha a vidinha de todo dia pegar
-
20
o nibus naquele horrio caminharat o servio dizer bom diamesmo sem querer ter semprea hora de voltar para casa voltarpara casa sem querer os fins de semana a repetio a repetio tudo poderia mudar de um instante para o outro mas logosabemos que iluso um rpidolampejo um copo a mais antes de dormir depois tudo recomeanada muito mais adiante nada muitodiferente de hoje e sempre parafrente o pior ou o normal o muitopouco o comum a semana que vem os fins de semana a refeio a disciplina a vidinha o pagamento a filha dele tinha o mesmo nome o filho era parecido a tia nunca mais foi a mesma depois de
faz tempo simque no te escrevo
Annita Costa Malufe, nasceu em So Paulo, 1975. Autora de Poticas da imanncia: Ana Cristina Cesar e Marcos Siscar (7Letras/Fapesp, 2011) e Quando no estou por perto (7Letras, 2012).
no quero ouvi-los falar meafasto o corpo impulsiona mais velocidade e imprime um rudo internomuito barulho no quero ouvi-los a rua larga os problemasso todos refeitos os conflitoscotidianos ela comprou um tniss para caminhar ela parou na esquinapor causa dos calos no queroouvi-los me afasto o quanto posso so conflitos cotidianos avenda do apartamento a frequncia dos exerccios semanais a cara que ela fez ao chegar em casaa bisbilhotice da vida alheia a rua larga imprimo um rudo interno e sempreas conversas recomeam
-
21
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
SELVAGENS | Luiz Bras
Somos jovens. Somos voluntrios.Estamos numa sala branca com uma cama no centro.Estamos nus, deitados na cama branca da sala branca.O chefe da equipe de engenheiros pede que eu beije minha namorada.Eu sinto minha lngua tocando a dela. Ento comeo a sentir minha lngua tocando minha prpria lngua. engraado.O chefe da equipe de engenheiros pede que faamos sexo.Eu comeo abraando minha namorada. como se eu abraasse outra pessoa e ao mesmo tempo me abraasse. como se eu penetrasse outra pessoa e ao mesmo tempo me penetrasse.Eu gozo.Minha namorada goza comigo. O meu gozo tambm o seu gozo.No dia seguinte a sala branca est vazia, tiraram a cama branca.Eu e minha namorada temos companhia: dois outros casais. Todos nus.Somos jovens. Somos voluntrios.A equipe de engenheiros traz uma mesa e seis cadeiras.Passamos a tarde jogando cartas.Jogo inslito. Meus olhos veem minhas cartas e as cartas dos meus colegas de experincia. Eu vejo tudo pelos meus olhos e pelos olhos dos outros e os outros veem tudo pelos prprios olhos e pelos olhos dos colegas de experincia.No dia seguinte no encontramos o engenheiro-chefe nem sua equipe.O prdio est branco e vazio.Foram embora e levaram com eles todo o equipamento branco.Menos os seis implantes neurolgicos: um em cada um de ns.No h gua nem comida. As portas e as janelas foram lacradas.Sede. Fome.No dia seguinte um de ns urina num copinho de plstico e bebe a prpria urina.Sinto a boca cheia. Todos ns sentimos a boca cheia. Engolimos. No to ruim quanto parece.No dia seguinte minha namorada morde meu antebrao. Eu sinto a dor da mordida e a sensao de estar mordendo. Todos os seis sentimos a mesma coisa.Minha namorada no consegue parar de morder e ser mordida.Eu soco seu queixo e recebo na hora meu prprio soco.Sinto meus dedos tentando abrir meu couro cabeludo. No so meus dedos, no realmente meu couro cabeludo. Um de ns, muito desesperado, est tentando tirar o prprio implante.Um de ns chora e todos ns choramos.Somos jovens. Somos voluntrios.Um de ns encontra uma faca numa gaveta qualquer.Sinto a lmina penetrar meu abdome. Todos os seis sentimos a mesma coisa. Somos o assassino e a vtima.O vermelho tinge o branco, o branco tinge minhas retinas, nossas retinas, eu perco a conscincia, todos ns perdemos a conscincia.No dia seguinte chegam novos voluntrios, todos jovens.
Luiz Bras, nasceu em Cobra Norato-MS, 1968. Doutor em Letras pela USP e sempre morou no terceiro planeta do sistema solar. de leo e, no horscopo chins, cavalo. Na infncia ouvia vozes misteriosas que lhe contavam histrias secretas. Adora filmes de animao, histrias em quadrinhos e gatos. Com os felinos aprendeu a acreditar em telepatia e universos paralelos. J publicou diversos livros, entre eles a coletnea de contos Paraso lquido, a coletnea de crnicas Muitas peles, os romances juvenis Sonho, sombras e super-heris e Babel Hotel e, em parceria com Tereza yamashita, os infantis A menina vermelha, A ltima guerra e Dias incrveis. Mantm uma pgina mensal no jornal Rascunho, de Curitiba, intitulada Rudo Branco. Tambm mantm o blogue Cobra Norato: http://luizbras.wordpress.com.
-
22
A LAGARTIXA UM XAM | Nonato Cardoso
Por esta estrada fui eu levado,Por este caminho os sensatos animais me transportaram.Parmnides
Uma lagartixa, dessas que no so negras, nem brancas, que parecem um eterno descamar, caiu em um lago. Completamente imvel, como se o lago fosse um piso de vidro flutuante, a lagartixa deslizou, inclume, at a margem. O mesmo aconteceu com umas formigas, que ao contrrio da lagartixa, se debateram, afundaram e pereceram.
Uma artista da seduo inveja as lagartixas, pois essas copulam at na parede lisa e no teto frio, nicos lugares da alcova que a amante ainda no conseguiu exercitar as lies do Kama Sutra.
Uma lenda esquecida por squilo nos d conta que Prometeu, castigado por Zeus a ter o fgado todos os dias devorado por uma guia, para se livrar da tortura alimentava a ave com uma cauda de lagartixa, que todos os dias se regenerava. Em Antenas, na regio do Kerameikos, foi erguido um santurio em honra a Prometeu, onde chamava a ateno o excesso de lagartixas, no se sabe se elas ali habitavam para reverenciar a lagartixa prometeica ou apenas se aqueciam prximas as inmeras tochas que decoravam o local.
Nonato Cardoso, autor do livro O Estrangeiro e outros Andarilhos, prmio IAP de Literatura 2012. Belm-PA.
-
23
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
PENSAMENTO SELVAGEM, PENSAMENTO DO OUTRO: O IMPOSSVEL DILOGO COM MONTEZUMA | Maria Elisa Rodrigues Moreira
A relao com o outro e sua selvageria inscreve suas marcas no texto literrio de formas variadas: uma delas diz da dominao cultural, da imposio que se deseja sobre esse selvagem, figura que deve ser eliminada por sua diversidade. nesse sentido que nos propomos a pensar o conto Montezuma, de Italo Calvino, no qual a destruio dos astecas mediante seu contato com os espanhis, que descobriam as terras americanas, abordada ficcionalmente por meio de uma entrevista imaginria com o imperador, na qual se apresenta o pensamento selvagem deste e uma interessante reflexo sobre a violncia que pode marcar o contato entre os diversos.Montezuma uma das entrevistas que compem o projeto Dilogos histricos, livro que Calvino pretendia publicar e que no chegou a ser concludo, o qual consiste em uma srie de entrevistas impossveis em razo de seu anacronismo (e no s dele, como procuraremos apontar ao longo deste texto). Desse possvel livro foram escritos apenas trs textos: O homem de Neandertal e Montezuma, ambos produzidos em 1974 para uma srie radiofnica da Radiotelevisione Italiana (RAI), e publicados em 1975 no livro Le interviste impossibili; e Henry Ford, escrito em 1982 para a TV (mas nunca gravado), publicado em 1993 na compilao Prima Che tu dica pronto (MILANINI, 2004b).Neste dilogo, um personagem em primeira pessoa eu conversa com Montezuma num tempo indefinido acerca do contato entre este e Hernn Corts e sobre as consequncias
desse encontro para os mexicanos, para os europeus, para a histria da humanidade da decorrente. Toda a conversa marcada por uma intransponvel diferena cultural, que assinala os lugares de onde falam um e outro personagem, e que cria entre eles um abismo: o outro em questo to estrangeiro que quase se duvida de que sejam integrantes de uma mesma espcie (TODOROV, 1991). A prpria situao narrada a descoberta dos americanos pelos europeus, contexto no qual se inserem as personagens de Montezuma e Corts exemplar para que se pense tanto no encontro com uma alteridade radical quanto na violncia extrema que pode advir desse contato, colocando em perspectiva os prprios termos selvagem e selvageria. Em seu A conquista da Amrica, cujo subttulo justamente A questo do outro, Tzvetan Todorov assim justifica ter escolhido essa histria como ponto de partida para sua reflexo sobre a descoberta que o eu faz do outro:
[...] a descoberta da Amrica, ou melhor, a dos americanos, sem dvida o encontro mais surpreendente de nossa histria. Na descoberta dos outros continentes e dos outros homens no existe, realmente, esse sentimento radical de estranheza. [...] O encontro nunca mais atingir tal intensidade, se que esta a palavra adequada. O sculo XVI veria perpetrar-se o maior genocdio da histria da humanidade (TODOROV, 1991, p. 4-6).
justamente esse encontro que se narra no conto calviniano, o qual procurar tanto dar voz
-
24
queles outros (selvagens?) representados por Montezuma que foram destrudos e destitudos de sua cultura de forma extremamente violenta (selvageria?) quanto coloc-los em dilogo com o eu descobridor, o europeu encarnado no entrevistador. Num movimento arqueolgico-etnogrfico, Calvino procura visitar o passado e abrir espaos para as possibilidades ficcionais de identificao de uma voz qual o acesso direto impossvel, fazendo desse encontro improvvel espao para o selvagem pensamento do outro. Esse encontro marca-se ainda, incisivamente, pela escolha do dilogo como a forma do conto, aspecto em relao ao qual retomamos tambm Todorov: o contato entre o eu e o outro sempre relacional, seja numa perspectiva de aproximao ou de afastamento, e s assim pode converter-se em encontro efetivo, apenas como relao pode se estabelecer: Mas cada um dos outros um eu tambm, sujeito como eu. Somente meu ponto de vista, segundo o qual todos esto l e s eu estou aqui, pode realmente separ-los e distingui-los de mim (TODOROV, 1991, p. 3). A perspectiva dialgica de Calvino, entretanto, em lugar de aparecer como forma de aplainar a diferena e promover um contato consensual ainda que ficcional e a posteriori entre o eu e o outro, demonstra justamente o contrrio: que a diferena se perpetua, mesmo aps o decurso de um perodo to longo. Continua-se, assim, a se repetir esse encontro de alteridades, ainda que agora o outro emudecido encontre no espao narrativo um caminho que possibilita que sua voz ecoe com maior facilidade, e diga inclusive da violncia que sobre ela incidiu, no apenas aquela de carter blico mas, principalmente, a de tipo simblico. A conversa comea justamente com o entrevistador informando uma dvida que o assola: ele no sabe como se dirigir ao entrevistado, no consegue encontrar na linguagem a forma adequada para transpor a diferena histrica, cultural, geogrfica e lingustica existente entre ambos, no encontra modos para nomear o que lhe to distinto: No sei como vos chamar, sou obrigado a recorrer a termos que s em parte transmitem as atribuies de vosso cargo, apelativos que na minha lngua de hoje
perderam muito de sua autoridade, soam como ecos de poderes desaparecidos (CALVINO, 2001a, p. 177), diz o entrevistador. A resposta que o entrevistador recebe chega desconexa, destoando da questo apresentada, parecendo no se encaixar ao roteiro daquele dilogo:
O fim... O dia rola para o poente... O vero apodrece num outono barrento. Assim cada dia... cada vero... Nada garante que voltaro a cada vez. Por isso o homem deve cair nas boas graas dos deuses. Para que o sol e as estrelas continuem a girar sobre os campos de milho... mais um dia... mais um ano... (CALVINO, 2001a, p. 177-178).
J nesse momento ficam claros os lugares histricos, culturais e simblicos distintos que se apresentam nessa conversa, de onde falam o eu e o outro que ali tentam se colocar em relao. Mas essa relao s pode se constituir no esteio da relao histrica j estabelecida, marcada pela conquista, pela violncia, pela selvageria que de algum modo os conectou e cujas marcas ressoam nessa conversa impossvel, assombrada e assombrosa, que paira sobre a histria moderna ocidental.Falando do lugar do conquistador, o entrevistador replica a viso de que Montezuma havia enxergado em Corts um de seus deuses e de que acabara, com isso, cedendo a ele muito mais do que poderia. Tu tambm falas como se estivesses lendo um livro j escrito (CALVINO, 2001a, p. 183), diz Montezuma a seu interlocutor, que o questiona tendo como referencial a histria europeia da colonizao mexicana. E realmente acreditastes que o deus Quetzacoatl estivesse desembarcando frente dos conquistadores espanhis, reconhecestes a Serpente Emplumada sob o elmo de ferro e a barba preta de Hernn Corts?, perguntara o entrevistador. Entretanto, a cada colocao do entrevistador Montezuma responde com uma posio outra, revela um pensamento diferenciado, apresenta uma viso distinta daquela histria: Chega... Essa histria foi contada demasiadas vezes, afirma, no to simples (CALVINO, 2001a, p. 178). O Montezuma de Calvino refuta, aqui, a posio de diversos estudos sobre o assunto que, como aponta Todorov, procuram explicar a vitria de Corts por duas possibilidades principais: a primeira imputa
-
25
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
ao comportamento ambguo de Montezuma a responsabilidade pela derrota devastadora, ainda que os mexicanos fossem numericamente muito superiores aos espanhis; a segunda trata de uma relao simblica, afirmando que os astecas consideraram como deuses os espanhis. Se o eu entrevistador fala desse lugar marcado pela viso da histria dos vencedores, a questionar essa posio que se dedica Montezuma durante grande parte do dilogo travado. Tomemos, por exemplo, a questo da crena dos astecas na divindade dos espanhis, cuja afirmao pelo entrevistador foi citada h pouco. Montezuma desmonta esse discurso, complexificando a questo e procurando indicar as questes que marcaram esse momento de encontro entre civilizaes e entre pensamentos to distintos:
Chega... Essa histria foi contada demasiadas vezes. Que esse deus na nossa tradio era representado com o rosto plido e barbudo, e que vendo (solta um gemido) Corts plido e barbudo o teramos reconhecido como o deus... No, no to simples. As correspondncias entre os sinais nunca so exatas. Tudo interpretado: a escrita transmitida por nossos sacerdotes no feita de letras como a vossa, mas de figuras. [...] Nas figuras dos livros sagrados, nos baixos-relevos dos templos, nos mosaicos de plumas, cada linha, cada friso, cada lista colorida pode ter um significado... E nos fatos que ocorrem, nos acontecimentos que se desenrolam diante dos nossos olhos, cada mnimo detalhe pode ter um significado que adverte das intenes dos deuses: o esvoaar de um vestido, uma sombra que se desenha na poeira... (CALVINO, 2001a, p. 178-179)
Traa-se, assim, a arena de batalha principal onde se dar a conquista do Mxico: o campo simblico. A ambiguidade de Montezuma resulta, pois, nesse relato, no de uma falta de atitude ou confuso ingnua, mas daquela tentativa de deciframento do outro que ali chegava, estrangeiro, selvagem e incompreensvel:
O que podamos fazer, o que podia eu fazer, eu que tanto estudara a arte de interpretar as antigas
figuras dos templos e as vises dos sonhos, seno tentar interpretar essas novas aparies? No que estas se assemelhassem quelas: mas as perguntas que eu podia me fazer diante do inexplicvel que eu vivia eram as mesmas que me fazia olhando os deuses de dentes arreganhados nos pergaminhos pintados, ou esculpidos em blocos de cobre revestidos de lminas de ouro e incrustados de esmeraldas (CALVINO, 2001a, p. 179) desse mundo regido por outra ordem que Calvino procura fazer falar Montezuma, e com isso cria para o personagem um lugar de resistncia, um lugar para dar voz histria dos vencidos. Ambos os homens, ambas as civilizaes, viam-se no momento daquele encontro diante de um novo mundo, com o qual podiam se relacionar de distintas formas, dialogicamente ou violentamente. Preservar o outro ou tentar, a qualquer preo, torna-lo semelhante ao eu, reduzi-lo a uma coisa distinta, sacrific-lo. No havia ali um territrio comum, no havia relao possvel:
Sabia que no ramos iguais, mas no como tu, homem branco, dizes, a diferena que me paralisava no podia ser pesada, avaliada... No era o mesmo que duas tribos do altiplano ou duas naes do vosso continente , quando uma quer dominar a outra, e a coragem e a fora no combate que decidem a sorte. Para lutar contra um inimigo preciso mover-se no mesmo espao que ele, existir no mesmo tempo que ele. E ns nos escrutvamos a partir de dimenses diferentes, sem nos tocar. Quando o recebi pela primeira vez, Corts, violando todas as regras sagradas, me abraou. Os sacerdotes e os dignitrios de minha corte cobriram o rosto diante do escndalo. Mas me parece que nossos corpos no se tocaram. No porque o meu cargo me colocava mais acima de qualquer contato estrangeiro, mas porque pertencamos a dois mundos que nunca tinham se encontrado nem podiam se encontrar (CALVINO, 2001a, p. 182). Mas, para que essa relao se estabelecesse, ambos iniciam um jogo de foras de compreenso, uma disputa pelo acesso ao mundo simblico do outro. Eram dois olhares estrangeiros tentando
-
26
um contato, mas esse contato regeu-se pela imposio da semelhana, pela sobreposio ao que era distinto, pela conquista: o europeu desejava fazer do estrangeiro o prprio, extinguir qualquer trao de alteridade que lhe pudesse subsistir, apoderar-se do universo no qual aquele outro vivia. Para Corts isso significava, no encontro com uma alteridade to radical, compreend-la e explorar seu universo para ento tomar posse daquilo que ali havia que poderia merecer a preservao o ouro:
Vs vos apropriais das coisas; a ordem que rege o vosso mundo a da apropriao; tudo o que tnheis de entender era que possuamos uma coisa que, para vs, era digna de apropriao, mais que qualquer outra, e que para ns era apenas uma matria bonita para as joias e os ornamentos: o ouro. Vossos olhos procuravam ouro, ouro, ouro; e vossos pensamentos giravam como abutres em torno desse nico objeto de desejo. Para ns, ao contrrio, a ordem do mundo consistia em doar. Doar para que os dons dos deuses continuassem a nos cumular, para que o sol continuasse a se levantar toda manh abeberando-se do sangue que jorra... (CALVINO, 2001a, p. 184). Mas se apropriar do que do outro, muitas vezes, denota na apropriao do prprio outro: mais que possuir o ouro, o ato de violncia da conquista se afirmava pela tentativa de subjugar o outro, de extirpar a diferena, de eliminar qualquer sombra de alteridade que pudesse persistir. ordem do mundo que se regia pela apropriao equivalia uma outra, a da conquista, que implicava necessariamente em destruio: Talvez ainda estivsseis em tempo de extirpar das cabeas europeias a planta maligna que estava apenas brotando: a convico de ter direito de destruir tudo o que diferente, de pilhar as riquezas do mundo, de expandir pelos continentes a mancha uniforme de uma triste misria (CALVINO, 2001a, p. 183).
A essa situao de violncia extrema, Calvino responde com a persistncia da diferena, indicando que aquilo que resta como rasura e incompreenso tambm o lugar mesmo da resistncia. Essa relao entre selvagens ecoa na narrativa calviniana, que abre espaos para o encontro com o outro. Montezuma afirma que o queria no era matar os homens brancos, e sim fazer algo muito mais importante: pens-los. Que conseguir pensar o outro seria a nica maneira para com eles se relacionar, fazendo-os aliados ou inimigos, perseguidores ou vtimas. E quando o entrevistador afirma que esse problema no se colocava para Corts, o imperador asteca responde que, ao contrrio, era tambm isso o que ele buscava, pensar Montezuma, o que no conseguiu:
Pode parecer que tenha feito de mim o que quis: enganou-me muitas vezes, pilhou meus tesouros, usou minha autoridade como escudo, enviou-me para morrer apedrejado por meus sditos; mas no conseguiu ter a mim. O que eu era ficou fora do alcance de seus pensamentos, inatingvel. Sua razo no conseguiu envolver minha razo em sua rede (CALVINO, 2001a, p. 185-186). Uniformizar o mundo, riscar as diferenas, extinguir o que como selvagem se apresenta ao outro: se a histria moderna tem como um de seus possveis marcos fundadores um evento pautado pela violncia, cujas narrativas histricas e etnogrficas so, como bem aponta Todorov, j resultados dessa violncia (pois que pautadas pelo discurso do conquistador), Italo Calvino aponta uma linha de fuga a esse panorama que permite que se rasurem, na literatura, as marcas dessa violncia: seu Montezuma abre imaginao a voz silenciada, e invade como um fantasma o pensamento eurocntrico, fazendo voltar cena a relao dialgica entre o eu e o outro, constituindo-se como espao para um pensamento selvagem.
Maria Elisa Rodrigues Moreira, Doutora em Literatura Comparada (UFMG).
-
27
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
SELVAGEM | Solange Rebuzzi
Solange Rebuzzi, nasceu no Rio de Janeiro. Autora, entre outros, de: O idioma pedra de Joo Cabral (Perspectiva, 2010), Estrangeira e Quase sem palavras (7Letras, 2010 e 2011).
Do outro lado do mundo (dito distante e cruel) observo rostos obscuros de homens do nosso tempo; em um recproco no-saber. As mulheres, envolvidas em burkas (from Arabic: burqu' or burqa) ou em vus, s deixam ver os olhos. E as horas no criam espao. Hoje, faz sol no Rio de Janeiro. Em Londres neva. E no cinema e na TV, a pelcula incendiada pelas guerras brota fumaa e intoxica. Os jornalistas temem no retornar cada vez que a barbrie exige matria.Eu me aproximo das feridas das crianas e dos jovens mortos de repente nos massacres da Sria, por exemplo. Miro o olhar dos supostos inimigos. O pensamento se abre na diferena. No minsculo intervalo entre os tiros escuto as telas Noites quentesligada naufrago no horror das mortes em Homs.
Do outro lado do mundo observo rostos temerrios ao dia e noiteDesvendo sob as burkas... o clamor de mulheres
que precisam alimentar seus pequenos.
No se acredita:h montes de corpos feridosnas ruas (poucos mdicos supostos hospitaisou quase). H oraes em movimento
do outro lado
... um rio-vermelhoC R U E L S E L V A G E M
(e a faca no est na lngua).
-
28
O CRNIO FALANTE | Conto Nupe
Este um Conto Nupe, registrado pelo antroplogo, etnlogo e explorador alemo Leo Frobenius (1873-1938).
Um caador vai para a mata. Encontra um crnio humano antigo. O caador pergunta:O que trouxe voc aqui?Falar o que me trouxe aqui responde o crnio. O caador sai correndo. Vai procurar o rei. Depois de o encontrar, diz: Encontrei um crnio humano na mata. Ele pergunta como esto seu pai e sua me. Nunca, desde que minha me me deu luz, ouvi falar de um crnio morto capaz de falar diz o rei. O rei manda chamar o lcali, o saba e o degi (juiz mulumano) e pergunta-lhes se j ouviram falar de algo parecido. Nenhum dos sbios tinha ouvido falar naquilo, e eles resolvem mandar um guarda com o caador mata para descobrir se a histria era verdadeira e, se fosse, saber qual a explicao para ela. O guarda acompanha o caador mata com ordem de mat-lo ali mesmo se tivesse mentido. Os dois encontram o crnio. O caador dirige-se ao crnio: Fale, crnio.O crnio mantm-se em silncio. O caador faz a mesma pergunta de antes: O que trouxe voc aqui?O crnio no responde. Durante todo o dia, o caador implora ao crnio que fale, mas ele no responde. noite o guarda pede ao caador que faa o crnio falar e, como ele no consegue, o mata de acordo com a ordem do rei. Depois que o guarda vai embora, o crnio abre as mandbulas e pergunta cabea do caador morto: O que trouxe voc aqui? Falar o que me trouxe aqui responde a cabea do caador morto.
-
29
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
O INFANTE SELVAGEM: PEQUENO TRATADO SOBRE LINGUAGEM E INFNCIA | Luciano Bedin da Costa & Larisa da Veiga Vieira Bandeira
Moa descuidada com a janela escancarada
quer dormir impunemente.Noiva da cidade, acalanto popular
1.O infante selvagem parece ser isto que adormece para o ''dia desconhecido'' de que Homero falava. Seu sono a concesso do intelecto ao mundus imaginabilis, solido de se estar entregue a um outro do qual pouco ou quase nada se sabe.
2.Ns envolvemos de panos uma nudez sonora extremamente ferida, infantil, que permanece sem expresso no fundo de ns mesmos. Esses panos so de trs espcies: as cantatas, as sonatas, os poemas. O que canta, o que soa, o que fala (QUIGNARD, 1999, p. 9).
3.O infante selvagem aquilo que canta, que soa e que fala num canto, num som e numa fala. Entretanto, ele parece no coincidir com a figura do cantor, do musicista e do falante. Diante destes seu saldo sempre negativo.
4.Somos to acostumados a representar-nos o sujeito como uma realidade substancial, isto , como uma conscincia considerada como lugar de processos psquicos, que nos esquecemos de que, em seu surgimento, o carter 'psquico' e substancial do novo sujeito no era uma coisa bvia (Agamben, 2005, p. 31).
5.O infante selvagem no se reduz a um sujeito (emprico, psicolgico, transcendental) embora no seja possvel fora deste. Seu princpio o da coextensividade.
-
30
6.O infante selvagem a protoinfncia da prpria infncia. At mesmo a criana necessita de um contorcionismo todo especial para toc-lo.
7.O infante selvagem situa-se numa espcie de fundo sonoro da loucura. No a lingua dos loucos nenhum estrato lhe estimado (a figura do louco estratificada). algo a que Quignard (1997, p. 464) se refere, uma lingua sob todas as linguas, o som de um fragmento de medo comum, alguma coisa que, sem dvida, todo mundo emite, cada qual sua maneira. O infante selvagem erra mais ou menos de lbios em lbios, a protuso quase sexual e sempre desnuda dos rostos no curso dos milnios. Um terror quase elementar, selvageria a-histrica, sem referentes e, por tal razo, permanentemente viva na expresso daquilo que vive, seja isto um homem, uma mulher, um grupo, uma cano ou at mesmo uma criana.
8.O sujeito psicolgico no tem muitas escolhas. Ele o sempre em relao a uma substncia: um ego, uma vontade, um desejo, uma conscincia. Na perspectiva de uma psicologia do desenvolvimento, a criana j nasce adulta. Ela no perdeu a infncia pelo fato de nunca t-la possudo.
9.Infncia: uma experincia 'muda' no sentido literal do termo, uma in/fncia do homem, da qual a linguagem deveria, precisamente, assinalar o limite (AGAMBEN, 2005, p. 59). O infante selvagem age primeiramente sobre a linguagem. na linguagem que ele mina o sujeito musculoso e confiante naquilo que diz.
10.O infante selvagem involuciona o homem enquanto forma priori. Neste sentido, o homem sempre uma imagem a ser conquistada. O selvagem isto que fora esta permanente constatao.
11.No aristotelismo medieval, a imaginao era tida como medium, o mediador disjuntivo entre o intelecto e o sensvel. Era preciso que as coisas adquirissem uma certa vidncia, que fossem sonhadas, deliradas ou imaginadas para que existissem. Imaginar no era um ato subjetivo mas a prpria experincia do delrio, o ato de apagar o homem delir na imagem do mundo que se fez presente por intermdio deste mesmo homem. O mundus imaginabilis, embora coextensivo quele que o imagina, sempre um passo atrs ou frente do imaginador. A imagem, antes de explicar (mundus intellegibilis) ou de fazer sentir (mundus sensibilis), o choque entre a mnima fagulha de inteligibilidade e a poro mais aforma de sensao.
12.Fratura (o crack-up de Fitzgerald) entre os regimes semitico (estado de signos mundanos) e o semntico (estado do discurso do sujeito mundano). A infncia do homem no o retorno a uma condio protoanimal de no fala at porque os animais esto desde sempre ancorados na lngua (fatalismo biolgico) mas experincia do sentido propriamente dito, do apagamento da confiana linguageira no corao mesmo da linguagem. justamente porque se v assediado por infncias (o compossvel de uma no-realizao linguageira) que o homem reiteradamente diz e se inscreve na histria. Sem infncia seria apenas um estar-sendo, um selvagem.
-
31
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
13.A experincia selvagem de infncia no algo que vem antes do sujeito e que precede cronologicamente a linguagem. aquilo que nunca acaba de acabar e que no se encerra com a aquisio da palavra. No o paraso perdido que abandonamos para que possamos enfim falar. Ela coexiste originalmente com a linguagem produzindo fraturas na sujeio do sujeito em relao a si mesmo.
14.A cada lance de pio o infante selvagem produz o homem como um sujeito. Na medida em que o estado de infncia o assedia, o homem corre para conquistar algo que garanta para si uma certa permanncia. Entretanto, ele nunca a conquista plenamente.
15.Na medida em que possui uma infncia, em que no desde sempre um de/signador do mundo, o homem no pode entrar na lngua como sistema de signos sem transform-la radicalmente, sem constitu-la como discurso (AGAMBEN, 2005. p. 68). Mesmo o cartesianismo-em-ns, radicalmente confiante e apolneo, somente conquista a si-mesmo no ato sujo da enunciao. Ele , antes de efetivamente pensar ou existir, aquele que diz ser isto que pensa.
16.A criana por vezes brinca e pode at se sujar. O infante selvagem sempre um tanto sujo.
17.O infante selvagem garatuja signos. o balbucio possvel a tudo que designa, a toda vontade de indicar, apontar, marcar e mostrar. Neste sentido, o infante selvagem o agente designador de contraefetuaes histricas. Ao invs de catar ou de fazer uso de signos disponveis, o infante selvagem os alquimiza em nome de uma certa magia. Ele os trabalha no interior de sua prpria substncia. Ele no toca o mundo mas aquilo com o qual se cr tocar o mundo, ou seja, a linguagem.
19.O mgico e a feiticeira necessitam de gestos e de palavras para consumar sua magia. Eles no so e no tm a magia. necessrio que eles a chamem e a realizem por intermdio daquilo que dizem as palavras mgicas e daquilo que fazem.
20.De acordo com Agamben (2007, p. 23), provvel que a experincia da adultez surja da invencvel tristeza que s vezes toma conta das crianas ao se perceberem incapazes de acreditar em algum tipo de magia. Este estado de magia o gnio da garrafa que realiza do desejo, a varinha que faz aparecer, a fada que transporta a um outro mundo antes um excesso do que uma regresso. Trata-se de uma prepotncia da imagem em relao objetividade. '' uma desgraa sermos amamos por uma mulher porque justamente o merecemos'' (Kant apud Agamben, 2005, p. 24). A felicidade, ou o gosto de felicidade, parece-nos maior quando somos arrebatados de surpresa, surrupiados do nosso destino, atingindo o ponto onde ela no nos estava destinada.
20a. Amar sempre amar algum, ter algum diante de ns, olhar somente para ele e no para alm dele, a no ser por inadvertncia, no salto da paixo sem objetivo, de modo que o amor, em ltima instncia, nos desvia, mais do que nos faz voltar sobre os nossos passos (Blanchot, 2003, p. 146).
-
32
20b.Em matria de amor, o infante selvagem nos pega sempre pelo rabo da inteno e nos fora a dizer que 'no era bem isto'.
21.A criana experimenta o mundo dos adultos quando se percebe incapaz de acreditar em signos enfeitiados. Ela se torna confiante nos signos, naquilo que do mundo estes designam. Ela passa a constatar coisas. Da vidncia mgica ao pr/visvel dos signos. A verdadeira castrao no a entrada mas perda da lei do feitio. O homem se torna adulto em gererosas doses de previsibilidade e a passos cansados.
22.E que rosto ter uma infncia do cansao? Podemos a nos iludir que o cansao queira nos mostrar seu rosto, imaginamos talvez um rosto envelhecido nos vincos precoces e nos cabelos brancos na fronte de um infante. O cansao, em sua infncia, ainda nos quer de p, combativos, ele ainda reconhece, aqui e al, sopros de vida, um pulso, um flego viril. Mostrar o rosto cansado no espelho de nossos dias seria um deslize.
23.O infante fareja o que farejvel, no para saber de seus lugares, mas para no retornar onde j esteve.
24.O infante selvagem arranca os pelos que crescem nas narinas envelhecidas dos que sabem (com certeza absoluta) onde devem colocar o nariz.
25.Deixa-se enfeitiar o infante, feitio e feiticeiro. Quando sabe disso no pode mais ele enfeitiar-se. Saber-se todo, o faz (apenas) parte.
26.O infante selvagem, o fora de si (e no um fora da lei), toma-nos de assalto, pula em nossas costas sem hesitaes. No nomeia. Ressoa, reverbera em tudo que toca e v. incompatvel e inconcilivel com o tempo e as coisas que j tem um nome.
27.Sua intimidade com o exterior, com o extico, e, ainda l, o intruso, o errante.
28.O infante selvagem no termina ou encerra o que inicia. Por onde ele passa: incios, indcios, incndios que abrem clareiras onde se movimenta.
29.Seus constantes incios so apelos do que ainda se tem por fazer, interrogaes sobre o que se apresenta como certezas, nascimentos do que est por vir.
30.No arriscado de viver, cria vidas no ritmo da selvageria. A selvageria a forma de se movimentar do infante, daquilo que se aventura na noite do pensamento e adormece para o dia. O infante selvagem evita a luz que tudo ilumina e que potencialmente expe tudo ao olhar. Durante a iluminao diurna
-
33
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
o infante recolhe-se, da fruta o seu caroo. pelo sol aquecido e para ele invisvel. E justamente o que o aquece e no o v, que o impulsiona no romper da polpa e da pele que o acolhe.
31.Alimenta-se de murmrios, fragilidades, da aridez e do que se parece, por que grita, e forte, proliferante, por no se parecer com nada e ainda assim ser.
32.Na escola, o infante selvagem no responde chamada. Mesmo sentado em seus bancos est ausente. No impaciente, excessivo, incabvel no que tenta domestic-lo.
33.Em frente folha branca, o infante nos faz roer as extremidades de nossos dedos. Se queremos escrever, ele quer a tinta sangunea para selar a morte das palavras.
34.Exige o silncio, o vazio, a distncia. No recusa o pavor, os abismos e as intensidades. Mesmo noturno, o infante selvagem aloca-se no branco.
35.No se anuncia ou apresenta-se, no se situa ou deixa-se capturar. Apodera-se e abandona.
36.Quando se decide a maternidade do infante pode-se parti-lo ao meio como se a ele a dor no afligisse e como se sua morte fosse a soluo. O selvagem morre sem pertencer a ningum.
Luciano Bedin da Costa, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Autor de Estratgias Biogrficas: biografema com Barthes, Deleuze, Nietzsche e Henry Miller (Sulina, 2011) e Vidas do Fora: habitantes do silncio (UFRGS, 2009).
Larisa da Veiga Vieira Bandeira, mestranda na linha da Filosofia da Diferena na Faculdade de Educao da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Ilustrao: Luciano Bedin da Costa.
-
34
DOIS FRAGMENTOS | Dalcidio Jurandir
Dalcdio Jurandir. Fragmento de Chove nos Campos de Cachoeira, paginas 39 e 40.. Rio de Janeiro: Editora Sete Letras, 2011.
Eutanzio abria a boca, enfastiado. No podia mais esperar o caf com bola-cha-maria. Se pudesse escrever um soneto! Aprenderia com os japuns a fazer um soneto. D. Eponina trazia o caf com bolacha-maria e a manteigueira. O marido de tia Eponina devorava trs bolachas duma vez com os olhos no seu carro de sena que no saa.Depois, s tardes, divertia-se armando navios de miriti, de papel, couraados de papelo, com uma pacincia que talvez fosse feita dos tdios, dos contnuos bocejos, do mal-estar frequente, das bruscas melancolias, dos inteis e indefinidos desejos de viagens, das leituras do Conde de Monte Cristo, da incapacidade para a poesia. Da crescente amargura que mais tarde teria de lev-lo para a casa de seu Cristvo, para o riso de Irene, para aquelas horas em que tenta retirar de seu passado alguma coisa que o reanime, alguma coisa a descobrir. Para aquelas horas de nuseas de si mesmo, vendo ossadas entulhando o seu passado, risos sobre risos de Irene fermentando dentro de sua angstia.
O vento dos campos vinha dos outros campos, de outras luzes tranquilas e ignoradas, dos vaqueiros esquecidos, dos lagos mortos, dos horizontes que queria ter no seu destino. Os campos levavam-no para o riso de Irene, para aqueles olhos densos de feiticeira estupidez e nojo. Cada marcha daquela era uma dupla marcha, a dos ps fatigados, dos rins doendo, dos tecidos castigados. Era uma caminhada de meia hora, e dura, todos os dias, para o seu corpo. A outra marcha era a obsesso, a das sensaes confusas, dos conflitos que s lhe deixavam na cabea cinza e sombra. Mas lhe vem a lembrana dos charutos de Raquel. Comprar os charutos para Raquel, aonde? Percebe em Raquel uma estima meio oblqua para o lado dele. Uma amizade cheia de perspectivas. Costumava trocar a pronncia da palavra: perspectiva... Se habituara a colher certas palavras mais ou menos difceis para o seu uso ntimo. Ningum o surpreendia soltando essas palavras de que tinha talvez pudor como de largar palavres. Raquel lhe pedira charutos. preciso de qualquer modo dar sempre presentes na casa de seu Cristvo. Pelo menos manteria alguma autoridade moral. A sua presso moral em cima das velhas, das moas. Irene mesmo no podia fazer uma hostilidade contnua porque era tolhida pelo desejo de umas chinelas, duns sapatos, num corte, que sua me arranjaria por intermdio dele.
Ouve um grito de moleque, um pssaro noturno voa na frente, um latido, vozes indistintas. A casa de seu Cristvo se aproxima. Mas o problema dos charutos? No sabe por que lhe vem agora de novo a compreenso de quanto lhe bem trgica a sua incapacidade para a poesia. A natureza m, sdica, imoral. Dava a uns uma excessiva capacidade potica e a ele deu a tragdia de guardar um material bruto de poesia e no poder conquistar um pensamento potico nem a linguagem potica. Tinha a substncia potica, mas enterrada no que havia de mais profundo e inviolvel de sua inquietao. Era como um homem mudo. Um cachorro tem a expresso potica muitas vezes nos olhos. Ele no tem seno nas infinitas profundidades de sua conscincia, do caos que rola dentro de si. Tinha dentro de si uns trgicos motivos para merecer o dom da poesia. Dentro dele se agitava um caos e s a poesia daria ordem a esse caos. Mas o instante de sua compreenso desaparece. Caminha no rumo da casa de Irene. As grandes marchas noturnas. As mesmas marchas solitrias. O caminho nos campos estreito e sinuoso. O vento quase frio. O olhar de Irene o envenena todo. Mas como comprar os charutos de Raquel? Seria bom bater na porta de Felcia e lhe pedir dois mil-ris. Ela devia ficar sumida na sombra do crucifixo e os arranha-cus avanariam sobre ele. No tem dinheiro. Sempre marcado por esse epitfio:
NO TEM DINHEIRO
-
35
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
NOVAS REVELAES DO PRNCIPE DO FOGO | Marcelo Ariel[poema inacabado comentado]
Para Febrnio ndio do Brasil
Primeira parte: Melancholia
Eu sou a rvore,feche os olhos,primeiro voc v as armasdo Sol: As manhse eis a beleza terrvel se movendona pele do antisonhoe na do mar tambm,eis as nuvens de sangue, cavalos selvagens da luzcavalgados pelo vento,este corpo do esprito geral,eis o cuque jamais sercomo os camposporque incorruptvel,apesar do rugido dos avies,evocando a raiva dos pssaros,depois voc ver o espetculodas montanhas de ossadas,quase tocando o cu,isso jamais ter seu poder nomeado,ser como o Sol.Um Poder que estava em ns,mas no pertencia a ningum.Agora, voc ver a escurido dourada,no um grito do cucomo o indecifrvel canto das mnadascaindo em ondasimperceptveis, humilhandotodos os msticosque iro correr em sonho por cima do marat chegar na frica Geral,eles e nos, anestesiados
-
36
pela conversa silenciosa das ossadas,que sussurram na hora do despertar:" No basta voc flutuar por a,na margem etrea do sonho, meu Irmo!"e depois comeam a cantar...E eis que Ele retorna das fricas Reunidas, a beleza das chacinas como a das exploses solares,Ele pensaA expanso solar rindo por ltimoe depois a gargalhada dos mangues e das florestase a dos pases ocenicos tambm,diz a Estrla-do-Mar.
O desaparecimento da tua infnciate sada atravs do desaparecimento das manhs.
O desossamento dos bebs de oito meseste sada, atravs do fogo dos espinhos.
A rosa congelada cantar o nome de todas as coisas.
Tudo cantar o triunfo imaginrio do p humano,antigas simulaes e distraesat a esperada extino, j sem nenhum peso na memriadas coisas.
Os insetos demonacos em trgua com os insetos anglicos
Os grandes blocos de granito, sonolentosse espreguiando, como os msticos,vomitando abismos.
De nada adiantouo lamento da msca,intil a confisso das poas de sanguesecando debaixo do Sol.
Intil o riso das sementesflutuando na brisa,intil o riso do dente de Leo saudando o pajoelhado diante do olho d' gua,como Robespierre,como Gandhi,como Voltaire.
Ah, a eternidade se contorcendo de tdiodentro das pedras,se afastando violentamente de ns.
-
37
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
E sculos antes a prmide de livrosrefletida no riso de Mona Lisa de todos os mortos.
Ah, as equaes da harmoniaanuladas pelo bal das guas-vivas.
Ah, os cavalos marinhose as abelhassem nenhuma saudadedo p humano.
Ah, agora podemos sentir o Sol cansado de nossas ficesfitando a clula comos e ela fosse caro.
E eis que as nuvens mergulham no mare os peixes devoram os pssaros.
E agora, Centauros sem a parte humanacorrem em todas as direes.
Sereias sem a parte mulhernadando em crculos como seus neurnios,
Sr. Dante.
Fim da primeira parte.
Comentrio: A mais profunda selvageria o desejo perptuo do fim do mundo, comum nas crianas de dez anos do sculo 21 e 22. O amor este vrus espacial inoculado pelas exploses solares atravs da corrente eltrica em nossos neurnios, pode ser imensamente sonhado pelos ciborgues do sculo 21 e 22, estes hiperseres que certamente conseguiro manter o rastro harmnico da poesia. A mais profunda selvageria ser a comparao entre um ciborgue e um humano, em detrimento do humano, os ciborgues sero extraordinariamente superiores, como o Rosa Real feita de matria reciclada de cadveres fabricada pelos laboratrios do Google Biologic, Rosa que dura mais de mil anos sem perder jamais seu perfume. Este no meu melhor poema, o melhor poema de um poeta seu corpo explodindo no fundo do mar, um bloco de gelo pegando fogo, uma pilha de cachimbos de crack do tamanho de um arranha-cu pegando fogo com dez mil crianas danando em volta e etc...
Marcelo Ariel, poeta e performer. Autor de Tratado dos anjos afogados (Letra Selvagem, 2008), O cu no fundo do mar (Dulcinia Catadora, 2009) entre outros.
-
38
A MINHA LITERATURA SELVAGEM | Paulo Nunes
O romancista brasileiro ainda se encontra em plena ebulio de uma ascendente vida nacional. Est muito diretamente plantado no lodo criador, no grosso hmus da gnese e tem de estar assim ainda na pia batismal, cheio da rica impureza da terra em que se entranhou muito local, sem ser to crucialmente brasileiro, desigual, informe, s vezes, perplexo, s vezes, romntico, pueril e simplista em muitos momentos, primitivo e pesado demais por excesso de fora e de inconscincia dessa fora, no dominada*
Dalcdio Jurandir | O Romance e o Romancista.
Ilustrao de Rugendas: a viso do extico selvagem?
A provocao paira sobre a pgina em branco: por uma literatura selvagem, convoca-me ou te devoro!, ouvira Nilson Oliveira, poeteditor, voz que clama na selva, encalhada, na pedra. Aceito, receito a provocao. E inicio por dizer: poucas palavras em lngua portuguesa so to sugestivas, cido-polissmicas, como selvagem. Ademais, escreverei da porta de uma cidade que um dia houe-se selva e que se des-inscreveu do fito florestal numa atitude de desmonte colonial: afinal, calculara o colonizador: eliminando-se o corpus silvcola teremos uma terra abenoada pela cruz. Antes, entretanto, de avanarmos na seara desta reflexo, recorramos ao dicionrio Houaiss de Lngua Portuguesa para desfraldar-se selvagem, palavra-emblema. E naquele conceituado livro que lemos que o verbete referido adjetivo de dois gneros, que se manifesta numa natureza no civilizada; prprio das selvas; agreste ou ainda que no
serve ou no foi usado para o cultivo (diz-se de terreno, solo); estril, inculto e numa terceira acepo: que habita as selvas, que vive longe dos aglomerados de pessoas civilizadas. Estril, inculto, que habita as selvas... significados que confluem para a devast(ao) ou acossamento de algo a uma camisa de foras.
No processo colonial a que fomos os brasileiros submetidos: brasa escura a ser clareada (pela cruz e/ou pela espada), fomos considerados selvagens, tanto que precisamos ser cristianizados para existirmos luz das instituies de ento: o Estado portugus e a Igreja Crist do Ocidente. Os equvocos laceraram nossa carne vasta, vastafala a fazer-se reprimida por uma poltica colonialista. De 5 milhes de aborgenes, de vrias etnias, que habitavam a ento Terra de Vera Cruz, quantos, afinal, restam hoje neste sculo XXI?
-
39
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
Falo isso porque para nos fazermos plenos e merecedores da mo pater/maternal que nos redimiria, bichos desalmados, foi preciso uma ao intensa para desselvatizar-nos. E, lgico, a violncia foi um prato servido a torto e a dire(i)to na terra brasilis e em todo o Novo Mundo (vejamos que o prprio significante novo abre espao para as mais diversas manifestaes de estranhamento etnocntrico por parte do EUropeu). Houve, entretanto, aquele que, mesmo expressando algum preconceito, andou na contramo do esprito de seu tempo, tempos bicudos e intolerantes. E a voz dissonante de que falo ade Michel Montaigne, que viveu em Frana do sculo XVI. No captulo XXXI de seus Ensaios, Montaigne, desenvolveu uma tese que serve como uma luva para este meu roteiro de literatura: No vejo nada de brbaro ou selvagem no eu dizem daqueles povos [do Novo Mundo]; e, na verdade, cada qual considera brbaro o que no se pratica em sua terra. E natural porque s pudemos julgar da verdade e da razo de ser das coisas pelo exemplo e pela ideia dos usos e costumes do pas em que vivemos. Neste a religio sempre a melhor, a administrao excelente, e tudo o mais perfeito. A essa gente chamamos selvagens como denominamos selvagens os frutos que a natureza produz sem interveno do homem (...) (Montaigne: 1980: 101).
Ou seja, a expresso selvagem, segundo Montaigne, usada equivocadamente pelo senso comum europeu. O filsofo, lcido, aponta que o significante selvagem usado, em seu tempo, inadvertidamente a tudo aquilo que diferente de si, onde se encontra o eu enunciador: o EUrocentrismo. Isso porque ao empregar a palavra selvagem, devidamente adjetivada, para referir-se aos habitantes da Amrica, o senso comum europeu de ento (penso que este ponto de vista talvez no tenha modificado quase nada nos dias de hoje) queria justificar como barbrie o ato de canibalismo praticado por algumas etnias de aborgenes americanos. E Montaigne, mais adiante diz: as guerras fratricidas da Europa, sim, que so brbaras. At hoje, salvo engano, nos pomos a achar que eu (e os de minha casta) somos sempre superiores aos outros. Pensamento que justifica, muitas vezes, atos de profunda violncia, intolerncia, racismo, homofobia, entre outros (pre)conceitos.
Arraigados de algumas vicissitudes europeias em nossa formao, que necessitamos do discurso da arte para estremecer valores e implodir preconceitos. Da que no h como no trazer para esta conversa o movimento modernista brasileiro, exatamente neste momento em que a Semana de Arte Moderna de 1922 faz 90 anos. E nesta diversa experincia que, salvo engano, por via da Antropofagia oswaldiana, veremos a mais radical expresso de deglutio cultural dos valores culturais do estrangeiro (neste bojo o europeu, quando a Europa era para ns ainda uma referncia expressiva). Oswald de Andrade quem, polmico como ele s, cutuca a ona com vara curta, ao escrever no Manifesto Antropfago: Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade.
Quero crer que aqui no se trata de celebrar o fato de que no se fazem nacionais com subtrao. Mas das inmeras leituras que este poema pode suscitar est a ideia de que o den existia antes de sermos enquadrados na cultura lusitana, ou no europesmo cultural, religioso, enfim, tico-tnico. E que perdida a pureza (no sentido da no-crioulizao cultural) nada restava alm de reapropriar os valores que recebemos de Portugal e re-aclimat-los ao tropicalismo selvagem. Assumirmos nosso lado nativo-ancestral, com doses de criatividade e irreverncia, passa a ser, depois da vivncia na Antropofagia modernista, sinal positivo e de autoacompreenso. Ou seja, o que era desvantagem passou a ser no s vantajoso como necessrio. E Oswald, com seu estilo doutrinante e irreverente, fez escola: tanto que Chacal, em um poema escrito nos anos 70 do sc. XX, registrou, guisa de homenagem:
Papo de ndio ChacalVeiu uns mi di saia pretacheiu di caixinha e p brancoqui eles disserum qui chamava aucria eles falarum e ns fechamu a caradepois eles arrepitirum e ns fechamu o corpoa eles insistirum e ns comemu eles.
como se Chacal (o nome do escritor j em si selvagem por natureza), poeta de hoje, relembrasse-nos que socialmente a Antropofagia [oswaldiana] no somente no se tornou anacrnica como deve ser reinserida no cotidiano brasileiro, no momento em que os discursos religiosos mais
-
40
conservadores reinstituem uma tica intolerante (e muitas vezes sectria, e diga-se de passagem em dias de ditadura militar), contra tudo aquilo que representa a anseio do novo que no era facilmente enquadrvel.
Em leitura da Antropofagia nacional seculovinteana, Caetano Veloso, o poeta superastro, assumido canibal, em sua tropicalista trajetria, vaticinou: Essa viso [a da Antropofagia] a grande herana deixada pelo modernista Oswald de Andrade. Oswald foi, juntamente com Mrio de Andrade, a liderana intelectual do movimento modernista brasileiro, lanado escandalosamente em So Paulo em 22, com uma semana de recitais e exposies que suscitaram admirao, susto e horror e lanaram as bases de uma cultura nacional... (Veloso: 1998: 241). Neste mesmo artigo, Caetano ressalta a fora intuitiva de Oswald que est registrada em parte significativa de sua obra literria. Intuio antropofgica? Intuio, acrescento eu, que teve muito de amaznico, dado que o autor de O Rei da Vela, sobrinho do obidense Ingls de Sousa, fora, muito provavelmente, formado por sua me com os mitos e lendas amaznicas, afinal bidos , por excelncia, um dos beros mtico da Amaznia. E, disse eu acerca do que observara na FLIP do passado, que homenageou Oswald, que falta ainda desvendar a influncia formadora amaznica na selvageria canibal de Oswald. Intuo a respeito disso principalmente depois de reler o que Raul Bopp (que influenciar Manuel Bandeira, Mrio de Andrade e depois o prprio casal antropfago Tarsival) escreveu acerca de sua experincia em So Paulo nos fins de 20 e inicio da dcada de 30, na qual os nacionalistas antropfagos mostravam curiosidade acerca da experincia amaznica, vivida por Bopp a partir de Belm do Par.
Bopp afirma, sem rodeios, no inventrio da Antropofagia: A chefa do movimento era Tarsila. Oswald ia na vanguarda, irreverente, naquele solecismo social de So Paulo. Foi elemento e
resistncia e agresso. Ps a antropofagia no cartaz, com uma tcnica de valorizao.
Tarsila, na sua simplicidade, semeava ideias. Queria um retorno ao Brasil, sua ternura primitiva. A flecha antropofgica indicava uma nova direo (Bopp: 2006: 99). A ternura primitiva, sabe-se, era a contribuio da Amaznia para esta nova esttica, afinal a literatura paranasiana estava j em descompasso com a confluncia das mquinas e o rush-rush das fabricas e reivindicao dos operrios emergentes.
Da que Raul Bopp evidencia sua compreenso: o romanceiro amaznico, de uma substncia potica fabulosa, com o mato cheio de rudos, misturado com a pulsao das florestas insones, no podia se acomodar num permetro de composies medidas. Os moldes mtricos fracionados serviam para dar expresso s coisas do universo clssico. Mas deformam ou so insuficientes para refletir com sensibilidade um mundo misterioso e obscuro em vivncias pr-lgicas (...) A estada de pouco mais de um ano na Amaznia deixou em mim assinaladas influncias (Bopp: 2006: 22)**.
Raul Bopp, graas s suas origens germnicas, experimentou at as ltimas consequncias uma alteridade verdadeira e inventiva. Teoria que fez com que, ousadamente, o autor de Cobra Norato, se inscrevesse para sempre na literatura brasileira de expresso amaznica. Selvagem literatura, literatura que hoje minha, eu que tomo a bena da Cobra Norato, ao mesmo tempo em que beijo o manto de Nossa Senhora de Belm. Aps este rito, rio socapa da cobra que tem a cabea aprisionada sob os ps da Santa (a cobra, cinicamente, pisca um olho para mim). Aparentemente, porque Belm, com seus delrios serpentrios , sem dvida, a partir do Modernismo, um dos beros simblicos da literatura nacional, bero de uma literatura selvagem. Minha literatura. Assim eu acredito porque a minha alegria prova dos nove.
A meus alunos de Cultura e Literatura Amaznica da Unama.
Notas:* Grifos meus.** Grifos meus.
Paulo Nunes, poeta, autor de: Ba de bem-querer (Paulinas). Doutor em Letras pela PUC-MG e professor da Universidade da Amaznia, Belm-PA.
-
41
Polic
hinell
o n
14
| Lite
ratu
ra S
elvag
em
Pier Paolo Pasolini, poeta e cineastra.
NOITE ROMANA | Pier Paolo Pasolini
Sexo, consolo da misria!A puta uma rainha, o seu tronoso runas, a sua terra um nacode prado merdoso, o seu cetrouma bolsa de verniz vermelho:ladra na noite, porca e ferozcomo uma me antiga: defendeo seu territrio e a sua vida.Os chulos, em redor, em bandos,soberbos e plidos, com bigodesbrindesianos ou eslavos, so chefes, regentes: tramam,nas trevas, os seus negcios de cem liras,pestanejando em silncio, trocandopalavras de ordem: o mundo, excludo, cala-se volta deles, que dele esto excludos,carcaas silenciosas de aves de rapina.
Mas nos destroos do mundo, nasceum novo mundo, nascem leis novasonde no h lei; nasce uma novahonra onde a honra desonraNascem poderes e nobrezas,ferozes, nos montes de tugrios,nos lugares perdidos onde se julgaque a cidade acaba, mas onderecomea, inimiga, recomeapor milhares de vezes, com pontese labirintos, estaleiros e aterros,atrs de vagas de arranha-cusque velam horizontes inteiros.
Na facilidade do amoro miservel sente-se homem:firma tanto a f na vida, quedespreza quem outra vida tem.Os filhos lanam-se aventura,certos de estarem num mundoque os teme, a eles e ao seu sexo.A sua piedade no terem pied