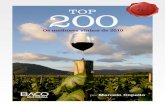Melhores entrevistas de 2010
-
Upload
fundacao-ibere-camargo -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
description
Transcript of Melhores entrevistas de 2010

www.iberecamargo.org.br
MELHORES ENTREVISTAS DE 2010
Revista Digital Fundação Iberê Camargo

www.iberecamargo.org.br
A nova museologia
Mila Chiovatto conversa sobre a função
social dos museus e das ações educativas Coordenadora do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Mila Chiovatto é artista por formação, mas vem se
dedicando à arte educação. Com cursos de especialização no exterior e um mestrado em
Ciências da Comunicação – Sociologia da Arte pela ECA-USP, ela atua também como professora e é membro do Comitê de Educação
e Ações Culturais do Conselho Internacional de Museus.
Convidada da Formação de Mediadores da Fundação Iberê Camargo, Mila apresentou aos estudantes temas da nova museologia, conceitos de mediação cultural e os projetos da Pinacoteca. Na conversa abaixo, ela fala sobre a aproximação com os públicos e o papel dos museus e dos educadores de arte na contemporaneidade. Nos dias de hoje, qual é a função social do museu?
O museu deve servir como um espaço de compartilhamento das opiniões, das descobertas e de construção de conhecimento. Pra que se possa questionar noções de identidade, de valor, de crença, de moralidade, de ética.
Nesta perspectiva, onde se encontra aplicada a ideia da chamada nova museologia? Como ela funciona? Museologia é a ciência que estuda a instituição chamada museu, estuda todos os seus âmbitos. Portanto,
o museólogo deve ser capaz de montar um museu de uma maneira global, integrada. Não só em termos de sabedoria, mas em termos de administração também, em termos de necessidades espaciais e físicas. Enfim, entender o âmbito geral e analisar o que é e o que poderia ser isso que a gente chama de “museu”. Na década de 1970, ficou muito claro para alguns países da América Latina que esta instituição, se continuasse se apegando aos moldes europeus do século XIX, não teria porque existir na nossa realidade. Nós temos uma maneira de ser, uma condição política, social e econômica. E, por isso, criou-
se a ideia de uma nova museologia, ou seja, de se pensar museus que tivessem uma relação intrínseca com a comunidade da qual fazem parte. Que fosse possível não só essa apropriação do entorno da instituição, mas também que a instituição pudesse se transformar na velocidade em que a comunidade esperaria. Isso aconteceu em 1972 e, de lá pra cá, muitas experiências foram realizadas. Nos anos 1980 e 1990, principalmente, houve um grande boom de museus no mundo – de museus comunitários e ecomuseus a museus de grande porte, museus de arte contemporânea, enfim. Muitos teóricos comentam
que talvez esta explosão na construção de museus tenha sido uma resposta ao processo de perda de
identidade, e da necessidade, portanto, de ampliar o espectro de espaços que pudessem garantir a questão da identidade local, regional, nacional. Por outro lado, ainda há muita discussão. Por exemplo: em São Paulo temos o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Futebol, o Catavento. Esses espaços – que também estão pululando em todo o mundo – têm características muito distintas dos museus tradicionais. Você não tem um acervo, ou o acervo não é objetual, não é físico – é um acervo de imagens, é um acervo absolutamente imaterial, que
precisa de lógicas materiais para se concretizar. Até que ponto um museu explicitamente participativo, ou de ciências mais contemporâneas, em que tudo é aprendido através da participação, não é um centro de interpretação ou um centro de atividades, mais do que um museu? Para a nova museologia, tanto faz. O que abre portas para essa experiência de pensamento é que os museus respondam às necessidades especiais, cumpram sua função social e não estejam apenas a serviço das suas coleções, mas também voltados para os interessados e, portanto, àquilo que o público quer e pensa.
Qual é o papel do núcleo educativo dentro de um museu, sob esta perspectiva? Se fosse possível, gostaria de ter um museu que não precisasse de educadores, que a educação estivesse jogada pelas paredes, pelo teto e pelo chão. Um museu que fosse construído conceitualmente de maneira voltada a falar com um público que não é feito de especialistas, um público que precisa ser estimulado e

www.iberecamargo.org.br
motivado naquele espaço. Para mim, este seria o melhor de um museu. Mas, como isto não acontece, entendo que o educativo acaba assumindo a função de tornar acessíveis à maior parte do público essas relações de construção do conhecimento, que são importantes para todos. Ou deveriam ser.
Você tem formação em artes, e continua produzindo como artista, mas passou a se dedicar à arte educação. Como funciona o seu trabalho dentro da Pinacoteca? A Pinacoteca é uma instituição com 105 anos de existência. Em 2002, ela passou a ser dirigida pelo Marcelo Mattos Araújo que, já nos primeiros momentos, começou a falar da importância da educação e da prioridade que daria a ela dentro da construção deste novo modelo de Pinacoteca que ele tinha em mente. Acho que esta foi uma oportunidade especial, porque ele é museólogo de formação, o que quer
dizer que tem uma visão de museu muito apurada, muito bem posicionada. Poucos museus têm a possibilidade de ter um museólogo na direção. Ele me chamou para coordenar a área educativa, que, ao longo da história da Pinacoteca havia passado por momentos em que era muito forte – como nas décadas
de 1970 e 1980 – e por outros em que se desarticulava. Quando cheguei, ela estava nesta situação, atuando um pouco no seu patamar mínimo, de forma muito desarticulada, só pela boa vontade dos educadores que estavam lá tentando fazer alguma coisa. Portanto, cheguei com uma tarefa grande: por um lado, resgatar aquele momento de glória da década de 1980, que é muito presente na memória da
população de São Paulo, e, por outro, constituir um processo educativo contemporâneo. A partir daí, realizamos pesquisas de público que mostraram um pouco do perfil dos visitantes e, ao mesmo tempo, outros tipos de público que poderíamos ter a intenção de abarcar, mas que não estavam participando do universo da cultura. Que públicos eram estes que estavam de fora? Que tipo de barreiras fazem com que as
pessoas não visitem os museus? O que se pode fazer para vencê-las? Existem inúmeras barreiras. Barreiras internas, barreiras conceituais, barreiras cívicas, e acho que a ordem da exclusão perpassa todas elas. Na verdade, elas são quase uma trama, da qual é preciso desfazer os nós. Acredito que, internamente, a maior barreira é a transformação da mentalidade dos próprios profissionais dos museus – e quando falo de profissionais dos museus não estou falando de
curadores, conservadores, nada disso. Estou falando de todo mundo que trabalha no espaço: atendentes, seguranças. Temos que mudar a mentalidade desta população para a ideia de que o museu é um lugar
de todos. Esta transformação é muito lenta, esbarra em alguns conceitos muito radicalizados, calcificados dentro das pessoas, e exige um trabalho conciso, constante, temático e perseverante. Ao mesmo tempo, as pessoas que estão fora partilham desta mesma mentalidade, de que o museu é um espaço que resguarda a cultura da elite. E, de fato, ele é, em grande parte, isso mesmo. O museu tem discursos articulados, constrói discursos a partir de objetos que foram selecionados. No caso da arte, esta seleção é ainda muito mais voltada para a elite, uma vez que a população média não vai adquirir uma obra de arte contemporânea para colocar na sua residência, mas o museu vai tê-las expostas. E há também a própria
barreira dita geral, arquitetural. No caso da Pinacoteca, que está em uma região degradada, que tem uma grade interna, a instituição acaba sendo um “castelinho”. Pra entrar, você tem que romper este primeiro portão, passar pelos seguranças e subir uma escada de mármore, pra poder entrar no “castelinho”. São barreiras que parecem muito pequenas se você partir da sua cultura, mas para um público que não está acostumado com estas coisas, elas são impedimentos físicos que reforçam a ideia de que o museu é diferente.
Tivemos a oportunidade de fazer, em 2008 pra 2009, uma pesquisa muito interessante: saímos às ruas perguntando nos arredores se as pessoas conheciam a Pinacoteca e porque já tinham ido ou porque não tinham ido. E isto foi muito importante para que o museu tivesse uma comunicação melhor. É um fato que a palavra Pinacoteca não é acessível a todo mundo. Além disso, a pesquisa apontava algo muito interessante: toda esta característica física da Pinacoteca criava uma sensação ao público externo de que a Pinacoteca era um local muito caro para entrar. Mas são R$ 4. Nas quintas, R$ 2. E sábado é gratuito.
Se você falar que não tem dinheiro, você entra gratuitamente. Então, este não é um empecilho real, mas na mentalidade das pessoas é. Então, é esta a transformação pretendemos fazer. Como estes primeiros visitantes podem se transformar em freqüentadores dos museus? Qual é a experiência que se deve proporcionar a estas pessoas? Não tem fórmula. Eu acredito em alguns mecanismos, e outras pessoas acreditam em outros. Para mim, por exemplo, o conhecimento deve sair da cabeça e passar pelo corpo. Essa é uma crença minha.
Acredito que, quando você experimenta algo para além do cognitivo, isso tende a criar uma etapa uma
sensação de realidade. É uma coisa que nós sentimos e que perpassa um universo para além do cognitivo. Então, acredito que se você desdobra uma experiência cognitiva com possibilidades de ela passar pelo corpo, tem uma estratégia para conduzir uma experiência no outro. É claro que não tem como garantir que isto aconteça, mas é um dos muitos caminhos possíveis. Outro caminho possível, no

www.iberecamargo.org.br
campo exclusivamente da cognição e da percepção, é utilizar o campo das descobertas. Ao invés de referendar coisas conhecidas, já debatidas, comuns ou óbvias, é preciso criar situações em que o visitante seja capaz de descobrir por si só um determinado conceito, uma determinada interpretação.
Isto, então, vai passar a ele uma sensação de apropriação que é também da ordem da experiência. Acredito que, se você atinge este objetivo, é isto que vai fazer o público voltar. Ele só volta se vive uma determinada sensação, uma determinada experiência naquele lugar. Se fala muito na questão de atualizar sempre o museu. Ao mesmo tempo, no imaginário comum, o museu é algo que remete à conservação. Então, há um paradoxo: como um lugar que preserva pode se atualizar? Ele deve se atualizar?
Se não se atualizar, morre. Simples assim. Nossa cultura é muito clara nesse âmbito. A instituição que não é capaz de se adaptar a novos conceitos, às novas visões de mundo simplesmente perece. Perde sua função e deixa de ser importante. Então, nesse sentido, acho que o museu tem, sim, se atualizar. Esta é
uma questão gigantesca no âmbito da museologia. Mas, por exemplo, a ideia de ter uma exposição de longa duração do acervo e exposições temporárias que possam complementá-la, que possam trazer novos públicos, que possam ter impacto de mídia – porque isso, atualmente, é significante pros museus – é um modelo bastante recente. A ideia de “exposições blockbuster” também é uma muito recente,
quase nem existia no Brasil. Então, os museus vêm se adaptando, não só no sentido de pensar uma instituição mais social, com todas estas questões que se fala na nova museologia, mas também de se adaptar ao hipercapitalismo. O fato de a Fundação Iberê Camargo, por exemplo, estar em um não-lugar, um lugar de passagem, e ter este prédio como um marco geográfico visível, comemorado, também vem da demanda de adaptação do museu. Se não, se continuaria construindo adaptações de prédios do século XIX, e não uma sede como esta.
Imagem: Fundação Iberê Camargo
Porto Alegre, março de 2010.

www.iberecamargo.org.br
Conversa de arquitetos Autor da sede da Fundação Iberê Camargo, Álvaro Siza fala sobre o
projeto e suas referências O arquiteto português Álvaro Siza, considerado um dos principais nomes da arquitetura contemporânea, é o responsável pela criação da nova sede da Fundação Iberê Camargo, inaugurada em Porto Alegre em Maio de 2008.
Com o projeto iniciado em 1998, Siza ganhou o Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2002, e o mérito especial na Trienal de Design de
Milão, além de ter sido contemplado com a Medalha de Ouro Real de 2009, pelo Instituto Real dos Arquitetos Britânicos (RIBA's 2009 Royal Gold Medal). No Brasil, o arquiteto foi agraciado com a Medalha de Ordem ao Mérito Cultural, em 2007.
Na conversa a seguir, realizada em 4 de janeiro de 2009, Siza fala sobre o projeto da Fundação, suas referências e um pouco de sua trajetória à também arquiteta Adriane De Luca. Paulista, ela iniciou a graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUCRS, em Porto Alegre, e a concluiu na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, em Portugal. A entrevista faz parte da pesquisa para sua dissertação de mestrado, apresentada à universidade portuguesa no ano passado. Intitulado Fundação
Iberê Camargo, Álvaro Siza. Uma aproximação crítica o trabalho analisa as principais características formais, estruturais, funcionais e semânticas do projeto.
O objetivo do estudo foi a estruturação de um discurso fundamentado numa leitura crítica da obra, que pretende explorar uma visão suplementar àquelas mais comumente aceitas que
estabelecem paralelismos entre o projeto e a arquitetura brasileira, buscando, por sua vez, outras relações. Eu acho bem. Começaria então por falar do sítio, que é um tema recorrente nos estudos sobre o seu trabalho. É conhecida a frase “a solução está no sítio”, no entanto, existe uma entrevista em que comenta que não são as características físicas do “sítio” de que fala, mas as da
“atmosfera”. Neste sentido, gostaria que expusesse o que para você exprimiu a dita “atmosfera” de Porto Alegre. Também é física, e no caso de Porto Alegre conta muito porque [o terreno] é um sítio dificílimo: um buraco, um rio do lado, um estreito. Portanto, teve muita influência no projeto tentar adequar-se à topografia. Agora, noutros aspectos, o que me sensibilizou muito, me impressionou, foi aquilo que tem
muito a ver com o Brasil, com a reação de um europeu, particularmente de um português, no Brasil. Pela vastidão do espaço, aquela toalha d‟água em frente [Guaíba], enormíssima, e a luz. As duas coisas estão
relacionadas. A toalha d‟água que tem os poentes mais bonitos que eu já vi, vermelhos, é maravilhoso! Portanto, esta sensação de espaço sensibilizou-me muito, teve muita influência. Depois, a relação com a cidade, com o centro da cidade, que também é uma coisa muito interessante. A gente tem que sair do centro da cidade, seguir aquela marginal com jardins e estar a uma certa distância do fervilhar da cidade. Do edifício vê-se a cidade toda, aquelas janelas foram muito pensadas, também houve um bocado de sorte, porque a gente às vezes engana-se no ângulo. Realmente, quando se faz o percurso das rampas,
há umas janelas de que se vê a cidade inteira. Depois, noutros ângulos, vê-se a outra margem e a tal grande toalha. Daí que eu diria que as coisas que mais me impressionaram valem da própria dificuldade do projeto, que é uma coisa imediata. Um primeiro pensamento: “Conseguir-se-á pôr aqui um museu?”, “Conseguir-se-á, ainda, espaço para passar um carro de carga e descarga por trás?”, porque não poderia passar pela marginal. Teve muita influência. Mas também uma sensação, olhando para aquela escarpa, mesmo antes
de pensar na questão da carga e descarga, de que o edifício não poderia tocar naquilo. Aquilo é lindíssimo, é revestido por vegetação, como acontece por aquelas bandas. Isto dá destaque ao edifício. Eu diria que as coisas que mais tiveram influência, de imediato, foram: a relação com a cidade, a relação

www.iberecamargo.org.br
com o rio, a luz e a beleza daquela escarpa. É resultado de uma pedreira, portanto, não é exatamente natural, é feita. Mas é a maneira como a vegetação toma conta daquilo. Outra coisa que me impressionou, ao princípio mal, é que eu não gostava daquela torre ao lado.
Penso que mais pessoas partilham esta opinião. Não, mas eu depois fiquei amigo, a torre ficou amiga do museu. Quero dizer, ela não é bonita, mas tirou-lhe aquele isolamento absoluto, de modo que há como que um diálogo entre eles, é assim como mulheres muito bonitas que vão sempre acompanhadas com uma feia. [risos] E sobre a arquitetura de Porto Alegre?
O que salta é a cidade nova, com grandes edifícios, não tão intensa como São Paulo, claro, porque isto depende do número, mas muito intensa. Há alguns exemplos de boa arquitetura contemporânea nestes edifícios altos. Depois, é muito interessante o balanço disso, da nova arquitetura com uma arquitetura de
fim de século/princípio de século, de que há lá alguns exemplos de ruas inteiras, daquelas casas muito ecléticas… Não é uma arquitetura erudita, de grande qualidade, mas tem um sabor especial que a gente encontra muito na América do Sul, em geral, encontra pontos comuns na Argentina, na Colômbia etc. Aquelas casas românticas, com muita decoração, bem construídas. É muito interessante ver esse balanço
entre uma arquitetura feita há pouco tempo, contemporânea, e o que resta destes pedaços. Mencionou certa vez, também, as árvores de Porto Alegre. Pois é, eu esqueci-me desse aspecto. Ali, a vegetação irrompe com uma intensidade fantástica - sabe que a arquitetura, ainda que não tenha muita qualidade, com as árvores à frente…É uma coisa que apela muito, que impressiona muito, a pujança do verde no meio da cidade, os vossos corredores verdes. A
arborização dos arruamentos, no fundo, prolonga essa presença do verde até o coração da cidade. Tenho uma pergunta que talvez não seja respondível. Sei que, em geral, há um fio condutor para os projetos, e no projeto da Fundação Iberê Camargo talvez mais de um, diria que gira muito em torno da questão do percurso. Mas, ao acompanhar o processo do trabalho,
permanece a dúvida: é possível precisar em que momento, a partir deste fio condutor, chega à solução final e define: “agora está pronto”?
Sim, é respondível. É por aproximação, quando me entregam um trabalho que eu aceito, a preocupação que tenho de imediato é começar logo, depois até pode levar muito tempo, mas é começar quando ainda está quente a sensação de ser convidado para aquilo, seja grande ou seja pequeno. Portanto, falou bem numa linha, é uma meada, é tricotar. É necessário, o mais depressa possível, apanhar a ponta da meada, porque depois é um percurso de paciência, de impaciência, de horas de trabalho que a gente vai tricotando. Muitas vezes começo, como quase sempre começo, mesmo com pouco estudo ainda do fundo do problema, baseado nalgumas impressões imediatas e quase diria num certo instinto, o que leva a que
apareçam nos esboços, que talvez tenham sido publicados, coisas muito diferentes. No princípio, muito inquieto, mas realmente não é inquieto, é como andar a rodear o tema e, à medida que vão surgindo ideias de formas do exterior e da relação com a paisagem, se desperta a necessidade de conhecer melhor o problema. A aquisição, o domínio do problema nos seus mais variados aspectos, é pedida pelo desenvolver desses esboços. Muitas vezes é saltitante, quero dizer, uma via ali, porque me impressionou qualquer coisa, depois, a auto-crítica: “Estará bem?”, “Vamos lá ver se isto corresponde”. Eu comecei [o
projeto para a Fundação Iberê Camargo] por um edifício baixo, o que quer dizer que nem tinha a noção ainda da área de que necessitava, mas às tantas vai evoluindo e a gente sabe: “Não cabe assim”. Havia uma coisa muito forte que era: “Para onde vai o estacionamento?”. Há uma versão em que o acesso seria por cima. No desenvolver do projeto, no arranque, há o que impressiona, o que sensibiliza, e há os obstáculos. Os obstáculos são uma coisa fantástica para a elaboração de um projeto. Quanto mais dificuldades tem,
mais flui o pensamento. O terreno está mesmo confinado por uma rua com muito movimento, de sentido único, felizmente - felizmente naquele caso, eu nem gosto muito dos sentidos únicos, mas naquele caso, para o museu felizmente -, senão teria sido muito mais complicado. Portanto, a primeira ideia que eu tinha era [o estacionamento] lá em cima e desce num elevador, depois vim a constatar que, primeiro, incomodava os residentes da zona. Egoísticamente, primeiro não pensei nisto, porque estava atrapalhado - “Para onde é
que vai o estacionamento?” -, mas depois soube que, além disto, os terrenos ali são muito caros, é uma
zona residencial de luxo e, portanto, não só haveria a recusa da vizinhança por ter movimento lá dentro, como não haveria dinheiro, era muito difícil conseguir verba para expropriar os terrenos e nem seria autorizado. Foi um problema, provavelmente o que mais me preocupou nessa altura, e disse à Comissão: “O único sítio que há é debaixo da estrada, eu acho isso extremamente difícil, mas realmente não

www.iberecamargo.org.br
encontro outro sítio para a garagem, e acho a garagem imprescindível”. Depois vinha o [engenheiro José Luiz] Canal e outras pessoas da Comissão, o [Presidente Executivo, Jorge] Gerdau, entabularam associações com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e realmente conseguiram obter aprovação,
resolvendo esse gravíssimo problema. Permitiu, também, um acesso direto ao subsolo do edifício. Não podia fazer uma cave na área do edifício, primeiro porque é muito estreito, mas além disso, o nível freático só permite, dentro do possível, um piso subterrâneo e eu precisava da cave para depósitos, arquivos, administração… Consegue-se libertar todo o pouco terreno para o museu por inteiro e, quando o terreno começa a estreitar, vão lá para baixo as outras coisas. Então surgiram aqueles pátios. A carga e descarga pode ser feita parcialmente através da garagem, para coisas miúdas, e a grande carga é feita por trás, no piso térreo, com um grande monta-cargas e um acesso de serviço. O acesso para toda a
atividade do museu é sempre por cima, o público sai da garagem, tem um ascensor e uma escada, para um caminho que é para quem vier pelo passeio, portanto, canalizando tudo num mesmo percurso.
Queria falar um pouco sobre geometria e aproveitar o tema para falarmos das possíveis relações, que procuro ilustrar na dissertação, que há entre a Fundação Iberê Camargo e outras referências, nomeadamente, aquelas de arquitetos que você aprecia e que aparecem manifestamente em sua obra. Um exemplo é a questão da curva, que penso ter ficado de certa
forma vulgarizada nos vários discursos sobre o projeto como sendo uma espécie de “inevitabilidade” perante a arquitetura brasileira, em especial a de Oscar Niemeyer. Gostaria de entender até que ponto isso pode ser mesmo considerado uma referência a priori ou, ao contrário, uma explicação a posteriori. Sabe que a referência para um arquiteto que está a trabalhar há 50 anos já não é como era quando eu estudava - ver revistas, entusiasmar-se, tomar ideias. Quando eu entrei na Escola, estava mais ou
menos fixado em um arquiteto, que era o Le Corbusier. A Escola queria ser moderna e era o Le Corbusier, depois começaram a aparecer outros. A formação de um arquiteto é de maior conhecimento, a gente começa a viajar, a ver muito mais coisas e descobre que não há só um ou dois, embora eles possam se destacar, mas que há um mundo inteiro de beleza na arquitetura. Vai assimilando isto a um ponto tal que o que se passa ao projetar já não é “Bom, aqui segue o Niemeyer”, porque tudo isto que
nós vimos está cá dentro [aponta para a cabeça]. E muitas vezes acho engraçado porque são apontadas pela crítica referências em que eu nunca pensei.
Era exatamente esta a minha questão. Por exemplo, a da Lina Bo Bardi, nunca pensei, nunca me veio à cabeça. No entanto, não há dúvida que eu vi a Lina Bo Bardi e apreciei muitíssimo. Subconscientemente tem aquilo registrado. Está no subconsciente, está no armazém, e vem ajudar-nos sem mesmo nos apercebermos disto. Quero
dizer, assimila-se, são partes de nós próprios, de maneira que a posteriori a gente pode descobrir. Não quer dizer que, às vezes, não se vá buscar mesmo uma referência, porque basta que faltem argumentos indicativos para o desenvolvimento do projeto que a gente pode mesmo precisar de ir buscar uma referência. Mas ela depois dilui-se, porque ajudou um passo do projeto. A posteriori eu posso reconhecer, realmente vi a Lina Bo Bardi e aquilo tem a ver. Quando me falaram nisto, lembro-me que o comentário que eu fiz foi: “Ah, pois é verdade, eu e a Lina Bo Bardi lembramo-nos da Fábrica Van Nelle, na Holanda,
que tem aqueles tubos”. No entanto, talvez a Lina Bo Bardi nem conhecia ou não tinha ligado muito, não teve na mente dela. Na dissertação, falo da relação dessas rampas, por exemplo, com a Maison Citrohan, de Le Corbusier, relacionada aos primeiros esboços que você fez para a Fundação Iberê Camargo, em que as rampas ainda seriam encostadas ao edifício e não afastadas. Também nunca pensei. Talvez em quem eu tenha pensado mais objetivamente, a certa altura, tenha sido
- embora não veja formalmente colaboração, mas pela ideia - o Guggenheim [de Nova York, projetado por Frank Lloyd Wright]. Mas nos museus, quase que não há ninguém que não pense numa rampa, porque o percurso num museu é particularmente importante, a gente vai dar um passeio para ver arte. Portanto, neste sim. Lembro que foi outra obra que me impressionou muito, mas não quer dizer que formalmente tenha sido influência. Eu, a posteriori posso ver, também nunca pensei nisso, mas posso ver mais relação com algumas coisas do Alvar Aalto. Mas isto pensei a posteriori, quando começaram a falar das referências, porque uma coisa que usa muito o Alvar Aalto é combinar a geometria e a forma
orgânica. A forma orgânica praticamente ali tornou-se o simétrico da cova de um lado, do outro lado é
muito geométrico. De um modo geral é muito geométrico o museu. O Alvar Aalto usa muito essa combinação de geometria „ortogonalidade e curva‟, quando trabalha, muito baseado em aspectos da paisagem. Portanto, vejo muito mais essa relação, mas realmente também não pensei nela e o Alvar Aalto fartei-me de visitar e estudar.

www.iberecamargo.org.br
Antes de ler a memória justificativa, em que fala dessa relação de simetria com a escarpa, eu havia visto uma imagem do antigo levantamento aerofotogramétrico do terreno, bastante mais simplificada que o levantamento atual de que dispõe, e reparei que neste levantamento
simplificado a forma mais arredondada é ainda mais semelhante à do volume principal da Fundação Iberê Camargo. Pois é. Mas para chegar lá não foi assim de repente. O que se fez foi logo uma maquete do terreno, isto faz-se sempre, que ajudou muito. Depois fizemos maquetes mais pequenas, uma série delas. Fizemos uma muito grande que era onde eu entrava, o que agora tenho feito porque não me é fácil visitar tantas obras como há uns anos atrás, quando é assim longe. Ainda fui bastantes vezes [a Porto Alegre], mas muito mais foi o colaborador [o arquiteto Pedro Polónia]. Portanto, ele trazia as dúvidas que encontrava
no cumprimento do projeto, ou o que lhe parecia que era um caso importante. Alguns colaboradores são muito precisos nisto, apercebem-se de o que é que a mim vai impressionar. E eu, ao invés de estar a folhear 300 desenhos, cortes e plantas, ponho a cabeça dentro do edifício [em maquete].
Aproveitando o fato de ter falado em Frank Lloyd Wright, queria mostrar uma imagem que encontrei, durante a pesquisa - agora vou fazer o papel da “crítica”, de que falou, que por vezes aponta referências a posteriori. É um estudo inicial para o Museu Guggenheim de Nova
York, uma versão de planta baixa hexagonal que, quando vi, surpreendeu-me logo pela ligação com a Fundação Iberê Camargo. É… por acaso não conhecia, onde é que encontrou isso? Nunca tinha visto. Aquilo que é mais interessante neste desenho é como ele [Frank Lloyd Wright] começa com um edifício de planta poligonal e depois muda para o redondo, isto é que é fantástico!
Ainda sobre as referências, já que falamos em Le Corbusier, quando mencionou que inicialmente ele foi a referência maior e talvez ainda seja… Ainda. Já se disse muito mal do Corbusier, mas, finalmente… o Corbusier realmente é o grande arquiteto do século XX, com o Frank Lloyd Wright - de uma maneira mais impressionante da arquitetura, impressionante não será o termo, é de uma segurança, de uma poesia, aquela atmosfera que é uma
coisa incrível. E o Corbusier é muito mais Picasso, é impressionante, não há figura assim. Depois, é a parte da sua obra da pintura, da escultura, que é muito boa, e os escritos. Toda a sua ação de “agente
cultural” é muito incrível, não há ninguém assim. Nessa altura, na Escola, havia muito pouca informação, até porque eu apanhei um período imediatamente a seguir à guerra. Houve interrupção de publicações e Portugal era mantido muito isolado, mesmo as revistas mais pacíficas deviam ser consideradas subversivas, de maneira que só via as que ainda vinham na altura. Depois, os livreiros perderam contato, havia poucos arquitetos. Perdeu-se a ligação que houve à Europa, fortíssima nos anos 1930. Muita informação foi cortada a nada, sobretudo da
Holanda, França e Itália, eram os principais, e Alemanha, evidentemente. Mas além disso, houve arquitetos como o Manuel Marques, que foi nosso professor, que trabalhou com o Corbusier, o [Januário] Godinho, que casou com uma holandesa e trouxe muito de lá, ia passar as férias lá, mais tarde, muitos anos depois, final dos anos 1940 e anos 1950. Daí vem a ligação do Godinho ao Frank Lloyd Wright. Na Holanda é evidente a influência de Wright. Também o [Arménio] Losa casou com uma alemã e ia passar as férias à Alemanha…“Cherchez la femme!”. [risos]
E, ainda mais tarde, as viagens do arquiteto Fernando Távora… O Távora era uma pessoa com uma cultura muito sólida, já com grande conhecimento da história da arquitetura portuguesa. Quando se decide ir para a arquitetura é logo um acto revolucionário, porque a família queria que ele fosse engenheiro. Ele tinha um irmão que era um grande engenheiro e achavam miserável optar por ser arquiteto, o pensamento era esse na altura. Ele vai para arquitetura e começa a se interessar, mas, claro, era a arquitetura moderna. Quando entrou, já se interessava, e a grande
referência para ele era o Corbusier, era também a mais óbvia. Depois, ele muito novo começa a ir aos CIAM [Congrès Internationaux d'Architecture Moderne], como um membro português dos CIAM, ele e o Viana de Lima. Viaja muito, portanto, é uma pessoa com um papel muito especial na arquitetura aqui, porque tem essa sólida cultura tradicional e esse apetite pelo moderno. Escreve, novíssimo, um livro que deve conhecer, O Problema da Casa Portuguesa, que é como que uma reação ao A Casa Portuguesa, do Raul Lino, em que exatamente, muito novo, traça o seu caminho ou o que quer que seja o seu caminho: raízes e inovação.
Era Corbusier, mas depois, com essa nova geração que entra, o Távora, o [Octávio] Filgueiras, o [Agostinho] Ricca… Carlos Ramos chamou-os novíssimos, recém-formados e acertou em cheio. O Carlos Ramos era um tipo inteligentíssimo. Portanto, lembro que, à determinada altura, pouco a pouco começaram a chegar revistas, porque também o Regime já não tinha apoio com o Fascismo na Europa,

www.iberecamargo.org.br
de modo que houve uma abertura no aspecto cultural e na arquitetura. Então, começam a aparecer as revistas e o cinema italiano, o Neo-realismo. [A revista] L’Architecture d'aujourd’hui nunca interrompeu durante a guerra.
Um dia, aparece o Távora, exatamente, com um livro embaixo do braço, muito entusiasmado - a Escola era pequenina, aquilo era uma família - assim: “Brazil Builds”. Teve um impacto tremendo, basta ver que a maneira de representar o desenho mudou por completo, eram aqueles desenhos com linhas todas fininhas, os pilares eram uns pontos…Mudou muito, duma forma tremenda. Depois começa a aparecer, muito através dos italianos, o retomar da história da arquitetura. E depois surge a Casabella, mais sólida revista. Portanto, começa a haver muita informação e também começam os primeiros balbucios de
viagem. Nesta altura, eu já era [Professor] Assistente da Faculdade, já tinha feito a tese, e fomos estudantes e professores à Holanda e à Finlândia ter com o Alvar Aalto, a Paris e a Veneza, houve o aparecimento da [Fundação Calouste] Gulbenkian, eram bolsas, viagens pagas. Isto foi um arranque para
um apetite de conhecer e viajar. Portanto, relativamente à arquitetura brasileira, poder-se-ia dizer que, à certa altura, os “pais” passaram a ver os “filhos” como modelo?
Sobre a arquitetura brasileira há uma explicação claríssima para o sucesso que teve, que, na verdade, foi dum impacto tremendo. Não é só pela sua qualidade, também é, evidentemente, mas é porque tinha muito a ver com uma linha saída do Corbusier. O que deu o vôo ao Niemeyer foi o sucesso nos Estados Unidos. No Brasil, as pessoas começaram a dizer: “Este tipo é bom!”. E há outra coisa, que é o homem muito influente que foi o Lúcio Costa, ele tinha um profundo conhecimento da arquitetura e da cultura portuguesa.
Ele é o “nosso” Távora. É. Ele veio cá a Portugal, veio à Escola com as filhas, fez muito sucesso. Depois foi passear, foi para Trás-os-montes e outros sítios… Visitou a Boa Nova [Restaurante e Casa de Chá da Boa Nova]. Lembro que ele fez um comentário, ele não ficou muito bem impressionado e disse-me assim: “Sabe que os telhados na
arquitetura portuguesa não são assim, são muito simples”. Ele tinha uma grande paixão pela arquitetura tradicional portuguesa, os solares, que depois no Brasil deram os maravilhosos sobrados. Portanto, ficou
impressionado, achou que era um bocado “romper”. O que eu queria dizer é que o Lúcio Costa foi muito importante, tinha essa grande ligação com a cultura e a arquitetura portuguesas e era um diplomata habilíssimo. Liderou, de certa maneira, o lançamento da Arquitetura Moderna Brasileira, quando ele esteve nos Monumentos Nacionais. Às tantas, um ministro [Gustavo Capanema Filho] foi um tipo fantástico, que os apoiou, porque dentro dos Monumentos Nacionais havia os tradicionalistas, conservadores. Lúcio Costa convida Niemeyer para fazer o hotel em
Ouro Preto. Então, o Niemeyer faz basicamente um hotel como a ideia do Costa, mas com terraço, e aquilo cai como uma bomba. O Lúcio Costa chama-o: “Põe um telhado, senão não se consegue”. Então, [Niemeyer] fez aquela versão dum telhado muito pouco telhado, mas era um telhado, era telha, e consegue ser aprovado. Depois há uma grande luta entre os conservadores. A Exposição [Feira Mundial de Nova York, 1939] foi importantíssima, e quando entra em cena o Corbusier há uma luta tremenda a puxar para um lado e para outro. A mais interessante que eu conheço é da Universidade do Rio de
Janeiro, em que o grupo dos conservadores chama o [Marcello] Piacentini e outro grupo, do Lúcio Costa, chama o Corbusier. Ao fim ao cabo, não faz nem um nem outro. Mas Corbusier passa a ser figura muito influente, já era. E o que eu não sabia, que também é muito interessante, é que o Corbusier foi introduzido no Brasil pelo Gio Ponti. O Gio Ponti é que levou a que ele fosse convidado para fazer as conferências. Ele esteve duas vezes no Brasil, depois houve as conhecidas confusões sobre a autoria de
projecto do MEC. O Távora uma vez perguntou ao Niemeyer sobre isto, eu não estava. “Afinal, como foi o Ministério da Educação?”. E o Niemeyer respondeu: “O Ministério da Educação é do Corbusier e ponto”. Mas, também já li em relação a isso, no Brasil, a dizer que o primeiro projeto do Corbusier era completamente diferente e depois houve um esboço do Niemeyer e que o Corbusier copiou o Niemeyer… Ainda sobre Corbusier, há uma entrevista com você, feita pelo arquiteto Fernando Serapião,
em que ele pergunta sobre a referência à Lina Bo Bardi e você entende que ele está a
perguntar sobre a relação das janelas da Fundação Iberê Camargo com os “buracos” do SESC-Pompéia. Sobre essas janelas, eu falo da relação com outros “buracos” que são realizações do Corbusier para o Palácio da Justiça, de Chandigarh, que também têm aquela forma ovalada. Também, é verdade.

www.iberecamargo.org.br
Portanto, isto retoma a questão que falou das influências que começam a ser tantas e inconscientes…
Evidentemente. Um principiante, um aluno de primeiro ano - agora já não é assim, mas no meu tempo -, copiava um, isto ali ou lá, começava assim. Neste caso, o que estava na moda era o Corbusier. Depois, os arquitetos realmente copiam (mas às vezes nem sabem que estão a copiar) por duas vias: ou surge uma ideia semelhante em duas pessoas que nem se conhecem, o que acontece porque [as ideias] “andam no ar”, ou copia de tantos, para usar essa palavra que não é “copiar”, evidentemente, tem é tantas armas que usa e às vezes nem sabe o que é que está a usar. É inconsciente.
Eu conto uma história engraçada: fiz aquele Complexo Residencial [Schlesische Straße, Bonjour Tristesse, Berlim, Alemanha, 1990], e já depois de ter acabado este edifício, já estava construído, estava a passear com alguém que trabalhou comigo lá e, de repente, não longe do edifício, vejo uma série de
edifícios, uma grua e exatamente esta forma assim [desenha], e digo: “Pá, olha, alguém está a copiar-me!”. Ele desatou-se a rir, porque era um edifício em demolição. [risos] Está bem, quase que tenho a certeza de que terei visto o edifício porque era no caminho, era muito perto, agora, não fixei, mas ele veio cá para dentro [aponta para a cabeça], é a única explicação.
Uma última pergunta. As que eu gosto mais são as últimas. Sobre o pintor reverenciado, Iberê Camargo, é um tema muito importante no estudo, pois penso que se existe alguma relação de “homenagem” à cultura brasileira...
A homenagem, se há, é tentar fazer o melhor possível porque eu gosto muitíssimo. A pintura dele é de uma autenticidade… Ali, não há nada para agradar ou intelectualizar, uma autenticidade incrível! O que acontece é que ele é contemporâneo do [Cândido] Portinari, e o Portinari trabalhou com o Corbusier, portanto, [Iberê] teve contactos para ir para França e para os Estados Unidos, é um tipo que
fez a sua promoção. O homem tem uma vida muito complicada, sabe? Retirou-se para Porto Alegre e nunca mais saiu, mas antes esteve em Paris, pouco tempo, também trabalhou com o [Giorgio De]
Chirico. É muito dramática a obra dele, mas também tem coisas de encanto, das bicicletinhas… Ele é fantástico!
Imagens: Álvaro Siza
Porto Alegre, abril de 2010.

www.iberecamargo.org.br
Pelos espaços experimentais Ricardo Resende conversa sobre arte
descentralizada e editais de fomento às artes Diretor do Centro de Artes Visuais da Funarte, Ricardo Resende tem uma ampla carreira em museus. Mestre em História da Arte pela Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo, trabalhou no
Museu de Arte Contemporânea da USP e no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Desde 1996, é
coordenador do Projeto Leonilson, criado para pesquisar, catalogar e divulgar a obra do artista. Entre 2005 e 2007, foi diretor do Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza.
Atualmente, a Funarte tem 34 editais abertos, que irão premiar mil artistas das áreas de teatro, dança, circo, artes visuais, fotografia, música, literatura, cultura popular e arte digital. Em paralelo, acaba de lançar também a terceira edição do Prêmio Interações Estéticas – Residências Artísticas em Pontos de Cultura, que entregará 127 prêmios, que variam de R$ 15 mil a R$ 90 mil. Na entrevista a seguir, Resende fala sobre sua trajetória profissional, arte fora do eixo e editais de fomento às artes.
Trabalhar em uma região descentralizada (no sentido geográfico), como era o caso do MACCE, dá uma liberdade maior para direção investir em projetos experimentais? Sim. Nem é “descentralizada” a palavra certa, mas, “periférica”. Periférica no sentido de estar em um entorno, que é o que determina o mercado, principalmente, do eixo Rio-São Paulo. Acho que quando você está fora deste eixo, e não tem o compromisso forte com o mercado de arte, você tem nas instituições – e nos espaços alternativos também – uma liberdade muito maior de experimentar. Então, é
mais ou menos com este foco que a direção do Dragão do Mar, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará, se deu. Quando você tem muito pouca verba, como era o nosso caso lá, também é uma saída trabalhar a experimentação, lidar com a criação do artista in loco, no espaço expositivo – local de criação do artista e também de experimentação de sua própria obra. Isto, obviamente, abre espaço para uma obra efêmera, que não tem compromisso com a conservação, com o mercado, com o pós-venda. Acho que este ambiente, na verdade, se torna mais promissor. E é interessante pensar isto porque, se formos
ver, entre Rio de Janeiro e São Paulo há uma carência de espaços alternativos, de espaços que realmente se configurem como experimentais. São Paulo, principalmente, acho que é uma cidade que hoje carece disto. O Rio tem A Gentil Carioca, por exemplo, que se configura como “espaço de experimentação”,
mesmo sendo uma galeria compromissada com o mercado. É o que eles propõem. Mas São Paulo não, se você for pensar. O que predomina lá é mesmo o mercado, são as discussões fortes e que, obviamente, arriscam pouco. Então, acho que esta é a diferença e a vantagem de estar em um local “periférico”, no sentido geográfico queestou falando.
Você poderia falar um pouco sobre o Projeto Leonilson? Sua história e seus objetivos mudam de alguma forma com ele se tornando uma instituição? Pensando um pouco, hoje, sobre o acidente com a obra de Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro, que estava sob domínio da família, acho que pensar o Projeto Leonilson é importante porque esta é uma iniciativa muito bem sucedida neste sentido. O Projeto nasceu de uma vontade da família e de amigos do artista – entre os quais havia curadores, críticos de arte, artistas, jornalistas, colecionadores e amigos. Esta era
talvez a característica mais importante: o que unia as pessoas era a amizade, um certo dever de amizade para com o artista e sua obra. E isto deu, de uma certa maneira, sustentação para a família, e possibilidade de levar o projeto adiante com bastante cuidado, sem ultrapassar limites nesta relação de herdeiros e herdeiras com a obra, de maneira a não manipular, a não limitar a circulação dela. Foi
montado um conselho do Projeto Leonilson em 1994 – logo após da morte dele, em 1993 – oficializando-o, com ata, instituto, tudo direitinho. Então, isto deu sustentação para que a gente continuasse até hoje,
de maneira muito bem sucedida no sentido da colocação da obra de Leonilson no meio institucional e no

www.iberecamargo.org.br
mercado. A valorização de sua obra nos anos 1990 e 2000 é, basicamente, devido a este trabalho que foi desenvolvido nestes quase 15 anos de projeto.
O projeto foi marcado por ações muito bem sucedidas. A primeira delas foi começar a catalogação e organizar um livro que desse conta da obra, além de fazer uma exposição retrospectiva, que ficou a cargo da Lisete Lagnado. Ela foi coordenadora e curadora destes primeiros anos do projeto e responsável por esta solidificação do trabalho. Eu acabei entrando em 1996, exatamente para substituir a Regina Teixeira de Barros, que estava substituindo a Lisete neste momento também, para dar continuidade ao trabalho dela. Então, meu trabalho foi isto: tentar cumprir esta agenda de colocação da obra no exterior, de parcerias com outros curadores, com os críticos. Houve colocação das obras no MoMA, na Tate
Modern, o que tornou Leonilson um dos artistas mais bem representados no exterior. Acho que isto contribuiu, também, para uma valorização, no sentido positivo, da obra do artista. Agora falta o principal do projeto, o que a gente encontra maior dificuldade hoje no país: conseguir financiamento para a
realização do catálogo raisonné das obras. Este é o objetivo inicial do projeto, mas até agora não conseguimos cumpri-lo, porque, obviamente, há muito pouco interesse por um patrocínio deste tipo no País. Esperamos que surja algum projeto, ou algum edital, que contemple este tipo de coisa. Estamos pensando sobre isto na Funarte também. Como diretor da Funarte hoje, tenho a proposta de um edital –
que depende ainda da aprovação do Fundo Nacional de Cultura – para contemplar a realização de catálogos raisonné, ou catálogos-gerais de obras dos artistas. Este foi um ponto muito questionado na época do Hélio Oiticica, que ele não tivesse uma catalogação geral ainda, com o risco grande da perda de obras dele ali. Isto mostra que é uma questão muito importante em várias iniciativas semelhantes a essa do Leonilson.
É interessante a descoberta da importância desta iniciativa, porque até então não se tinha esta preocupação de organização da obra do artista. É tudo muito recente. Da década de 1980 para cá que se começou a criar uma consciência museológica que permite a criação destes projetos. Hoje, há vários, se você for pensar. Tem a catalogação da obra da Lygia Clark, do Hélio Oiticica, do Amílcar de Castro, do Sergio Camargo... Há uma mudança muito importante, mas é preciso encontrar mecanismos, porque é
bem difícil. Arcar com o catálogo é muito oneroso. Por exemplo, o Projeto Leonilson tem sido mantido desde 1994 pela própria família, por venda de obras. Mas isto não é muito bom, também, porque se
acaba desmontando o acervo, o legado, e interessa preservar o núcleo importante da obra. Então, precisamos realmente encontrar um meio de financiamento para que consigamos finalizar esses projetos. Já que você mencionou a Funarte, quais são as suas expectativas para o projeto Conexão Artes Visuais deste ano? Há alguma mudança em relação ao ano anterior? Procuro dar continuidade ao trabalho. No projeto Conexão, que está em sua segunda edição neste momento, tentamos apenas aprimorar algumas coisas. Principalmente, a parte burocrática,
administrativa, para facilitar para as pessoas a apresentação de projetos. Também deixamos mais amplo, justamente permitir a participação da maior diversidade possível do que compreendemos hoje por arte contemporânea. Não falamos apenas de artes visuais no Conexão, tentamos abrir o máximo possível as possibilidades do edital para que seja possível fazer, por meio dele, desde um site como o da Fundação Iberê Camargo, um meio de comunicação de artes eficiente, até um encontro de artistas. Procuramos deixar cada vez mais abrangente. E isto é uma lógica pra todos os outros editais. Estamos cada vez mais
procurando simplificá-los, facilitá-los e torná-los o mais amplos possível, focando na produção artística contemporânea. Você sustenta as salas da Funarte não precisam, não podem e até não devem competir com museus e galerias tradicionais, com fins mais comerciais. De que maneira elas devem se diferenciar? Quando assumi o meu cargo na Funarte, a primeira coisa que me chamou a atenção é que elas eram
apenas gerenciados através de editais, e que esses editais, na verdade, não garantiam também o caráter experimental que elas deveriam ter. Então, minha iniciativa foi a de nós mesmos impormos, internamente, convites para artistas, exposições, coletivos, para que se pudesse criar este ambiente experimental. Por que acredito que um espaço público, como esse da Funarte, por sua própria natureza, por ser a Fundação Nacional das Artes, deveria ter um caráter mais experimental. Foi esta a ideia que tentei implantar neste primeiro ano de gestão da Funarte. E, pensando este espaço urbano de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, em um processo de criação de sítio. Mas estas são cidades que
já tem toda uma estrutura de museus e galerias comerciais que não justifica mais um espaço deste tipo.
Portanto, as salas da Funarte tem que assumir esse papel de experimentação, e da maior radicalidade possível, no sentido de não-limitações. Acho que o Estado tem que garantir isso. No ano passado, tivemos experiências neste sentido interessantes na Funarte de São Paulo. No Rio de Janeiro, porém, tivemos um problema maior: o espaço arquitetônico, que é onipresente. A sala de

www.iberecamargo.org.br
exposições da Funarte no Rio é no edifício Gustavo Capanema, o primeiro edifício moderno do Brasil. Ele é a matriz de tudo da arquitetura moderna brasileira, é um edifício-escola. Formou o Niemeier, o Lúcio Costa, o Burle Marx, então tem esta importância muito grande. E o espaço de exposições – que é o
mezanino, na verdade – resume muito desta arquitetura. Então, neste salão, o que temos que priorizar é a arquitetura, e o artista tem que se adaptar a isto. Ele tem que criar em função desta arquitetura. E esta é uma proposta difícil de fazer. Por isso estamos, inclusive, mudando o espaço estruturalmente também, deixando o espaço livre, vazio para ter esta arquitetura em sua plenitude, e a partir daí ser ocupada. Criamos um edital de ocupação destes espaços que deve, de alguma maneira, garantir este caráter experimental Prêmio de Arte Contemporânea, que selecionará 15 projetos de artes visuais para
exposição nos espaços culturais da Funarte/MinC no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília e em Belo Horizonte. Nele, damos um pouco das características de cada lugar para que o artista possa, a partir daí, ter mais liberdade de criação das propostas. No final do ano passado, tivemos uma experiência com o
Ateliê do Centro, um ateliê coordenado por Rubens Espírito Santo, artista de São Paulo, que ocupou durante três meses uma sala. Eles passaram a morar lá mesmo: construíram uma casa, o espaço onde eles cozinhavam, tudo isto no espaço expositivo. E era também um local onde eles produziam e discutiam arte.
De que forma se deve pensar uma coleção pública? Como sua estrutura e abrangência, em sua visão, devem se diferenciar de uma coleção particular? Uma coleção pública, de um museu público, não tem que estar atrelada ao mercado, às galerias. Nós temos, na verdade, liberdade de contemplar toda a diversidade da produção de arte moderna e contemporânea brasileira. E o colecionador vai montando sua coleção, vamos dizer assim, em função de
seu lugar mesmo, ou talvez de investimento. São princípios contrários aos de uma coleção pública. Então, acho que temos que pensar nisto. Temos, por exemplo, o edital Marcantônio Villaça, e tentamos justamente garantir que se formem coleções neste sentido, mais abertas. E abertas ao experimental também, que permitam ao artista produzir a obra no próprio museu, dentro do museu.
Imagem: Fundação Iberê Camargo
Porto Alegre, maio de 2010.

www.iberecamargo.org.br
O peso do imaterial Maria Bonomi conversa sobre sua
trajetória e a linguagem da gravura Nascida na Itália em 1935 e vinda para o Brasil aos 11 anos de idade, Maria Bonomi tornou-se um dos grandes nomes das artes no país.
Dedica-se, sobretudo, à gravura e seus desdobramentos, mas também é escultora,
pintora, muralista, curadora, figurinista, cenógrafa e professora.
Maria já teve exposições individuais e coletivas no Brasil e em diversos países do exterior. Estudou Teoria da Arte na Columbia University, nos Estados Unidos, e é doutora pela Escola de Comunicação e Artes da
USP. Em 1960, fundou com Lívio Abramo o Estúdio Gravura, em São Paulo, um ateliê experimental voltado para o ensino de gravura em madeira e metal. No mês de março, participou do Programa Artista Convidado do Ateliê de Gravura da Fundação Iberê Camargo, produzindo obras no espaço que pertencia ao gaúcho. Na conversa abaixo, Maria fala sobre sua trajetória artística e o trabalho com a gravura, que considera uma linguagem mais do que uma técnica.
A sua trajetória teve início muito cedo, ainda na década de 1950, quando você começou a estudar pintura e gravura. Em seguida, seus trabalhos foram vistos por Lasar Segall, que a indicou para Yolanda Mohaly. Este caminho surgiu de uma vontade sua ou foi algo
circunstancial? De muito criança, eu sempre desenhei, era a minha expressão. Você quer o lado anedótico? Fui uma criança surda, só me normalizei aos onze anos com uma operação. Então, eu ficava muito silenciosa,
muito sozinha. E desenhava, desenhava. Tanto que meu pai achou que eu iria fazer história natural, porque desenhava muitos bichos, especialmente morcegos, lagartos, rasteiros. Fazia muitos trabalhos neste sentido – que eram com pontas, pontas de lápis. Aí, minha mãe me levou – acho que meio desesperada – até Lasar Segall, para ver se aquela ocupação do tempo era lógica ou não. Ele mandou minha mãe ficar fora da sala, me recebeu, abriu a pasta e viu todos os desenhos lentamente, e só ia dizendo: “Você tem que trabalhar com Yolanda Mohaly, ou com outro artista, você tem muito talento”. Isto me animou muito, e me deu um caminho legítimo: fui legitimada por ele. Então, comecei a trabalhar
com Yolanda, com Karl Plattners, que era um artista visitante, e, posteriormente, com Lívio Abramo, que me aceitou depois de três meses de luta, porque não queria. Por quê? Ah, porque é aquela coisa: ninguém acredita que alguém queira fazer gravura. Mas um dia eu entrei em
uma exposição – já estava desenhando e trabalhando com outros artistas – e vi a obra dele, com aquele rigor, aquela transparência, aquela questão das linhas, da gravura. Foi meu grande encontro com a
gravura ver a xilografia de Lívio Abramo. E eu trabalhei com ele, vinha trabalhar sempre com ele, mesmo depois de ir para os Estados Unidos, onde obtive uma bolsa de estudos. Quando voltei, ainda fui ser assistente dele, até que entrou a ditadura militar e ele foi perseguido – e eu de certa maneira também – e veio para o Paraguai. Depois disto, concorri a uma bolsa norte-americana e acabei indo para o Pratt Institute, em Nova York, onde trabalhei com um chinês, Seong Moy. Também na Columbia University trabalhei com Meyer Shapiro.
Por quê você diz que Lívio Abramo não acreditava que alguém quisesse fazer gravura? A gravura não é frívola. Ela tem um caráter muito duro, muito decisivo. Tem características infernais. E solicita uma entrega muito grande. Então, a gravura não é glamorosa, não tem esse lado festivo que talvez outras artes possam ter. Além disto, para uma mulher, naquele tempo, lidar com instrumentos, com ácido... Apesar de que já tínhamos uma grande gravadora, a Renina Katz, que se inspirava muito na Kate Kollwitz, uma gravadora alemã. O Lívio me deixou três vezes lixando madeira – porque eu fazia
gravura em madeira. Até hoje, de preferência faço xilografia. Acho que a madeira oferece a questão do direto, da coisa direta. No metal, você faz o ácido, vai, volta, retorna. Tem este lado laboratorial que se distancia muito do resultado. Mas, ao mesmo tempo, ele enriquece este resultado, porque você vai somando coisas que, na madeira, são muito mais limitadas. Você tem um corte, você tem o cheio e o

www.iberecamargo.org.br
vazio. Você trabalha respirando o material. No metal, você pode anexar coisas à chapa. Então, o percurso é totalmente outro.
Sou fanática por gravura, sou fanática pela obra gravada de Iberê Camargo, sou fanática pela obra gravada de Arthur Luiz Piza. Eles foram artistas – ou melhor, são artistas, porque o Piza está muito ativo ainda, em Paris – que saíram da gravura para o conhecimento do mundo. Eles levantam questões importantíssimas da visualidade, com o poder de uma intimidade muito grande, de um choque, sem querer agradar a platéia, sem fazer uma obra decorativa, sem fazer nada que combine com nada, a não ser uma expressão da própria intimidade, da própria força.
E é assim que você enxerga o seu trabalho também? Acho que sim. Enxergo com muita calma, mas acho que ele tem um empenho muito grande. É uma área da arte que não se faz concessória – e isto que é a primazia da gravura. Volto a falar de Iberê, que fez
uma pintura tão rígida quanto a gravura, uma pintura tão escavada, como se fosse gravura. Por isto a coerência do pensamento, da imagética dele com o que ele sentia a respeito da questão universal. Existem aspectos universais da gravura, identificados com a expressão de... achievement, não sei como se poderia dizer, uma questão material, uma questão de espírito...
Difícil de traduzir. Poderíamos dizer que os conflitos entre o material e a ideia são a própria essência da obra. Então, ela vive do conflito. Isto pode parecer paradoxal, inquietante, mas é verdadeiro. Em todos os casos, o significado de projetar, ou seja, “pró-jetar”, significa transpor qualquer coisa do interior de nós mesmos para o exterior. Então, nossa apropriação já é o segundo movimento, visto que o primeiro está na nossa
mente. A gravura tem essa possibilidade, porque tem o tempo do fazer, que atua muito no tempo de perceber a ideia que nós mesmos temos. Então, como lidar com os fatores inesperados da gravura? É o conflito da matéria com a ideia. Você sabe que um fator inesperado pode ser introduzido no trabalho,
na medida em que você já tem em mente alguma coisa. E isto pode acontecer ou não. A gravura, enquanto resultado, se refere ao mundo visível, perceptível pela retina – e também pelo tato. Mas
enquanto conceito, enquanto ideia, ela se conclui totalmente em nossa mente. Com isto, estou quase chegando a dizer que há uma matriz mental e há uma matriz realizada. Nós as transpomos para um terceiro suporte, através da técnica, uma materialidade que era mental, que era uma verdade nossa, que era uma imagem anterior ao que se fez. Assim, realizar uma gravura é, antes de mais nada, ter uma ideia gráfica. E possuir valores gráficos, antecedendo a sua materialidade. Quer dizer, a gravura poderia ser até considerada imaterial, e não necessariamente gravura.
Eu tenho uma obra que se chama 7 Horizontes do Homem, que ganhou um prêmio na Trienal de Praga como gravura. Mas ela não é uma gravura: são sete patamares de vidro, onde se sobrepôs materiais como sal, terra, carvão, cacos de vidro, com significados que correspondem às camadas da gravura quando você imprime. É uma viagem. E é um barato, é extremamente mágico. A gravura impõe a essencialidade, ela não brinca. Não dá pra ser superficial com a gravura. É um universo. É como ser pianista, ser bailarino. A gravura é uma linguagem, não é uma técnica.
Justamente, esta era uma questão que eu também queria perguntar a você. E é uma boa questão. Eu acho que a gravura é uma linguagem. Assim como se tem o cinema, a pintura, se tem a gravura, se tem a dança, entende? Não é um corredorzinho que permite que você multiplique cópias, multiplique pinturas. Ao mesmo tempo em que você menciona esta questão de a gravura ser tratada como uma
forma de multiplicação de obras, na sua carreira você também lutou por grandes tiragens, pela democratização da arte. Então, como fica este meio termo? O que você acha que acontece hoje em dia com a gravura? Bom, aí é que está. Eu sou fanática pela gravura, mas pela gravura como ponte, como passagem. Ela é tão rica em sua essência, que pode fornecer milhares de saídas – no sentido de crescimentos da percepção de outras coisas. Por exemplo: a gravura tem uma matriz. E a matriz é móvel. Tem também os sulcos, que podem ser gigantescos, não precisam ter um milímetro, dois centímetros. E você tem as
paredes da cidade, você tem a sua escala humana, você tem a arte coletiva, você tem as grandes
platéias. Uma tiragem de gravura são várias cópias semelhantes a uma original, que podem alcançar um grande público. Mas se eu quero alcançar um público maior ainda, multiplico esta platéia e vou para um espaço público. Ou seja, aumento os fruidores, que podem ver minha gravura na parede, com 70m x 5m. Ainda é uma gravura. É uma gravura na sua essência, na postura destas questões do sulco, da

www.iberecamargo.org.br
sensibilidade, do tato, da visibilidade. Só que está em uma grande escala, a que eu chamo de arte pública.
Embora a linguagem se mantenha a mesma, do ponto de vista técnico, quais foram as questões que você teve que modificar para levar a gravura para o espaço público? É preciso magnificar. Pegar um sulco pequeno e repensá-lo, redesenhá-lo em materiais e suportes que habilitem o novo formato. Assim, você passa a ter uma grande série de colecionadores, que são todos aqueles que vão ver a sua gravura naquele momento. Então, você muda, a plateia cresce, mas você não perde a essência do que está comunicando: os sulcos, o relevo alto e baixo, os claros e escuros. E você pode realizar tudo isto em uma escala contemporânea, que é fora do gabinete, do pequeno formato, da
intimidade. É como um concerto de rock. Eu não posso ficar fazendo uma obra de caráter medieval e tirar umas poucas cópias só porque ela me dá coisas sensíveis, e perco toda a contemporaneidade, que é um concerto de rock. Eu quero estar acontecendo visualmente a nível de Madonna [risos]. Mas com uma
diferença: a pessoa pode ir lá ver quando quiser e não tem que pagar nada. Você tem também projetos ligados ao vestuário, certo? Fiz muita cenografia, fiz muitos figurinos, anos atrás. Até recentemente eu acabei fazendo obras neste
sentido, mas já não tenho muito tempo disponível para a produção destas coisas. O que tenho feito, de vez em quando, é um trabalho de passar algumas imagens para a superfície de tecidos, produzindo bolsas, gravatas, lenços. São veículos, como faço também troféus, faço gravura aplicada ao design, ao lúdico, em qualquer superfície que é possível. Ao mesmo tempo, meu trabalho é muito empenhado com o processo da criação. Então, não tem muito
frufru, entende? Não consigo trabalhar no plano, assim, do festivo. A gravura é pesada. Imagem: Fundação Iberê Camargo
Porto Alegre, maio de 2010.

www.iberecamargo.org.br
A força do gesto Célia Euvaldo conversa sobre sua trajetória e a
influência minimalista de sua obra
A paulistana Célia Euvaldo sempre estudou artes, mas amadureceu durante bastante tempo a ideia de tornar-se
artista. Formada em Comunicação Visual e com licenciatura em Artes Plásticas pela PUC-RJ, ela mudou-se para Paris no início da década de 1980, onde estudou pintura e gravura e
expôs no Salon de La Jeune Peinture. De volta ao Brasil, fez sua primeira exposição individual em 1988, na Galeria Macunaíma, no Rio de Janeiro. Desde então, Célia já expôs,
entre outros lugares, no Paço Imperial, também no Rio, na 7ª Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, no Equador, na mostra Arte Contemporânea Brasileira, na Galeria Nacional de Belas Artes de Pequim, na China, na Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, na Estação Pinacoteca e no Museu de Arte Moderna, ambos em São Paulo.
Suas pinturas de forte influência minimalista tornaram-se conhecidas e consolidaram uma poética marcada pela presença do gesto. Convidada do Ateliê de Gravura da Fundação Iberê Camargo, Célia conversou sobre sua trajetória e as características de sua obra.
Como foi o seu começo nas artes? Como é que você decidiu por essa área?
Eu não sei se consigo determinar um começo. Sempre foi aquela coisa: a pessoa da família que desenhava bem, que gostava de desenhar. Sempre tive um interesse grande por desenho quando criança. Ficava criando coisas sozinha e, por isso, meus pais me puseram em escolinhas de arte e sempre me estimularam. Eu morava no interior de São Paulo, em São José dos Campos, que hoje é uma cidade relativamente grande, mas que era, na época, bem pequeninha. Então, eu acaba indo para São Paulo fazer cursos. Ia e voltava no mesmo dia. Para mim, tudo era praticar. E assim, aos poucos, fui me
dirigindo. Mas demorei para me assumir como artista, para me voltar realmente para isto. Por quê? Porque quando fui fazer faculdade, eu achava que precisava encontrar uma profissão. Pensava: “bom, gosto de desenhar e gosto de crianças, então poderia abrir uma escolinha de artes para crianças”. Então fui fazer pedagogia. Mas não cheguei a terminar o primeiro semestre, não suportei. Daí fui fazer uma faculdade de arquitetura que tinha lá na cidade, que era bastante experimental e voltada para as artes.
Só que, dois anos depois que entrei, ela fechou. Aí fui para o Rio de Janeiro, estudar Comunicação Visual e licenciatura em artes. Com isso, fiz cursos de gravura e comecei a dar aula de artes para crianças. E então fui para a França, onde passei um tempo. Pois é, você foi para lá muito jovem, não apenas em termos de idade, mas de carreira... Eu não tinha um trabalho artístico. Comecei a fazer gravuras, mas nem tinha na minha cabeça que queria ser artista.
Então essa estada na França foi determinante para esta decisão? É, talvez dê para dizer isso. Eu nunca me disse isso. Mas, de alguma forma, foi sim. Lá, eu não trabalhava, só fazia bicos pra ganhar um dinheirinho. Então, estava muito voltada para a arte: ia aos museus, às galerias. Participava também de ateliês de artes, de pintura, de gravura... Mas o engraçado é que só quando voltei para o Brasil, anos depois, que meu trabalho tomou uma forma própria. E a esta
altura eu já estava com 30 e poucos anos. Então, acho que eu precisei dar todas estas voltas para poder fazer esta decisão.
Você sempre desenhou, e depois, já como artista, passou a trabalhar também com pintura e com gravura. Como é o seu trânsito entre técnicas? Como as características da sua poética se mantém em diferentes suportes?

www.iberecamargo.org.br
É, eu também vejo o que você está falando. Tenho uma poética muito minha, e que vem apesar de mim mesma. Já fiz também instalações com luz neon, depois trabalhei muito tempo sobre papel, e depois com pintura. Então, vejo que, uma vez que você tem a sua poética, dá para você transitar bem. Mas, no meu
caso, sempre tenho que me concentrar por um período em um determinado meio, porque um trabalho vai levando ao outro, e sinto que preciso estar meio impregnada daquele meio. Para mim, é o trabalho que me leva e conduz, não eu que conduzo o trabalho. Sendo assim, você chega a traçar possíveis divisões em seu trabalho por fases, por períodos, por meios, ou não? Até traço sim. Tem os primeiros desenhos, feitos com linhas horizontais, que chamo de “os minimalistas”.
Eles tinham uma espécie de regra do jogo: traçar linhas horizontais paralelas, sempre à mão, com todas as variações de pinceladas e de tinta. Depois, veio o período com desenhos sinuosos, que chamo de “matisseanos” – vindos depois de uma ruptura mesmo, em 1991. Tive uma crise com o trabalho, não
sabia para onde ir, e cortei mesmo: comecei a fazer naturezas mortas, que funcionavam como se eu estivesse reaprendendo a desenhar. Passei meses e meses no ateliê desenhando qualquer coisa que estivesse na minha frente. Daí, isto foi dar em uma série de desenhos sinuosos, que depois ficaram grandões. Eu trabalhava no chão, subia em cima do papel e desenhava à minha volta. Estes desenhos,
depois, também foram para a tela, ainda sinuosos, mas já com tinta a óleo, pintados com vassoura, ou seja, com pinceladas grandes. Em seguida, vieram as pinturas pretas, nas quais comecei a encher mais a tela, e alternar pinceladas de vassoura com passadas de rodo, que funcionava como espátula. Depois, eu queria mudar, e então, um dia, fiz uma pintura com tinta branca, igualzinha as que fazia com tinta preta, e achei que, sem mudar o modo de fazer em nada, tinha mudado tudo completamente. Então, comecei a fazer as brancas, já em 2004 ou 2005, por aí. E, agora, estou fazendo brancas e pretas, tanto faz. Mas
elas estão mais simplificadas: a pincelada é maior ainda, mais larga, feita com uma vassoura de 60cm. Com uma pincelada, cubro meia tela. E isto simplifica, tem menos acontecimentos. Acho que minhas obras estão mais calmas. Como é essa sua relação com as cores?
Acho que qualquer cor que não for branco ou preto vai tirar a força do gesto. Vai sobrar, vai atrapalhar.
Você fala que a ideia de marca, ou de percurso da pincelada, sempre foi muito importante para você, mas que, em um dado momento, suas obras deixaram de apresentar um tempo contínuo, um percurso que se poderia acompanhar sem interrupções. E, já que você falou que é o trabalho que a leva, e não você que o conduz, como você vê este tipo de mudança de “fases” nas suas obras? Há uma espécie de “pedido” do trabalho? Nunca pensei numa resposta para isto. Mas acho que eu fui vendo, com o tempo, que meu trabalho é o gesto, mas não é gestual. Ele não precisa ter uma coisa contínua. O gesto pode estar em um movimento
breve, ou na energia que ele tem. Então, eu acho que percebi que não precisava mais demonstrar todo o percurso do meu gesto. E aí começou a me interessar ver os restos que ficavam: de um movimento superposto, ficava aparecendo por baixo alguma coisa. Você fala da importância do gesto, mas não de expressividade. Meu trabalho sempre mostra muito o resultado de um gesto, mas não vem carregado de expressividade.
É um gesto gesto. É preciso – embora eu use muito dos acidentes e dos acasos. Mas ele tem que ter precisão, até para se contrapor a estes acidentes que eu incorporo. Não é, por exemplo, como o de Iberê Camargo, que é um gesto expressivo. Inclusive, meu gesto, em geral, é lento. Às vezes, ele parece rápido, porque você vê o percurso, a tinta mostra o percurso. Mas ele é lento, sempre. Até há energia no gesto, mas é uma energia no sentido físico, e não no sentido expressivo. Qual é a dificuldade – se é que existe alguma – de se ter um trabalho de característica mais
sintética, mais mínima, como o seu? Existe um momento em que parece que as possibilidades vão se esgotar? Há como contornar isso? Tem, o tempo inteiro. Muitas vezes fico pensando: “quero mexer, mudar um pouco o trabalho”. Aí vou, mexo e, quando vejo, mudou só um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, mudou muito. Então, é difícil. Eu, volta e meia, acho que estou girando em círculos – e, de certa forma, meu trabalho gira, sim, mas em espiral. Ele volta aos mesmos pontos, só que de um jeito diferente. É incrível que eu não consigo sair muito daquilo. Isso, sei lá, sou eu. Meu trabalho é assim porque é. Mas preciso de muita concentração
para fazê-lo, porque ele também acontece de uma forma muito rápida, então tenho que estar ali, inteira,
no momento em que estou trabalhando. Faço um quadro em duas horas, ou até menos, e termino exausta. Porque, fora o esforço físico – que é grande porque meus quadros são grandes – há o esforço de concentração. Muitos pintores ficam fazendo uma mesma obra semanas e semanas, vão e voltam, não conseguem parar... Eu faço isto em duas horas. Então, fico exausta.

www.iberecamargo.org.br
Esta carga física do trabalho foi algo que foi crescendo para você à medida que também as dimensões das obras foram crescendo?
Não, acho que a consciência disto é que foi aumentando. E esta consciência fez que você buscasse mais formas de usar o corpo no trabalho? Não, não fui atrás disto. Porque acho que, de qualquer jeito, ele já está lá. Talvez até nos meus desenhos ele estivesse mais presente. Quer dizer, agora, ele está mais sob a forma de esforço; nos desenhos, estava sob uma forma quase que de dança.
Imagem: Fundação Iberê Camargo
Porto Alegre, julho de 2010.

www.iberecamargo.org.br
Em diálogo com o entorno Jorge Menna Barreto conversa sobre seu
trabalho e a participação no Ateliê de
Gravura da Fundação O gaúcho Jorge Menna Barreto é formado em Artes Plásticas pelo Instituto de Artes da
UFRGS, mestre em Poéticas Visuais pela USP e, atualmente, cursa doutorado na mesma instituição. Já realizou, entre outras,
exposições individuais no Torreão, em Porto Alegre (2000), na Artspot Gallery, em Atlanta, nos Estados Unidos (2003) e no Paço das Artes, na capital paulista (2007), além de ter participado de coletivas como a Bienal de Havana (2000), o Projeto Rumos Itaú Cultural (2002) e a Bienal do Mercosul (2001 e 2009).
Na edição do ano passado, apresentou Máquina de Comover, uma série de intervenções em textos de sites, jornais, outdoors e pôsteres. Menna Barreto tem investigado, como artista e pesquisador, a relação do trabalho de arte com seu contexto e os possíveis desdobramentos da prática do site-specific na atualidade. Segundo o artista, “a expressão tem viajado mundo a fora e servido para caracterizar os mais diversos trabalhos, em diversos contextos, agregando a eles um suposto selo de atualidade e legitimação”. Daí seu interesse em pensar
as especificidades locais e os problemas relacionados a este tipo de obra de arte – que, seguidamente, resultam em cursos e palestras sobre o tema.
Na conversa abaixo, Menna Barreto fala sobre sua trajetória e a participação no Programa Artista Convidado do Ateliê de Gravura, em maio deste ano. Como surgiu seu interesse por arte?
Em família, a partir da minha irmã, Lia Menna Barreto. Na minha adolescência, sua casa era o lugar que eu mais gostava de frequentar. Percebia uma liberdade no ar, que logo se tornou uma vontade de praticar esta liberdade. Em seguida, por recomendação dela, fui ter aulas com o artista Jailton Moreira. Foi lá que vislumbrei a possibilidade de que a arte pudesse, então, tornar-se uma profissão, ou melhor, uma escolha de vida. O lugar onde Jailton dava aulas era a Escolinha de Ex-alunos da UFRGS, que funcionava no mesmo prédio do Instituto de Artes da Universidade.
Além de ter estudado com Jailton Moreira, você fez seu bacharelado com especialização em desenho. Mas também trabalha com instalações, com intervenções (como a da Bienal do ano passado), com instalações-performances. De que forma estas múltiplas escolhas respondem a
diferentes propostas no seu trabalho? Sempre tive bastante dificuldade de utilizar categorias para enquadrar a minha prática. O que foi recorrente, por muito tempo, foi mais uma certa metodologia de trabalho do que uma categoria. A
multiplicidade de linguagens que utilizo está relacionada a isto, à metodologia de trabalho site-specific. Cada situação acaba sugerindo diferentes abordagens, de acordo com suas especificidades. Lembro-me bem que, no final da minha graduação, em 1997, no Instituto de Artes da UFRGS, dei-me conta de que, desde o início do curso, em 1991, tinha uma permeabilidade extrema aos ambientes, professores e alunos de cada disciplina. Ou seja, a cada semestre, a cada disciplina, eu mudava a linguagem, o meio, as motivações do meu trabalho. Isto causava um certo conflito, pois não conseguia
achar a tal "assinatura" que caracteriza muitas vezes um fazer artístico, algo que permitisse a alguém identificar que uma obra era minha, por exemplo. Fui muito cobrado pelos professores, que apontavam esta minha instabilidade. De uma certa forma, na época em que estudei, era esperado que um artista se formasse com um certo estilo próprio, ou que os anos na academia favorecessem a descoberta do que
seria este estilo próprio. Isto nunca fez sentido para mim, já que minha prática e meu pensar eram muito definidos a partir do entorno, como comentei. Assim, descobri nas práticas site-specific uma "solução",
ou uma forma de trabalhar que permitisse esse diálogo intenso com o entorno, com os lugares onde eu faria exposições, sem ter que me deter em um estilo específico que me caracterizasse. Mais tarde, no mestrado, também teorizei sobre isto, e despersonalizei a questão, entendendo que estava lidando com

www.iberecamargo.org.br
diferentes paradigmas da arte, em relação à posição que o artista ocupa na sociedade, que está relacionada às ideias de moderno e pós-moderno também. A modernidade sempre incentivou a busca do "gênio" artístico, esta "assinatura" de que falo, que considera o artista uma pessoa super especial e que
vive de uma inspiração vinda de uma subjetividade que é muitas vezes glamourizada. É isto que faz que consigamos reconhecer a autoria de certas obras, muitas vezes, por sua identidade. A pós-modernidade já inclui muito mais os fluxos de uma exterioridade, e desconstrói, seguidamente, a ideia do gênio e do artista como este alguém tão especial e inspirado. Hoje em dia, me vejo como um prestador de serviços muito mais do que como um artista, no sentido moderno do termo. Dou aulas, escrevo, pesquiso, faço curadoria, dou palestras... Enfim, presto vários tipos de serviços artísticos.
Em 2005, quando foi selecionado pela Bolsa Iberê Camargo, você já falava do interesse pelas práticas site-specific e seus desdobramentos, e dizia: “Chamo-as de práticas, pois entendo o site-specific como um procedimento, e não como uma categoria, como costuma ser
utilizado”. Você também falou que, no Brasil, o termo tem sido usado acriticamente, sem tradução e ignorando as especificidades locais. Que especificidades seriam estas? E que tipo de atitude crítica, na sua opinião, o site-specific requer? De lá para cá, que caminhos sua pesquisa a respeito desta questão tomou ou vem tomando?
Esta sua pergunta é complexa, e poderia discorrer longamente sobre ela. O site-specificity foi, para mim, uma obsessão por quase dez anos, e fiz mestrado para me livrar desta obsessão. Mergulhei fundo no conceito e no termo e acho que exauri o problema – pelo menos para mim – ao propor uma dobra do conceito sobre o termo. Ou seja, poderíamos dizer que o próprio termo site-specific é uma construção site-specific, que depende de uma língua, de um contexto histórico, de uma forma de pensar que são típicas dos Estados Unidos das décadas de 1960 e 1970. Isto se reflete na minha produção
plástica, principalmente a partir da série Lugares Moles, que propõe quase que uma inversão da ideia de site-specific. É claro que estas reflexões não me abandonaram, mas já não são mais tão centrais. Minha dissertação está publicada no site www.jorgemennabarreto.com. Seus trabalhos muitas vezes vão ao encontro do público de maneira muito próxima, tornando-
o não só espectador, mas também motor da obra. De que forma esta relação funciona como acionamento do trabalho?
A preocupação com o público é frequente, não somente como motor da obra, como você diz, mas como alguém que a completa ou “descompleta”. São relações de afeto que busco, no sentido da habilidade do trabalho de afetar e ser afetado pelo público. No entanto, há que se tomar muito cuidado com a noção de participação. Muitas vezes, ela se torna um mero "obedecimento" de um script já previamente dado pelo artista. Ou seja, a noção de participação pode ser facilmente banalizada. Acho interessante quando o trabalho se multiplica no espectador, no público, e torna-se dele, fugindo do meu campo de domínio e previsão, emancipando-se. A real participação é esta que ativa o trabalho e faz aparecer coisas que
estavam somente insinuadas, ou sugeridas, em potencial. Este tipo de participação é rara, pois exige um empenho grande por parte do público, e exige tempo, muito tempo. Isto se vê muito claramente, por exemplo, em Amor-tece, Con-fio e Massa – que também são trabalhos que lidam com pesos e medidas. Este lado “matemático” e “racional”, digamos assim, funciona como uma espécie de base para o trabalho poético? Como se dá esta
articulação? A ideia de trabalhar com pesos e medidas tem muito a ver com a linguagem da arte, como, por exemplo, a da escultura. As ideias de massa, volume, peso presentes nestes projetos faz um comentário também um pouco jocoso com este vocabulário e “conceituário” da arte, mais do que o com o mundo matemático ou racional. São relações possíveis, mas acho que tem mais a ver com a ideia de transparência da matéria, por exemplo, no sentido escultórico – como aquela ideia do artista que consegue "enxergar" através do bloco de mármore e ver lá dentro a figura, o que quer esculpir, o que libertar. Neste sentido,
saber o peso de um corpo seria parte do mesmo exercício de abstração de um corpo, de uma massa, ou do ver através. Acho que estes projetos também têm uma forte relação com seu entorno, e devem ser analisados a partir do contexto para o qual foram criados. A obra que você criou no Ateliê de Gravura da Fundação Iberê Camargo trabalha com a palavra – outro ponto de presença marcante no seu trabalho. Além de usar o texto como parte do projeto antecedente à obra e da reflexão posterior à obra, como ele se tornou parte integrante
da obra?
Acho que minha formação no Instituto de Artes, que aconteceu na década de 1990, aproximava muito a obra de arte de seu lado discursivo. Professores como Élida Tessler e Hélio Fervenza foram inspiradores na aproximação com o texto, assim como Maria Amélia Bulhões e Mônica Zielinsky, que também foram importantes referências na reflexão sobre a palavra em arte. Foi uma época de criação e fortalecimento

www.iberecamargo.org.br
dos programas de pós-graduação em arte no Brasil, e isto trouxe um tempero discursivo para a obra de muitos artistas que se formaram neste período. No meu caso, o texto entrou como matéria mesmo, não somente como discurso sobre o trabalho. Em Porto Alegre, o meio acadêmico se fortaleceu na década de
1990, mas o circuito de museus e galerias não tanto. Isto nos fez buscar ancorar e resolver nossas inquietações no meio acadêmico, na arte entendida como pesquisa e não necessariamente orientada para a produção de um objeto. Esta aproximação com a academia e com o discurso é muito sedutora, mas corre o risco de tornar-se intoxicante, se não for relativizada. Percebi estas questões mais claramente quando me mudei para São Paulo, que tem um circuito de instituições de arte e galerias muito aquecido. De qualquer forma, estes trânsitos entre arte e palavra me parecem ricos, embora também tragam consigo muitas crises. Se estas crises vazarem para o meio, daí começa a ficar bacana.
Quando você veio para o Programa Artista Convidado do Ateliê de Gravura, já tinha uma ideia definida a ser desenvolvida ou ela surgiu durante o processo?
Já trouxe comigo a palavra “iluzão”, com "z", e a ideia de trabalhá-la na gravura. A ideia de luz que está contida neste erro de grafia me interessa, assim como a possibilidade de encontrar a palavra azul escrita ao revés, já que o espelhamento e a escrita ao contrário são questões da gravura. Também me interessava trabalhar com uma palavra, para relacionar a gravura à imprensa.
De todos os meios com os quais você trabalha, já havia trabalhado com gravura antes? Como foi a experiência na Fundação? Sim, tinha trabalhado com gravura na faculdade, e tive ótimos professores, como Maria Lucia Cattani e Hélio Fervenza. Foram disciplinas importantíssimas. Meu primeiro projeto, o <i>Con-fio</i>, originou-se em uma disciplina de gravura. Eu tinha alergia à tinta, então precisava ficar procurando outras maneiras
de gravar, outros suportes e outras formas de desenvolver conceitos que estão contidos no pensamento sobre este meio. O período no Programa de Artista Convidado foi fantástico! Eduardo Haesbaert e Marcelo Lunardi [coordenador e assistente do Ateliê de Gravura da Fundação Iberê Camargo, respectivamente] realmente
fizeram desta experiência um trabalho rico de colaboração. Dedicar uma semana inteira para pensar sobre uma palavra é realmente um encanto. Estou muito contente com a produção que tivemos e com a
convivência de perto com uma instituição que tanto admiro. Imagem: Fundação Iberê Camargo
Porto Alegre, agosto de 2010.

www.iberecamargo.org.br
Encontro entre Brasil e Venezuela Ariel Jiménez conversa sobre sua proposta
curatorial para a exposição Desenhar no Espaço
Ariel Jiménez é curador-chefe da Coleção Patricia Phelps de Cisneros, uma das mais importantes coleções de arte contemporânea da América do Sul, parte integrante das
atividades da Fundação Cisneros, instituição
venezuelana sem fins lucrativos que visa difundir a cultura local e melhorar as condições de educação da região. Nascido em Caracas em 1958, Ariel estudou Arte e Arqueologia na Universidade de Paris I – Panthéon Sorbonne, onde também obteve o título de mestre em História da Arte. Crítico e curador, ele deve lançar ainda este ano o livro Carlos Cruz-Diez en conversación con Ariel Jiménez, editado pela própria Fundação Cisneros.
Curador da exposição Desenhar no Espaço - artistas abstratos do Brasil e da Venezuela na Coleção Patricia Phelps de Cisneros, ele conversa sobre a origem da coleção, sua proposta curatorial e o contexto histórico em que se inserem os dez artistas reunidos na mostra. O senhor é curador-chefe da Coleção Patrícia Phelps Cisneros. Como ela foi constituída? Qual é
o seu foco? A coleção começou em 1970, quando Patricia Cisneros se casou e começou a adquirir obras para sua
casa. Como ela sempre foi uma amante das artes, foi comprando cada vez mais trabalhos e se dando conta de que eles começavam a dialogar entre si. Foi vendo que cada duas delas quase exigiam a presença de uma terceira, que ela então comprava. E assim foram configurando-se grupos, que também começaram a ter características comuns – o fato de serem obras abstratas, por exemplo, e de uma abstração geométrica. Então, Patricia se deu conta, no princípio dos anos 1980, de que estava fazendo
algo mais do que comprar e acumular obras: estava formando uma coleção, que é um conjunto, podemos dizer, “informal” de obras, reunido em função de conceitos. Estas obras eram todas de artistas venezuelanos? Eram essencialmente de artistas venezuelanos, mas, no início, também havia trabalhos de artistas europeus. Pouco a pouco, a coleção foi se tornando focada em artistas latino-americanos, porque ela
começou a querer algo além dos venezuelanos e dos europeus – o que já indica uma filiação histórica clara, que se deu entre todos os nossos países. Mas, ao mesmo tempo, ia seguindo uma ordem curiosa: primeiro, englobava trabalhos de artistas até os países fronteiriços com a Venezuela, Colômbia e Brasil. Acredito que isto aconteceu porque ela acompanhava também a extensão pela América Latina dos
negócios de seu marido, Gustavo Cisneros. Daí, passou à Argentina e ao Uruguai. E acabou concentrando-se, sobretudo, nestes países, onde a abstração e a abstração geométrica tiveram um peso muito importante na segunda metade do século 20. Assim, foi se constituindo um núcleo abstrato
geométrico latino-americano, que atingiu sua maturidade no final dos anos 1990 – precisamente quando a coleção deu origem à Fundação, que começou suas atividades didáticas em todo o continente. Então a Fundação Cisneros passou a existir efetivamente nos anos 1990? Sim. Havia uma atividade “fundacional” desde os anos 1970, mas a Fundação como tal, com estrutura de pessoal e de projetos, nasceu em 1996.
Na época, a sede era na Venezuela ou já estava também nos Estados Unidos? Sempre houve os dois núcleos, porque Patricia tinha cidadania americana. Caracas e Nova York sempre foram dois centros para ela. No princípio, a Fundação estava muito concentrada na Venezuela, mas depois foi se deslocando – não a coleção em si, mas a Fundação – para Nova York, embora até hoje exista uma sede em Caracas. Eu vivo em Caracas e trabalho para a Fundação Cisneros. Mas a
administração central agora está em Nova York. É, precisamente, um deslocamento do centro de
gravidade da Fundação, e não da coleção. Quando se vê o contexto e a maneira como foi formada a coleção, parece um processo até lógico, mas como surgiu a proposta de criar este recorte para a exposição Desenhar no

www.iberecamargo.org.br
Espaço? Este recorte curatorial surgiu depois de quase 15 anos de exposições feitas em toda a América Latina e nos Estados Unidos. Ele nasceu, portanto, como um estudo específico de um dos problemas presentes na
coleção, que é muito ampla. Neste caso, decidimos fazer um diálogo entre Brasil e Venezuela porque os artistas destes países são dos mais numerosos na coleção: o núcleo de neo-concretos do Brasil e cinéticos da Venezuela é bastante completo. Por exemplo, temos obras de Lygia Clark de quase todos os períodos, desde seus primeiros trabalhos figurativos até as obras móveis de 1959 – ou seja, tudo está representado na coleção. A mesma coisa vale para Jesús Soto, Gego e Mira Schendel. Isso permite um diálogo muito preciso entre os processos de cada um destes artistas. Então, determinamos um problema comum a todos eles: o desejo de passar da pintura, do plano, para o espaço, para trabalhar na cidade, e
tentamos ver como cada um fez isto. Creio que é uma ocasião para que brasileiros e venezuelanos entendam o que é comum e o que é diferente aos artistas de ambos os movimentos.
Em que contexto histórico se inserem estes movimentos? No começo dos anos 1950, tanto no Brasil como na Venezuela, tiveram início os movimentos abstrato-concretos – que se desenvolveram com muita força nas décadas de 1950 e 1960, particularmente, e até os anos 1970. Isto aconteceu em meio a um contexto em que as populações brasileira e venezuelana
eram, pela primeira vez em nossas histórias, majoritariamente urbanas. Isto mostrou que, nestas cidades, onde os artistas nasceram, estudavam e trabalhavam, havia novas necessidades. Como chegar até um público massivo, que nem sempre ia aos museus? Os artistas queriam comunicar, e entenderam a necessidade de criar uma obra que tivesse um diálogo mais amplo com seu público. Uma das soluções encontradas foi essa: sair do plano da pintura para construir obras abertas, que pudessem interagir com seu espectador e com a cidade. É este processo que buscamos retratar nesta exposição, colocando em
contato as estratégias seguidas pelos neo-concretos e pelos abstratos. O senhor mencionou antes o fato de que estes movimentos se desenvolveram, sobretudo, em determinados países da América Latina, e é claro que nesta exposição está destacada a relação entre Brasil e Venezuela. Mas em que situação estavam os demais países da região
neste mesmo período? O senhor acredita que estes movimentos aconteceram mais aqui e na Venezuela do que em outros lugares?
Eu acredito que há razões históricas, culturais e inclusive geográficas para isto. O contexto que já mencionei, da densidade que demandam as cidades, e a exigência que isto representa para o artista comunicar-se com o público, é um aspecto muito importante. E isto ocorreu no Brasil, na Venezuela, no Uruguai. Aconteceu também em outros países, como o México, mas lá a abstração geométrica não teve a mesma importância. Por quê? Creio que aqui entra um elemento cultural muito importante: tanto no México quanto no Peru, por exemplo, o peso do mundo pré-colombiano é infinitamente superior ao que pode haver no Brasil, na Argentina, na Venezuela – países onde não houve civilizações tão desenvolvidas
e densas, que deixaram verdadeiros monumentos arquitetônicos como lá. Ou seja, é evidente que o México é um país muitíssimo mais orientado pelo passado pré-colombiano do que Venezuela e Brasil, que são lugares, presumimos, muito mais orientados para o futuro. E a abstração geométrica, em qualquer país em que surgiu e em qualquer contexto, foi sempre pensada como uma ruptura com o passado e um direcionamento a um futuro possível. Isso convinha a países como Brasil, Argentina e Venezuela, que se pensaram sempre em relação ao futuro.
Também há razões geográficas: os países da cordilheira têm uma barreira física que os separa, e que, antes da invenção do avião e até os anos 1950, se comunicavam muito pouco com os outros países da América Latina. Para nós, o contato com o mundo é muito mais fácil, de forma que somos países mais abertos a uma troca cultural com a Europa do que o Chile ou o Peru. Todos estes fatores fizeram a abstração geométrica nascer com mais força no Brasil, na Argentina, na Venezuela e no Uruguai.
Dentro da proposta de buscar novas possibilidades de interação com o público, que o senhor mencionou há pouco, percebe-se que boa parte das obras que estão na exposição foi concebida para ser manipulada, tocada pelas pessoas. Porém, hoje em dia, por questões de conservação, isto já não pode ser feito. Como é que fica esta relação? Isto não é romper um pouco com o propósito original da obra? Em todos os museus, quando se tem que mostrar obras históricas como essas, que alcançaram um alto valor cultural e também econômico, é impossível permitir que elas sejam manipuladas pelo público,
porque isto acabaria destruindo-as. Então, tem-se um problema duplo: por um lado, como fazer para que
o objetivo e a maneira de funcionar destas obras sejam percebidos pelo público? Há recursos educativos, catálogos, experiências didáticas – que a Fundação Iberê Camargo desenvolve –, para explicar como foram pensadas e vividas estas obras no momento de sua criação. Por outro lado, há soluções de caráter museológico (que não implementamos nesta exposição, mas que podemos vir a fazer): desenvolver

www.iberecamargo.org.br
réplicas destas obras, de forma que elas possam ser manipuladas da mesma maneira como foram originalmente concebidas.
Se não, elas acabam se tornando objetos de contemplação – o que está longe da intenção dos artistas, pelo menos neste caso. Exatamente. Mas é mais importante conservar as obras, e procurar maneiras para que o público compreenda como elas foram criadas. Na exposição, há salas em que estão reunidas obras de tons sóbrios e outras onde as cores são muito mais vibrantes, formando um contraste. Qual é o papel das cores para estes
movimentos artísticos aqui representados? Existem diferente núcleos que trabalharam diferentes ideias quanto à cor e sua vibração? São dois processos. Primeiramente, muitos artistas passaram por períodos em que privilegiaram o preto
e branco, porque estavam mais interessados em problemas de ordem estrutural, por exemplo. E somente quando resolveram estes, puderam levantar outros problemas. Por exemplo: no cubismo, quando [Pablo] Picasso e [Georges] Braque estavam trabalhando problemas relativos ao espaço, faziam obras de cores sóbrias, em marrom, cinza e preto. Só passaram a utilizar a cor quando resolveram as questões do
espaço pictórico. Foi assim com Lygia Clark, com Soto. Isto, por um lado. Por outro, há um projeto curatorial e museográfico que às vezes funciona como uma lupa, para aumentar determinados aspectos. Ocorreu algo assim aqui, no sentido de que decidimos estudar separadamente o que ocorria no corpo material destas obras quando passavam ao espaço. Então, em alguns momentos nos concentramos em obras que deixaram a cor de lado para estudar este problema estrutural. Em outras salas, outros diálogos, pelo contrário, olhamos para o que aconteceu com o uso das cores, como elas foram
empregadas, o que cada um dos artistas conseguiu neste sentido. Nesse caso, selecionamos obras que estudaram a cor como seu problema fundamental. Assim, há salas em que a cor tem uma importância maior, e outras onde a estrutura da obra é mais visível. Mas, na verdade, a questão é mais complexa do que se pode ver. Ao reunir em uma mesma sala
determinadas obras para estudar um único aspecto, acontece o mesmo que com uma lupa: um só ponto é ampliado, e isto não pode ser feito sem desvirtuar, de alguma forma, o todo – o que foi o processo real
na vida, onde há obras sem cor ao lado de obras com cor. Quais são as demais questões colocadas nas exposição Desenhar no Espaço? Outra delas é a presença de artistas europeus que fizeram sua obra aqui, na América, como Mira Schendel e Gego. Isso nos permite estudar um ponto comum entre estes cenários plásticos, e ver como um artista europeu trabalhando aqui dialogava com artistas que nasceram e se formaram em nossos países, e que não pensavam sua relação com a história da mesma maneira. Por exemplo, nossos artistas,
que nasceram aqui, sentiram, como todos nós, uma grande necessidade de legitimação histórica, porque sabiam que tinham origens européias – ao menos em parte – e que deveriam ser reconhecidos como tal pelos europeus. Os artistas vindos da Europa, como Gego e Schendel, não sentiam a mesma necessidade, porque vinham de lá. Por isso, sua relação com a obra e com a história não era igual a de Oiticica, de Lygia Clark ou de Soto, por exemplo. No caso delas, ambas de origem judaica, vieram fugindo da Europa no momento em que se desenvolvia o nazismo, e encontraram aqui países mestiços –
o que eu acredito ser uma riqueza. Por isso, me pareceu pertinente desenvolver esse diálogo, que nos permitia uma adição diferenciada de nossos meios artísticos, onde também havia pessoas de outros lugares, que dialogavam de outra maneira entre si e com a Europa. Isso é interessante para o público: ver estas comparações e perceber que artistas do Brasil e da Venezuela tiveram necessidades em comum, o que indica que tiveram também uma história em comum – ou, ao menos nesse momento, as mesmas referências, os mesmos artistas internacionais, talvez as mesmas obras – mas que também viveram realidades diferentes. Estas leituras distintas produzem obras distintas, e isto é interessante. É
possível conhecer melhor a si mesmo ao se comparar ao outro. Imagem: Mathias Cramer/temporealfoto.com.br
Porto Alegre, agosto de 2010.