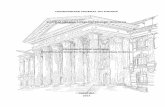Mata Atlântica Fragmentos Cap. 1 port
-
Upload
veracloviscavalcanti -
Category
Documents
-
view
1.320 -
download
0
Transcript of Mata Atlântica Fragmentos Cap. 1 port

h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
1 1
capítulo 1
Opulência Vegetal,Cobiça Insaciável e a
Entronização da Entropia:Uma Visão da História
Socioambiental da Mata Atlântica
Clóvis Cavalcanti
presente capítulo destina-se a ofereceruma visão compreensiva – salientando al-
guns traços marcantes – da história socialdo processo de destruição da Mata Atlân-
tica, abordando também aspectos econômi-cos do problema. Mas de que Mata Atlântica
exatamente se está falando? O espaço geográficodesse ecossistema aqui considerado corresponde, em princípio,ao seu setor nordestino na parte ao norte do Rio São Francisco(11o lat. S na foz). Na verdade, ao sul do rio, a cobertura originalda Mata Atlântica, em 1500, era escassa no Estado de Sergipe,alargando-se e encorpando-se substancialmente à medida que sedesce para o sul da Bahia (Dean, 2004, mapa 1). No seu segmen-to ao norte do São Francisco é que, no período decisivo da for-mação brasileira, desenvolveu-se parte substancial da civilizaçãodo açúcar. Lembra Freyre (1985), a propósito, que “a primeiragrande expressão de civilização brasileira – a baseada no açúcar –foi particular ao Nordeste, isto é, ao Brasil agrário que se esten-dia do Recôncavo da Bahia ao Maranhão”. A história do Brasil setraduz então na história do próprio açúcar (Freyre, 1985). É osegmento da Mata Atlântica que ocupava quase toda a zona lito-rânea de Alagoas e Pernambuco (estados que constituíam umacapitania só no século xvi), cobrindo área maior neste do quenaquele estado, que nos interessa. A presença do bioma em ques-tão na Paraíba e no Rio Grande do Norte, por outro lado, erabem menos expressiva, menos mesmo do que em Sergipe. Foi sua
2. Bolsista da Conservação Internacional
do Brasil, Projeto Corredor de Biodiversidade
Projeto do Nordeste.
Ao lado:
Nome vulgar e científico da Bromélia
Local e data da observação
O

h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
1 3
mente – se retira da eloqüente constatação de Freyre (1985) deque o que sobrou dessa floresta são “restos de mata”, “sobejos dacoivara”. Ela foi ocupada pelo canavial e o engenho “sem outraconsideração que a de espaço para a sua forma brutal de explorara terra virgem” (Freyre, 1985), devastando-se simplesmente amata a fogo. Como, na observação de Dean (2004), tal resto dariqueza original da floresta se mostra (ainda) “indescritível emtermos práticos e imensamente complexo”, pode-se avaliar a di-mensão do impacto que são quinhentos anos de avanço do mun-do moderno sobre a herança biológica contida na complexidade ebeleza da Mata Atlântica que existia no país em 1500.
É certo que todo regime agrícola, como o que se estabeleceuna Mata Atlântica, causa transtornos aos sistemas naturais. Asações humanas, retirando recursos da natureza e nela eliminan-do matéria e energia degradadas, sempre causaram e causarãoimpactos ambientais negativos. Por outro lado, como observaPádua (2002) aludindo a Simon Schama, o trabalho dos histo-riadores da natureza tende a fazer sobressaírem as intervençõesdestrutivas nas relações homem-ecossistema. Isso não quer dizerque os humanos só tenham destruído. O problema é que proces-sos de aniquilamento natural como os da história do Brasil, aolongo de séculos, destacam-se de uma forma tão contundenteque ações possivelmente benignas dos colonizadores terminamofuscadas. Essa, certamente, é a saga da Mata Atlântica – e tam-bém a que se tem tornado símbolo, nos anos recentes, da Caatin-ga, do Cerrado e da Amazônia. Interessante é que a devastaçãoacompanha a civilização – veio com ela no caso da colonizaçãolusitana –, enquanto o trabalho dos “selvagens” que aqui havia,como se verá na seção seguinte, dela conheceu tão-somente for-mas atenuadas (cf. Brunhes, 1955).
Certamente, o registro da destruição de sistemas naturais co-mo a Mata Atlântica evidencia fatos vergonhosos. Mas isso nãopode, nem deve, ser omitido. Pode ser útil (Dean, 2004) para evi-denciar o grau de loucura ou ignorância da espécie humana. Nocaso nordestino, o que se revela a esse propósito é uma situação de“economia de rapina”: um trabalho contra a natureza. Mais do quea simples economia de feitoria ou de exploração – que extrai sempretender destruir ou causar dano permanente ao meio –, a eco-nomia de rapina encerra a idéia de explorar destruindo ou causan-do dano permanente (Castro Herrera, 1996). A expressão foi em-pregada em 1910 pelo geógrafo francês Jean Brunhes (1955). Ela“designa uma modalidade peculiar de ‘ocupação destrutiva’ do es-paço por parte da espécie humana, que ‘tende a arrancar-lhe ma-térias-primas minerais, vegetais ou animais, sem idéia nem meiosde restituição’” (Castro Herrera, 1996). É ação semelhante à deum garimpo como o de Serra Pelada, no Pará. Ou da extração demanganês da Serra do Navio, no Amapá (Brito, 1994). Ou aindada destruição física de um pequeno país-ilha do Pacífico, Nauru,literalmente devastado em 80 % de seu território pela exploração
f r a g m e n t o s d e m a t a a t l â n t i c a
1 2
existência como bioma rico em vegetação de floresta que levou adesignar como Zona da Mata a estreita faixa de terra que acom-panha a costa nordestina oriental, onde se concentram atualmen-te – menos, porém, em termos relativos, do que no passado – apopulação e atividades econômicas da região. Zona da Mata é umnome que, de pronto, remete à antiga “opulência vegetal” que vi-cejava na Mata Atlântica do Nordeste, especialmente em Per-nambuco (Silva, 1993). Opulência que vicejava. Não viceja mais,porque o que existe hoje, o que sobrou de uma atividade de des-truição de 500 anos, são pobres vestígios dessa riqueza inigualá-vel, o que faz a denominação Zona da Mata possuir conotaçõesde cruel ironia (cf. Freyre, 1985).
O estudo que aqui se elabora não pretende ser exaustivo ouoriginal nos fatos que oferece. Se originalidade existe é no que to-ca à interpretação de certos fenômenos. Muito daquilo que dizrespeito à Mata Atlântica, com efeito, já foi pesquisado e analisa-do competentemente por autores diversos, a exemplo de Gil-berto Freyre (1985) e Warren Dean (2004). Este último tem seufoco, é certo, no espaço abaixo do paralelo 13o S e acima da flores-ta de coníferas. Porém, Dean (2004) faz a ressalva, correta, deque a seção da Mata Atlântica por ele investigada constitui o cor-po central da floresta, representando mais de 70% do conjuntointeiro e onde quase todos os aspectos da história dos assenta-mentos humanos aí estabelecidos seriam típicos também dasáreas restantes. De qualquer forma, o que se pretende aqui é, à se-melhança do que fez Paulo Prado em Retrato do Brasil (1931), e parachegar à essência das coisas, apresentar aspectos, situações típicas,representações da realidade e dos acontecimentos, “resultantesestes mais da dedução especulativa do que da seqüência concate-nada de fatos” (Prado, 1931). Vale notar que o historiador John L.Myers recorda que “extensões imensas do planeta não têm litera-tura histórica”, faltando assim uma minuciosa descrição do am-biente biogeográfico que aí determinou a evolução e a existênciados humanos. Essa é a situação da Mata Atlântica, da qual se sa-be alguma coisa, a partir do século xvi, por intermédio de docu-mentação esparsa e dos relatos dos primeiros cronistas, a exem-plo de Antonil (1997) e Gandavo (1980). Um assunto que seráobjeto da segunda seção deste trabalho.
Uma idéia do processo destruidor por que passou a MataAtlântica – a ser oferecida nas terceira, quarta e quinta seções dopresente capítulo, no tocante aos objetivos da conquista colonial,do processo de exploração e emprego de escravos, respectiva-
do fosfato que dele saiu no período 1920-2000. Tal modelo defi-ne um dos traços mais característicos da relação sociedade-meioambiente na América Latina a partir do século xvi. Trata-se deuma forma particular de coleta, que agride a natureza com grandeviolência. Desse ataque violento, como concebia Brunhes, pode“resultar a miséria, e então é a devastação generalizada” (CastroHerrera, 1996). A modalidade de economia de ocupação destru-tiva que possui um “caráter normal, metódico” (colônias de ex-ploração) não se compara à economia de rapina. Esta última mo-dalidade se distingue por possuir uma intensidade imoderada quelhe faz por merecer a designação de rapina econômica, ou ainda,mais simplesmente, devastação.
Os grupos humanos que existiam no Brasil pré-conquistaeram sociedades de circuito fechado (cf. Castro Herrera, 1996),auto-sustentadas, auto-suficientes. Não possuíam propósitos co-merciais. Não efetuavam trocas com sociedades no seu exterior.Tinham como propósito fundamental reproduzir-se: promover oatendimento de suas próprias necessidades, sem intentos de acu-mulação. Suas relações com o meio ambiente eram diversificadase, satisfeitos os fins de sustentação do grupo, permitiam desenvol-vimentos culturais que incluíam conhecimento íntimo da ecologiados sistemas naturais ao redor. Daí a tendência a um inevitávelconvívio harmonioso (e reverente) com a natureza, trabalhandoantes com ela do que contra ela. A chegada dos colonizadores rom-peu com esse modelo, pondo fim ao sistema de circuito fechado.Sociedades de circuito aberto, não mais auto-suficientes e sem ca-pacidade de auto-determinação quanto aos fins e termos de suaexistência, irão surgir. As novas relações de intercâmbio com oexterior – desvantajosas para o nativo e para o ambiente naturalda colônia – introduzem o paradigma do desenvolvimento exó-geno, de caráter predatório, especializado, simplificador. Novosagentes do processo, por sua vez, desconhecem completamente oecossistema original do novo território e, alimentados por sua ig-norância, lançam-se à empreitada de extrair dele o maior retornopossível, cometendo o crime da devastação. Trata-se de um pro-cesso de incorporação violenta das terras recém-encontradas aoespaço da economia-mundo. O que se faz a custos altíssimos pa-ra o território que se mantivera fechado até então. Sobre isso sefala nas sexta e sétima seções deste estudo, as quais tratam, res-pectivamente, de uma avaliação do processo e das característicasdo modelo de ocupação européia da Mata Atlântica. O estudo seencerra, na oitava seção, com algumas conclusões.
Acho importante dizer que sou da Zona da Mata de Pernam-buco. Nasci entre canaviais numa usina de açúcar (a Frei Caneca,hoje Colônia), no então Município de Maraial, atualmente partedo Município de Jaqueira. Meu pai era contador da empresa, on-de trabalhou no período 1934-1990. Em ambos os lados de mi-nha família há relações com propriedades rurais, com antepassa-dos produtores de cana-de-açúcar, açúcar mascavo, rapadura e
Frans Post. Serinhaim. Do livro Rerum per Octennium
in Brasilien, de Gaspar Barléu, 1647.

h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
1 5
Caminha se maravilhasse, enfatizando: “Esta terra (...) de ponta aponta é toda praia (...) muito chã e muito formosa. Pelo sertão nospareceu, vista do mar, muito grande; porque a estender olhos, nãopodíamos ver senão terra e arvoredos”. A carta de Caminha, comosugere Prado (1931), embora de “idílica ingenuidade, é o primeirohino consagrado ao esplendor, à força e ao mistério da naturezabrasileira”. Pero de Magalhães Gandavo retoma o assunto em 1576,expondo o que testemunhara: “Esta terra é mui fértil e viçosa, todacoberta de altíssimos e frondosos arvoredos, permanece sempre averdura nela inverno e verão” (Gandavo, 1980); a terra “é à vistamui deliciosa e fresca em grã maneira: toda está vestida de mui al-to e espesso arvoredo” (Gandavo, 1980). São descrições, impres-sões, desenhos da paisagem contemplada que nos remetem a espe-culações sobre o que o cenário esconderia.
Gandavo ainda dá depoimento sobre outras coisas que o im-pressionaram: “Há por baixo destes arvoredos grande mato e muibasto e de tal maneira está escuro e serrado em partes que nuncaparticipa o chão da quentura nem da claridade do Sol, e assimestá sempre úmido e manando água de si” (Gandavo, 1980).Chama sua atenção a existência de “muito pau-brasil nestas Ca-pitanias (Bahia, Pernambuco) de que os mesmos moradores al-
f r a g m e n t o s d e m a t a a t l â n t i c a
1 4
hoje –, a qual ajudou a perpetrar o saque e a destruição da MataAtlântica. Mas descendo igualmente da tribo tabajara, inimigados caetés que habitavam Olinda quando os portugueses aquichegaram. Depois de algumas lutas, lusos e tabajaras se aliaramcontra os caetés e os venceram. O primeiro Cavalcanti, Filippo,de Florença (Itália) – único, na verdade, a chegar aqui com essesobrenome – casou-se com uma mameluca, Catarina de Albu-querque Arcoverde, filha do português Jerônimo de Albuquer-que, chamado o Adão pernambucano, e da índia tabajara MuiraUbi, que após o batismo cristão passou desnecessariamente a sechamar Maria do Espírito Santo Arcoverde.
Por uma razão que não sei explicar, sobre a qual já me mani-festei anteriormente (Cavalcanti, 1992), identifico-me mais co-mo ameríndio do que como europeu ou africano. Isso me leva àposição de tender mais a interpretar os fenômenos daquilo quefoi a brutal destruição – a “ferro e tição” (Couto, 1849; Dean), “amachado e fogo” (Freyre, 1980), “a ferro e fogo” (Dean, 2004) –da Mata Atlântica na ótica das populações que a haviam habitadopor dez, 12 mil anos antes dos europeus. É dessa perspectiva queelaboro as observações, os comentários e as conclusões da presen-te seção e, na verdade, do restante do capítulo. Sem que por issome sinta menos fiel ou menos objetivo, na minha condição depesquisador, em minha interpretação e minhas especulações, co-mo também não me sentiria se me inclinasse a assumir a ótica docolonizador europeu ou do escravo africano.
Opulência vegetal: uma visão do ecossistema da MataAtlântica na chegada dos portugueses
Quem primeiro viu a Mata Atlântica e descreveu ao mesmo tem-po a visão que teve, tal como a floresta deveria ser em 1500, foi oescrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha,em sua famosa carta ao Rei D. Manuel i, de Portugal. Eviden-temente, tal missiva constitui um relato impressionista, sem deta-lhes ou pretensão de registro científico. Mas é sugestivo o tomdominante da descrição, especialmente da riqueza vegetal encon-trada, com expressões como “os arvoredos são mui muitos e gran-des, e de infinitas espécies, não duvido que por esse sertão hajamuitas aves!”. Ou ainda: “esse arvoredo que é tanto e tamanho e tãobasto e de tanta qualidade de folhagem que não se pode calcular”.Impressão que foi também, em 1817 – muito depois, portanto – ade Casal (1996), ao se admirar da “terra chão coberta de arvoredo”.Terra que, pela aparência, segundo Casal (1996), levava à admissãode que não houvesse país que pudesse “competir com o Brasil namultiplicidade de vegetais”. Na biodiversidade, dir-se-ia agora. NaMata Atlântica, conforme o mesmo autor, abundavam em varieda-de “excelentes madeiras de construção, paus de tinturaria e plantasmedicinais” (Casal, 1996). Ora, nada mais natural, assim, que
cachaça. A avó paterna de meu pai, que conheci, Maria LuízaBandeira de Melo Cavalcanti (1862-1947), era senhora do Enge-nho Taquarinha, em Maraial. Meu bisavô, João Pereira de Aguiar(1865-1932), avô materno de minha mãe, também foi senhor deengenho e fornecia cana para a Usina Catende – a maior doBrasil na época. Convivi desde cedo com relatos, uns tristes, co-mo os da escravidão, outros mais edificantes, como os da histó-ria da monocultura canavieira de Pernambuco, sobre a qual meupai fazia muitos comentários críticos, especialmente no tocanteà devastação das matas. De minha casa, contemplei durante a in-fância e nos períodos de férias escolares da adolescência, nosanos 1940 e 1950, pedaços significativos – não “sobejos de coi-vara”, no dizer de Gilberto Freyre (1985) – da esplendorosaMata Atlântica. Um deles, o da bela Serra do Espelho, ainda ho-je uma reminiscência magnífica do que era a floresta original, sebem que reduzida a 630 hectares, com espécies endêmicas debromélias, por exemplo. Essa serra, um maciço rochoso, sempreme despertou o maior interesse. Nela, com irmãos, primos eamigos, fiz passeios, piqueniques, caminhadas, o primeiro delescom meus pais, quando tinha apenas seis anos de idade.
Viajando de trem, meio de transporte da época para longasdistâncias na Zona da Mata pernambucana e alagoana, inclusi-ve no pequeno vagão de passageiros (“bondezinho”) da UsinaFrei Caneca – um de seus herdeiros, Gustavo Duarte da SilveiraBarros, a propósito, preserva admiravelmente o que resta da Ser-ra do Espelho –, a Mata Atlântica era uma presença constante napaisagem. É que a cana-de-açúcar ainda não ocupara de formaabsoluta a região. Os morros da Zona da Mata Sul de Pernam-buco tinham cultivos da gramínea em suas encostas; mas, nos seustopos, conservavam preciosas ilhas razoavelmente grandes de flo-resta. Em algumas áreas dessas manchas, plantava-se café. Haviaali tatus, macacos, sagüis, cutias, tamanduás, gatos-do-mato, capi-varas, preguiças, cobras e uma diversidade de aves. O grande poe-ta – inclusive no físico – Ascenso Ferreira (1895-1965), amigo deinfância de minha avó materna (nascida em 1894) e, como ela,natural de Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, quefreqüentava minha casa e recitava com sua voz ímpar deliciosospoemas seus, menciona a mata vista do trem da Great Western emseu inspirado canto “Trem de Alagoas”, também conhecido peloverso inicial: “Vou danado pra Catende”.
Toda essa introdução acima é para dizer que possuo uma li-gação ancestral e visceral com a Mata Atlântica, parte de cujaopulência biológica consegui registrar indelevelmente na memó-ria a partir do que vi com meus próprios olhos. A ligação aindahoje se manifesta no meu mundo privado de proprietário de 23hectares de terras do brejo de altitude do município pernambu-cano de Gravatá, onde trechos da floresta são por mim conser-vados. Pertenço à estirpe dos Cavalcanti – surgida em Olindanos meados do século xvi, bem próximo do local onde resido
Frans Post. Serinhaim. Do livro Rerum per Octennium
in Brasilien, de Gaspar Barléu, 1647.
Página 13:
Frans Post. O carro de bois. Óleo sobre tela, 61 x 88 cm, 1638.

h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
1 7
que os sustentava e lhes dava saúde: seu sistema ecológico. O pró-prio Dean (2004), reproduzindo um dado da antropologia cul-tural, registra que os nativos da Mata Atlântica “consideravam asflorestas como pertencentes aos espíritos e animais que as habi-tavam, ou pelo menos como pertencentes tanto àqueles seres co-mo a si mesmos”. Tinham, pois, motivos suficientes para zelarpor sua riqueza natural. Até por medo das divindades.
Assim, é de se imaginar que o ecossistema original da MataAtlântica, nos primórdios da colonização portuguesa, luzia comouma organização complexa, respeitada pelos nativos basicamentena sua inteireza. Pode-se admitir, todavia, que intervenções hu-manas, algumas até de maior porte, houvessem acontecido. Mes-mo porque, para viver no meio da floresta, como faziam os índios,seus moradores teriam necessidade de executar algumas derruba-das, modificando o ambiente. Por outro lado, os indígenas conhe-ciam a agricultura, que era “muito mais viável” para eles, como as-sinala Dean (2004), nos solos da floresta. E os índios realizaramsempre atividades de lavoura com o uso do fogo. Sua condição desaúde de modo geral, porém, um indício da saúde do entorno am-biental – como se sabe, não existe organismo são em um ambien-te enfermo –, sugere boa gestão dos recursos da natureza na MataAtlântica antes de 1500. Jean de Léry, testemunha ocular do quefalava, é enfático a respeito:
“Os selvagens do Brasil, habitantes da América, chamados Tu-pinambás, entre os quais residi durante quase um ano e com osquais tratei familiarmente, não são maiores nem mais gordos doque os europeus; são porém mais fortes, mais robustos, mais en-troncados, mais bem dispostos e menos sujeitos a moléstias, ha-vendo entre eles muito pouco coxos, disformes, aleijados oudoentios. Apesar de chegarem muitos a 120 anos (sabem contara idade pela lunação), poucos são os que na velhice têm os cabe-los brancos ou grisalhos, o que demonstra não só o bom clima daterra, sem geadas nem frios excessivos que perturbem o verdejarpermanente dos campos e da vegetação, mas ainda que pouco sepreocupam com as coisas deste mundo” (Léry, 1972).
Caminha, aliás, já notara que os selvagens “não comem senãodeste inhame, de que aqui há muito, e dessas sementes e frutosque a terra e as árvores de si deitam. E com isto andam tais e tãorijos e tão nédios que o não somos nós tanto, com quanto trigoe legumes comemos”. É claro que o escrivão de Cabral não faziauma avaliação rigorosa de coisa alguma. Mas são dois depoi-mentos coincidentes, o dele e o de Léry, em épocas distintas eem locais diversos. E que têm muito em comum, por exemplo,com o tratado descritivo de Gabriel Soares de Souza (2001), de1572, que retrata a exuberância da natureza, a qualidade dos paus,a pureza das águas, a diversidade biológica da Mata Atlântica,seu estado prístino.
Sem visar a uma economia comercial, especializada, as ativi-dades de subsistência dos índios na Mata Atlântica teriam inevi-
sustentam os moradores do Brasil sem fazerem gastos nem dimi-nuírem nada em suas fazendas” (Gandavo, 1980). E aludiu à“muita caça”, segundo ele, “(u)ma das coisas que sustenta e abas-ta muito os moradores desta terra do Brasil – caça de muitos gê-neros e de diversas maneiras, a qual os mesmos índios da terramatam” (Gandavo, 1980).
Warren Dean, que tão minuciosamente – ainda que com in-terpretações discutíveis – estudou a história ambiental da MataAtlântica, indaga se, “quando avistada pela primeira vez pelos na-vegadores europeus, (a floresta) era exatamente como seria seeles tivessem chegado a uma praia despovoada, ou já estava alte-rada pela primeira onda de invasão humana” (Dean, 2004). Nãose pode dar uma resposta taxativa a pergunta tão vasta, até por-que, em muitas partes da floresta, a presença humana talvez nun-ca tivesse chegado. Ela existia, claro, em Porto Seguro – e emmuitos outros sítios –, quando os portugueses ali ancoraram em22 de abril de 1500. E era, apesar da significativa população aliencontrada, mata densa, oferecendo ao longo da costa “um obs-táculo formidável” para quem a quisesse “penetrar e atravessar,como que exprimindo a opressiva tirania da natureza” (Prado,1931). Os portugueses a ela se referiam como uma “muralha ver-de”, indicação clara da vitalidade do ecossistema que ela continha.Dean (2004) levanta a hipótese de que as trilhas existentes –usadas já mesmo por integrantes da frota de Cabral na chegadaem 1500, levados através delas pelos indígenas – fossem “passa-gens por uma paisagem natural já muito modificada”. Diante, po-rém, de registros como os de Caminha, Gandavo e Léry, não sepode concluir que a paisagem natural tivesse sido objeto de inter-venções maiores. Nela, chamava atenção, como assinala Gandavo(1980), “a fertilidade e abundância da terra”, o que só teria sidopossível constatar na hipótese de um uso pouco agressivo dos re-cursos naturais pelos habitantes originais do país. Depois de co-mentar que “os relatos europeus sobre a relação dos (tupis) como ambiente são dispersos, imprecisos e preconceituosos”, Dean(2004), em sintonia com estudiosos como Ruttan (1998) eBurke (2001), afirma que os índios “não eram conservacionistasno sentido de poupar os recursos naturais para as gerações vin-douras” – isso, não por descuido, e sim por conta da “certeza ra-zoável sobre a adequação de seus recursos e sua capacidade de de-fendê-los contra os competidores” que possuiriam (Dean, 2004).Ou porque, por fatalismo, acreditassem numa vontade divina de-terminando o que existia e o que desaparecia no ecossistema.Caminha, com outro raciocínio em mente, já dizia: “Deduzo que(os índios são) gente bestial e de pouco saber, e por isso tão es-quiva. Mas apesar de tudo isso andam bem curados, e muito lim-pos”. Uma gente que se apresentava com aspecto saudável, im-pressionando os portugueses – a ponto de Caminha sublinharque “os seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formososque não pode ser mais!” –, deveria saber cuidar do recurso básico
f r a g m e n t o s d e m a t a a t l â n t i c a
1 6
cançam grande proveito” (Gandavo, 1980). Interessante era a ve-rificação de que “certo gênero de árvores há também pelo matodentro da Capitania de Pernambuco a que chamam Copaíbas”(Gandavo, 1980). Isso foi no século xvi, pois no xxi a espécie,também conhecida como pau d’óleo, está praticamente extintaem território pernambucano. No novo mundo da descoberta dosportugueses, impressionava a opulência vegetal. Do mesmo mo-do a riqueza das águas, de que dá conta, por exemplo, o hugueno-te francês Jean de Léry (1972), que morou na Baía de Guanabaradurante quase um ano, junto aos tamoios, em 1557-1558. Nas suaspalavras, “quanto à água das fontes e rios, incomparavelmentemelhor e mais sadia que a nossa, nós a bebíamos sem mistura”(Léry, 1972). Sobre isso também se manifestou Gandavo: “Aságuas que há na terra se bebem, são mui sadias e saborosas, pormuita que se beba não prejudica a saúde da pessoa, a mais delase torna logo a suar e fica o corpo desaliviado e são” (Gandavo,1980); a terra é “regada com as águas de muitas e mui preciosasribeiras de que abundantemente participa” (Gandavo, 1980). Suasfontes, no entender dele, seriam infinitas e suas águas faziam“crescer a muitos e mui grandes rios (...) que entram no Oceano”(Gandavo, 1980). Gandavo ainda deu conta da abundância demarisco e de peixe no âmbito da Mata Atlântica, com a qual “se
Frans Post. Alagoa Ad Austrum. Gravura em metal
do livro Rerum per Octennium in Brasilien,
de Gaspar Barléu, 1647.
Abaixo:
Tamanduá-guaçu. Do livro de Georg Marcgraf,
Historiae Rerum Naturalium, 1648.

h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
1 9
dia, nem ele a nós, por mais coisas que a gente lhe perguntavacom respeito a ouro, porque desejávamos saber se o havia na terra”.A armada de Cabral partiu sem levar notícias a tal respeito, ape-sar de Caminha referir que, no primeiro contato com os nativos,na nau capitânea, um destes “fitou o colar (de ouro) do Capitão,e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depoispara o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra.E também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo ace-nava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá tambémhouvesse prata!”. Setenta anos depois, na mesma linha da espe-rança de enriquecimento de Portugal, Gandavo (1980) ainda es-peculava: “é certo ser em si a terra mui rica e haver nela muitosmetais”. O mesmo Gandavo falava também: “além de ser tão fér-til como digo, e abastada de todos os mantimentos necessáriospara a vida do homem, é certo (a terra) ser também mui rica, ehaver nela muito ouro e pedraria, de que se têm grandes espe-ranças” (Gandavo, 1980).
Com base nessa ânsia, um analista da psicologia da descobertasublinha que dois grandes impulsos dominavam a idéia que os lu-sos alimentavam do Brasil: “a ambição do ouro e a sensualidade li-vre e infrene” (Prado, 1931). Mas era, segundo o mesmo autor, a“cobiça insaciável, na loucura do enriquecimento rápido” (Prado,1931) que movia os colonizadores após a “conquista”. Havia, poroutro lado, a necessidade prática de Portugal viabilizar a ocupaçãode terra tão vasta, procurando dar-lhe uma utilização econômicaantes que os metais preciosos fossem encontrados. Afinal, a Coroaprecisava, como diz Furtado (1967), “cobrir os gastos de defesa”das terras. Se não se dispusesse de uma fonte que provesse o finan-ciamento da empreitada, o ônus da proteção ao território conquis-tado excederia a capacidade portuguesa de cobri-lo. Não se achan-do o ouro sonhado, e sem se tentar a saída da exploração do capitalvegetal da Mata Atlântica, “dificilmente Portugal teria perduradocomo grande potência colonial na América” (Furtado, 1967).
Na aguda interpretação de Sérgio Buarque de Holanda, comsua diferenciação dos dois princípios que regulariam as atividadeshumanas, simbolizados pelos tipos do “aventureiro” e do “traba-lhador” (Holanda, 1976), o colonizador brasileiro foi da classe doprimeiro. A empreitada que ele levou a cabo, efetivamente, nãoconstituiu um empreendimento pensado e sistematizado. “Seuideal (foi) colher o fruto sem plantar a árvore” (Holanda, 1976),com um empenho concentrado não na construção de uma socie-dade forte, mas na recompensa imediata do esforço. Encontrarouro abundante era só uma das manifestações do espírito deaventura. Outras foram muito daquilo que ficou como herançana personalidade brasileira: um espírito antiecológico, a ânsia deprosperidade a todo custo (para a sociedade, e não para o indiví-duo), a busca oca de títulos honoríficos, de posições e riqueza fá-ceis. Paulo Prado já havia abordado o assunto, apontando o desa-mor à terra que caracterizava o lusitano, com o que chamou de
f r a g m e n t o s d e m a t a a t l â n t i c a
1 8
ambientais. A paisagem que os portugueses aqui encontraram,não há nenhuma dúvida, exibia uma selva luxuriante, com im-pressionante diversidade de fauna e flora e uma população huma-na de boa aparência. Se não era assim – mas a evidência faz suporque era –, Pero Vaz de Caminha, no mínimo, teria sido de preci-são muito infeliz. Pelo mesmo processo teriam passado Jean deLéry (um rigoroso missionário da teocracia democrática de Cal-vino), Gabriel Soares de Souza e outros cronistas dos começos doBrasil, a exemplo de Cardim (1939). É certo que há quem, comoo geógrafo William M. Denevan (1992), sugira algo distinto:uma paisagem com alterações mais expressivas. Isto parece maiscabível, porém, nas regiões em que predominava a presença dospovos asteca e inca; perde força aparentemente como argumentoem relação aos nativos da Mata Atlântica. Pelo menos, é assimque se pode pensar a partir de quem esteve aqui no século xvi.O que não significa dizer que, se a população nativa do Brasil fos-se dez vezes maior em 1500, por exemplo, não fosse haver umadestruição perigosa da base biofísica em que ela repousava. Masisso é pura especulação. Pode mesmo ter havido uma populaçãonumerosa em partes do território brasileiro, sem devastação am-biental de relevo (v.g. Roosevelt et al., 1996).
Cobiça insaciável: propósitos da “conquista”e interesses dos colonizadores
Para entender o que se passou na Mata Atlântica depois do fatalepisódio do “descobrimento”, é preciso questionar o que levariauma enorme armada portuguesa, enfrentando todas as dificulda-des das viagens marítimas do findante século xv, a cruzar o ocea-no e ancorar em Porto Seguro. Esse assunto já foi por demais dis-cutido e explorado, não sendo o caso de repetir aqui tudo o quese sabe. Apenas convém lembrar a permanente (e cada vez maisintensa) disputa na sociedade, já então, pelo uso e controle dosrecursos da natureza (cf. Castro Herrera, 1996; Crosby, 1993), se-ja em escala nacional, seja mundial. Portugal se expandia e, nabusca de acumulação, era levado a incorporar novos territórios aseu diminuto espaço geográfico. A frota de Cabral chegou à Terrade Vera Cruz confiante de que iria encontrar aqui muito mais doque a parte que lhe cabia segundo a divisão territorial do NovoMundo acertada com a Espanha no Tratado de Tordesilhas (de1494). De fato, o que interessava à Coroa portuguesa não eramtesouros arqueológicos ou a biodiversidade. O que tinha em men-te eram metais preciosos e outros recursos minerais. Caminha re-vela isso quando em sua carta, dez dias depois da chegada da fro-ta, observa: “Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata (nanova terra), ou outra coisa de metal, ou ferro”. Antes, referindo-se a um dos interlocutores que os portugueses procuraram parasaber o que existia em Vera Cruz, escrevera: “ninguém o enten-
tavelmente que causar muito menor impacto ambiental do que asdos colonizadores. Dean (2004) insiste, sem dúvida, na impro-babilidade de que alguma parte das baixadas da Mata Atlântica,com sítios adequados à lavoura, tenha escapado de ser derrubadapelo menos uma vez durante a fase de desenvolvimento culturalda agricultura itinerante. Esta forma de cultivo, de fato, exercepressão sobre o ecossistema. No caso dos povos da Mata Atlân-tica, sem embargo, pela extensão do território e a presença huma-na relativamente pequena, não se pode imaginar grandes e irre-versíveis impactos ambientais – muito menos, em toda a vastaárea das baixadas da floresta. Em dez mil anos de ocupação da sel-va, seus habitantes podem tê-la modificado aqui e acolá, comosempre fizeram os indígenas. Mantiveram, não obstante, o equi-líbrio ambiental. O próprio Dean (2004) reconhece que em 1500os tupis eram capazes de se expandir mais “e ainda não haviamexaurido o potencial produtivo de seu habitat”. Pelo contrário, de-veriam estar longe disso.
Vivendo no nível da subsistência, mas sem ser pobres no sen-tido socioeconômico moderno (Cavalcanti, 1992), os indígenasnão sabiam o que era acumulação. Plantavam, colhiam, pescavam,caçavam segundo suas necessidades, tal como se pode observarainda hoje nas aldeias que vivem à margem da civilização brancano interior da Amazônia (Reichel-Dolmatoff, 1976). Dessa for-ma é que dispunham de tempo livre. Léry (1972) acusa:“Bebampouco ou muito porém, como não sofrem de melancolia congre-gam-se todos os dias para dançar e folgar em sua aldeia”. Essa é arealidade de um povo são e alegre, o que se pode atribuir em par-te a uma convivência em relativa harmonia com uma naturezaaparentemente saudável. Caminha, a propósito, oferece um de-poimento, jornalístico, é verdade, mas autêntico no que o escribapercebe: “Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendês-semos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos”. Dispondo detempo, os índios aumentavam naturalmente sua comunicação, in-clusive no plano sobrenatural, com o ecossistema. Atribuíam “no-mes a centenas de espécies para as quais encontraram algum usoe sobre as quais conheceram os habitats, estações, hábitos e, ainda,relações com outras espécies” (Dean, 2004). Dessa forma, e pelaprópria diversidade de povos ocupando a Mata Atlântica, milha-res de espécies da floresta foram catalogados na memória de seusnativos. A complexidade da floresta como ecossistema, certa-mente, não teria passado despercebida aos seus moradores origi-nais. Com toda essa riqueza de informação, os indígenas acumu-laram conhecimentos de volume considerável, um patrimônioúnico que, lamentavelmente, não foi no momento certo aprovei-tado pelos colonizadores portugueses, tendo-se perdido, ao con-trário e para sempre, na penumbra do tempo.
Pode-se concluir dizendo que a atividade agrícola pré-desco-brimento, a despeito de problemas que terá enfrentado, conseguiusustentar a sociedade que dela dependia sem graves alterações
Frans Post. Alagoa Ad Austrum. Gravura em metal
do livro Rerum per Octennium in Brasilien,
de Gaspar Barléu, 1647.
Abaixo:
Tamanduá-guaçu. Do livro de Georg Marcgraf,
Historiae Rerum Naturalium, 1648.

“transoceanismo”: “desejo de ganhar fortuna o mais depressa pos-sível para a desfrutar no além-mar” (Prado, 1931). A própria in-vasão holandesa teria contribuído para o reforço do espírito aven-tureiro, uma vez que a espécie de colono por ela trazida paraPernambuco era recrutada em todos os países da Europa entreaventureiros: geralmente “homens cansados de perseguições (que)vinham apenas em busca de fortunas impossíveis, sem imaginarcriar fortes raízes na terra” (Holanda, 1976).
Já em 1552, o Padre Manuel da Nóbrega, em uma das inúme-ras cartas que escreveu do Brasil, salientava: “De quantos lá vieram,nenhum tem amor a esta terra (...) todos querem fazer em seu pro-veito, ainda que seja a custa da terra, porque esperam de se ir”.Algo semelhante é dito em outra carta desse religioso: “Não que-rem bem à terra, pois têm sua afeição em Portugal; nem trabalhamtanto para a favorecer, como por se aproveitarem de qualquer ma-neira que puderem”. Frei Vicente do Salvador (1918) é até jocosona constatação, em 1627, do mesmo atributo dos colonizadores:
“Os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra es-tejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal e,se as fazendas e bem que possuem souberem falar, também lheshouveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a pri-meira cousa que ensinam é: papagaio real para Portugal, porquetudo querem para lá. E isto não têm só os que de lá vieram, masainda os que cá nasceram, que uns e outros usam da terra, não co-mo senhores, mas como usufrutuários, só para a desfrutarem e adeixarem destruída”.
Era “normal”, portanto, nesse contexto, que, nos propósitos dacolonização, a Mata Atlântica, com toda sua exuberância indicado-ra de fertilidade, figurasse como nada mais do que uma muralha,um obstáculo enorme, de verdade, para o avanço da cobiça insaciá-vel dos portugueses (cf. Freyre, 1985; Dean, 2004). E disso os co-lonizadores logo se deram conta. Eles teriam que se satisfazer nasua ânsia de prosperidade sem custo, na sua busca de riqueza fácil,com a exploração direta da natureza. Romper a muralha vegetalque bloqueava seu caminho era o grande desafio a ser enfrentado(cf. Pádua, 2002), e a saída mais óbvia para o avanço da conquista.
Sobre o tema, o agrônomo Miguel Antônio da Silva, citadopor Pádua (2002), oferece eloqüente testemunho:
“Os primeiros colonos portugueses que aportaram a esseabençoado torrão da América depararam com mateiros de ferti-lidade incrível, verdadeiros tesouros acumulados por séculos e sé-culos em solos virgens; esta fertilidade fascinou-os, julgando-ainexaurível, e tal foi a causa primordial do fatalíssimo sistema queiniciaram de espoliação das terras, verdadeiro roubo; sistema quedesde os tempos coloniais ficou profundamente arraigado nasnossas práticas agrárias”.
De outra parte, convém lembrar que a “conquista”, ou inva-são sem resistência do nativo, conferia aos europeus e seus ape-tites insaciáveis o que eles supunham serem direitos absolutos
sobre os conquistados. Nessa percepção, a floresta era apenasmais um troféu do saque (cf. Dean, 2004). Ambição, desejo deenriquecimento imoderado, sede de metais preciosos: tudo issoconduzia a busca de ouro, a qual, impossibilitada de materiali-zar-se pela aparente inexistência do metal na nova terra, termi-nou levando os europeus à apropriação do precioso capital con-tido na opulência da floresta. Somando-se a isso sua experiênciaanterior com situações que não eram de natureza selvagem, masde uma natureza domada, concebe-se a alternativa do ataquemortífero para submissão da Mata Atlântica aos fins da coloni-zação. Nesse esforço, a virulência do apetite dos conquistadoresserá maior até do que o poder de suas armas, como lembra Dean(2004). Ingenuamente, Caminha, em sua carta, indicava a D.Manuel i que “o melhor fruto que (da nova terra) se pode tirarparece-me que será salvar esta gente”. Salvar como, pois se elanão parecia à mercê de um desastre (salvo o que os portuguesestramavam)? Nas palavras do escrivão da frota de Cabral, “para senela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber,acrescentamento da nossa fé!”. Fé, sim, mas no enriquecimentomovido a concupiscência irrefreável.
O processo de exploração da Mata Atlântica
Sem nenhuma dúvida, o processo de exploração da Mata Atlân-tica em seu segmento de Alagoas e Pernambuco (e no mesmodiapasão do restante do país) encerra uma história de inequívocobarbarismo: um confisco posto em prática por representantes doimperialismo ecológico europeu. O início do processo se dá como corte do pau-brasil – conhecido também, em princípios, como“pau-de-pernambuco”. No século xvi, estima-se que cerca de oi-to mil toneladas de madeira foram do Brasil para Portugal, volu-me que corresponde a uns dois milhões de árvores (Dean, 2004).O número é chocante e pode ser até corrigido para mais. Segue-se, pouco a pouco, a fórmula do saque da biota pela expansão dasplantações de cana-de-açúcar. Nesse cenário, como indica Pádua,a cana avançava segundo um padrão, o normal nas circunstâncias,“horizontal predatório, adaptado à realidade específica de cada re-gião” (Pádua, 2002). O fogo se usava como parte inescapável dopadrão, reproduzindo um fenômeno, a propósito, que ocorria co-mo meio de moldar e controlar o meio natural e que fora, e con-tinuava sendo, do mesmo modo, empregado pelos primeiros po-voadores da América. Os portugueses seguiram a mesma técnicados indígenas, porém em escala muito maior, sem dúvida, e maisimpiedosamente, adotando a solução da queima e derrubada co-mo método preferido sobre qualquer outro (Dean, 2004). E o fi-zeram no afã de um enriquecimento veloz, como já se explicou,cometendo “todos os crimes que os homens dessa época pratica-vam para satisfação de suas paixões” (Prado, 1931: 84).
h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
2 1
f r a g m e n t o s d e m a t a a t l â n t i c a
2 0
Frans Post. Alagoa Ad Austrum. Gravura em metal
do livro Rerum per Octennium in Brasilien,
de Gaspar Barléu, 1647.
Página anterior:
Tamanduá-guaçu. Do livro de Georg Marcgraf,
Historiae Rerum Naturalium, 1648.
Página 22:
Tamanduá-guaçu. Do livro de Georg Marcgraf,
Historiae Rerum Naturalium, 1648.

h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
2 3
tica continuaria a propiciar lucros fáceis, ganhos sem custos, euma transferência real de recursos para a Metrópole. Bem no es-tilo do espírito ou princípio do aventureiro.
Com a queima e devastação da floresta, ficava “uma camadaimensamente fértil de cinzas que possibilitavam uma agriculturapassiva, imprudente e insustentável” (Dean, 2004). O recurso àsqueimadas deveria, lembra Buarque de Holanda (1976),
“parecer aos colonos estabelecidos em mata virgem, de umatão patente necessidade que não lhes ocorre, sequer, a lembrançade outros métodos de desbravamento. Parece-lhes que a produti-vidade do solo desbravado e destocado sem auxílio do fogo não étão grande que compense o trabalho gasto em seu arroteio, tantomais quanto são quase sempre mínimas as perspectivas de merca-do próximo para a madeira cortada”.
Simultaneamente a esse processo de avanço pela queimada,aumentava a população de modo persistente na região, o capi-tal se acumulava opulentamente, e a Mata Atlântica sucumbiaà ganância da colonização. Nenhuma restrição se antepunha aoprocesso em curso, o que iria ser uma constante, como observaDean (2004), durante meio milênio de gula.
Ao findar o século xvi, nas estimativas de Furtado (1967), aprodução de açúcar na colônia deveria superar 2 milhões de arro-bas (13,3 mil toneladas), uma cifra apreciável. Talvez menos que is-so, pois Antonil (1997) sugere em 1710 um total de 1,3 milhão dearrobas. Mas Antonil não deveria ter os dados mais completos daeconomia açucareira da época. Pernambuco, de qualquer forma,possuía então 246 engenhos, o que indica uma atividade bastanteampla e difusa. Em realidade, a informação disponível mostra queo açúcar havia se tornado a única atividade econômica de porte,sendo a razão de uma ligação estreita entre a Mata Atlântica e aMetrópole lusitana. O pau-brasil aparecia também aí, mas commenor intensidade. O exclusivismo da cana, por outro lado, fezcom que muitos outros produtos silvestres – a exemplo do índigo– que poderiam ter sido coletados, caso os colonos procurassemconhecê-los, ficassem à margem do processo. O índigo (anil) eraum recurso nativo domesticado, um corante azul familiar aos ín-dios, que o usavam, extraído de numerosas espécies nativas deIndigofera. Apresentava vantagens sobre outras formas de utilizaçãoda mata. Era mais simples de explorar e muito menos destrutivodo meio ambiente do que a cana. Conceição Velloso tratou disso,salientando “a grande vantagem do comércio de índigo, compara-do a culturas de plantation como a do açúcar”.
De qualquer modo, entre todos os produtos plantados pararender um excedente exportável para a Metrópole, a cana-de-açúcar era insuperável, razão por que a história do Brasil nos pri-meiros séculos da colonização foi a história do açúcar. Como re-sultado, o avanço do canavial “desvirginou”, no dizer de GilbertoFreyre (1985), o mato grosso da floresta, e “do modo mais cru: pe-la queimada. A fogo é que foram se abrindo no mato virgem os
Crimes, é claro, não são ações inocentes. Eles foram perpe-trados amplamente na Terra de Santa Cruz, a começar do fatode que, como lembra Furtado (1967), “a primeira atividade co-mercial a que se dedicaram os colonos foi a caça do índio”. Caçade gente, ou preação, como diz Andrade (1998), é o que se podeimaginar de mais doloroso e desumano como negócio. Mas noinício do século xvi, isso era facilitado pela própria Igreja Ca-tólica, que considerava que os índios não possuíam direitos (se-quer tinham alma). A coisa só foi remediada, ainda que relutan-temente, quando o Papa Paulo iii, em 1537, mudou a posiçãoreligiosa oficial com a encíclica Sublimis Deus. Vale lembrar que asbandeiras paulistas tiveram como principal título de glória “a lu-ta contra a natureza de que fazia parte o índio indefeso” (Pra-do, 1931). Por outro lado, como mostra Crosby (1993), a históriaflorestal é, em todo o planeta, uma narrativa de situações de ex-ploração e destruição (cf. também Dean, 2004). No caso da cap-tura de indígenas, tudo se processou para vantagem do colono.Os invasores tinham armas de fogo, experiência bélica e esta-vam organizados para a conquista. Os nativos, completamentedesarmados, exceto por seus arcos-e-flechas para caçar bichos,não possuíam nenhum sistema de defesa sólido e tinham suastradições sagradas, suas famílias e uma rotina complexa de vidade que cuidar (cf. Crosby, 1993). Além disso, a troca totalmentedesigual de elementos patogênicos entre europeus e brasileirosautóctones, como resultado de fatores biogeográficos e em pre-juízo do último dos dois grupos, aumentava o poder de domi-nação do primeiro.
Na descrição de Couto (1849), o colono português, em seuímpeto de conquistador, ao qual não era oposta nenhuma resis-tência séria, tratava o meio ambiente “com um machado em umadas mãos e um tição na outra”. Praticava assim “uma agriculturabárbara”, como alguém que “olha para duas ou mais léguas de flo-restas como se elas não fossem nada, e ele mal as reduziu a cinzase já lança seu olhar ainda mais adiante para levar a destruição aoutras partes” (Couto, 1849). Foi dessa forma que a “cana come-çou a reinar sozinha sobre léguas e léguas de terras avermelhadaspela coivara. Devastadas pelo fogo” (Freyre, 1985). A forma de fa-zer isso já fora registrada por Antonil (1997), que indica: depoisda escolha da melhor terra para a cana, “roça-se, queima-se ealimpa-se, tirando-lhe tudo que podia servir de embaraço”. Tirartudo que podia servir de embaraço, a destruição, pois, constituimarca firme do primeiro século da colonização e que vai se repro-duzir sintomaticamente daí por diante até os nossos dias. No co-meço do século xvii, D. Diogo de Menezes, governador da re-partição do Norte, escrevia ao rei de Portugal: “Creia v. m. que asverdadeiras minas do Brasil são açúcar e pau-brasil de que v. m.tem tanto proveito, sem lhe custar de sua fazenda um só vintém”(apud Prado, 1931). Era gratuito – não custava nada para a Coroa– o patrimônio que se dilapidava. Daí por diante, a Mata Atlân-

h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
2 5
f r a g m e n t o s d e m a t a a t l â n t i c a
2 4
claros por onde se estendeu o canavial civilizador mas ao mesmotempo devastador” (Freyre, 1985). A devastação se dava também,embora em escala menor, pelo uso das ferramentas manuais quetanto encantavam os índios, o machado e seu simbolismo à fren-te. Graças ao escambo com os europeus, com efeito, os indígenaspassaram a usar artefatos de ferro, antes desconhecidos. A respei-to, lembra Dean (2004): “É difícil imaginar o quanto deve ter si-do gratificante” para os índios “seu súbito ingresso na idade doferro, o quanto isso foi transformador de sua cultura e o quantofoi destrutivo para a floresta”.
Sendo cultivada com adubação na Ilha da Madeira e em SãoTomé, a cana-de-açúcar terminava sem requerer o mesmo noBrasil. E, em certos lugares, ela podia ser cortada em anos suces-sivos com dispensa de replantio. O regime de chuvas do litoralnordestino contribuía para a lucratividade do negócio, descartan-do a irrigação. A isso se adicionava o fato estimulante de as espé-cies de cana introduzidas no Nordeste estarem “livres das doen-ças e parasitas que as empestavam nos locais de onde haviam sidotransportadas” (Dean, 2004). Quanto ao uso da irrigação, desne-cessária nos primórdios da colonização, ela se torna hoje obriga-tória em muitos dos canaviais pernambucanos e alagoanos. Mu-dança de condições ambientais?
Na visão de Antonil (1997), os compradores de engenhos de-veriam usar “de toda a diligência para defender os marcos e as águasde que necessite, para moer, o seu engenho”. Ainda segundo ele,para seu sustento, cada engenho deveria dispor, primeiro, de boasterras: “As terras boas ou más são o fundamento principal para terum engenho real bom ou mau rendimento” (Antonil, 1997; cf.Freyre, 1985). No caso, eram as famosas terras do massapê, “ter-ras de barro gordo” (Freyre, 1985), “terras férteis de cana” (Frey-re, 1985). Em segundo lugar, de bastante água para as moendas:como registra Freyre (1985), “No Nordeste da cana-de-açúcar, aágua foi e é quase tudo”. Em terceiro, de matas situadas perto doengenho para a extração de lenha: “ter a lenha mais perto que pu-der ser” (Freyre, 1985). Antonil notava que muitos senhores deengenho vendiam as terras, por cansadas, ou por falta da lenha
que alimentava as fornalhas e da madeira para as construções(Antonil, 1997). Em quarto lugar na lista de fatores favoráveis àatividade canavieira, eram necessárias muitas peças de bons es-cravos e várias juntas de bois com seus carros. “Terra, água, matas.Negros e bois”, conclui Freyre (1985). Da floresta, em quantida-de menor, mas não desprezível, o engenho ainda precisava de ma-deira para produzir cinzas (usadas na purificação do açúcar), paraas caixas de açúcar – de 35 arrobas – em que o artigo era expor-tado, e para os barris de cachaça.
Antonil destaca como a casa da moenda dos engenhos possuía“teto coberto de telha assenta sobre tirantes, frechais e vigas depaus, que chamam de lei, que são dos mais fortes que há no Brasil,a quem nenhuma outra terra leva nesta parte vantagem” (An-tonil, 1997). E ajuntava:
“Parece-me necessário dar notícia dos paus e madeiras de quese faz a moenda e todo o mais madeiramento do engenho, que noBrasil se pode fazer com escolha, por não haver outra parte domundo tão rica de paus seletos e fortes, não se admitindo nestafábrica pau que não seja de lei, porque a experiência tem mostra-do ser assim necessário” (Antonil, 1997).
Era uma riqueza natural sem conta que permitia escolhas tãoexigentes. A situação se tornava possível pelo sistema português deconcessão de sesmarias de tamanhos espantosos. Graças a isso, osdonos das terras não tinham que se preocupar com um uso parci-monioso de seu recurso principal, a natureza, o que era estimuladopela postura portuguesa de “ser conivente com a expropriaçãoprivada sem custo algum para os expropriadores” (Dean, 2004).A técnica de exploração da floresta e de seus solos podia então serdestrutiva, na visão dos colonizadores, pela razão de que o ecos-sistema parecia uma cornucópia inesgotável. Dispensava-se in-clusive o pousio, uma vez que os solos, depois das queimadas,mostravam-se imensamente férteis (Dean, 2004).
Na mesma linha de crença na abundância de uma naturezapródiga, o arado pôde ser ignorado na colônia. O solo não neces-sitava dos elaborados serviços de aragem para render mais. Sualimpeza dependia apenas da queimada, que assim facilitava os
Frans Post. Alagoa Ad Austrum. Gravura em metal
do livro Rerum per Octennium in Brasilien

chama de “mortos vivos”. Trata-se de um processo biológico nasflorestas secundárias, cujas árvores estão lá, mas não são viáveisbiologicamente: não se reproduzem por não terem mais poliniza-dores ou dispersores das sementes. Esperam apenas a morte chegar.Com isso, ocorriam saque e devastação. Simplificação ecossistê-mica irreversível. Perda irreparável de capital natural. Prejuízos de-finitivos para as gerações futuras de brasileiros.
Por cima ainda, Baltazar da Silva Lisboa comentava que a agri-cultura era levada a efeito no Brasil “o mais miseravelmente que épossível imaginar”. E remetia à má confecção das fornalhas nos en-genhos, as quais, sem restrições de custos ambientais internaliza-dos, consumiam lenha exageradamente, a ponto de, no final do sé-culo xviii, para uma carrada de cana se requerer outra de lenha.Dean (2004), de modo algo surpreendente, supõe que a depreda-ção ambiental por esse motivo teria sido “modesta”. Com essa opi-nião não concorda, entretanto, o relato de Antonil (1997), ao infor-mar que sendo “grosseiras”, as fornalhas sobre as quais repousavamos tachos de caldo de cana transformavam-se em “bocas verdadei-ramente tragadoras de matos”, levando a “horrorosa despesa de le-nhas”, nas palavras de Bittencourt e Sá. Essa também é a opinião deJosé Bonifácio de Andrada e Silva. Antonil (1997), ingenuamentecom a imagem de um ecossistema superabundante, não via aí, po-rém, um problema, pois “só o Brasil, com a imensidade dos matosque tem, podia fartar, como fartou por tantos anos, e fartará nostempos vindouros, a tantas fornalhas, quantas são as que se contamnos engenhos da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, que comu-mente moem de dia e de noite, seis, sete, oito e nove meses do ano”.
O uso do calor gerado por lenha era também malbaratado nofabrico de tijolos e telhas, do mesmo modo que no preparo da calutilizada em argamassa e no acabamento de paredes. As cidadese vilas representavam igualmente um consumo elevado de ma-deira e carvão (Dean, 2004), o que implicava mais destruição dearvoredos. Antonil (1997) menciona as fornalhas de olarias como
h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
2 7
trabalhos de cultivo. E era abandonado, tão logo desse sinais dedesvitalização. Com isso, a economia de mão-de-obra pôde sermarcante. O colono português que não possuísse escravos tinhacondições de levar adiante sua lavoura. A terra, por sua vez, eraconcedida gratuitamente. Não havia incentivo, dessa maneira,para protegê-la, inclusive porque o sistema admitia novas conces-sões de sesmarias sempre que isso fosse indicado. De fato, haven-do “consumido toda a floresta primária mais promissora em dadasesmaria, um donatário costumava vendê-la por uma ninharia epedia outra, que normalmente obtinha sem dificuldade” (Dean,2004). Essa forma simplificada de obter terra, possível quando seconfisca o patrimônio alheio, levava a que se queimassem os me-lhores matos, e os mais próximos às povoações. Estas, no meio daabundância de recursos naturais da colônia, terminavam sentin-do “a falta das madeiras, das lenhas e dos capins”. A tal respeito,José Gregório M. Navarro (apud Pádua, 2002) assinalava em1799 que os povoados, cidades grandes, vilas notáveis, etc. funda-dos pelos colonizadores portugueses encontravam-se na situaçãode “corpos desanimados. Porque os lavradores circunvizinhos,que por meio da agricultura lhes forneciam os gêneros de primei-ra necessidade, depois de reduzirem a cinza todas as árvores, de-pois de privarem a terra da sua mais vigorosa substância, a deixa-ram coberta de sapé e samambaia (...) e abandonando as suascasas com todos os seus engenhos, oficinas e abegoarias, se foramestabelecer em outros terrenos”.
Terra abundante, nomadismo das queimadas, consumo ir-responsável de lenha. Florestas desprotegidas. Destruição daMata Atlântica. Uma agricultura sem responsabilidade ambien-tal. Pode-se conceber assim o drama da Zona da Mata de Per-nambuco e Alagoas.
Vale lembrar aqui, com Pádua (2002), que, pela lógica da aven-tura, do raciocínio de Sérgio Buarque de Holanda (1976), e dian-te da opulência da biomassa vegetal, as queimadas devem terconstituído o método mais barato e eficaz para a exploração dacana-de-açúcar. Mais eficaz, graças à superabundância de nature-za. Mais barato, porque o fator terra tinha custo zero para o em-preendedor. A operação de pôr fogo na mata, ademais, exige me-nos mão-de-obra do que retirar o mato mecanicamente; o tempogasto em sua realização, de outra parte, é menor, uma vez que ohomem incendeia a floresta e vai trabalhar em outra coisa. Daí ainevitabilidade da destruição ambiental, prevalecendo aqui o ratio-
nale da economia de rapina, mais certamente do que a lógica da co-lônia de exploração. O nativo, por sua vez, não opôs resistência àinvasão do colonizador. Pelo contrário, foi presa fácil, caçada co-mo anta, onça ou jacaré. As ricas matas, apropriadas alegrementepelo europeu, viravam roçados e logo capoeiras. Seus ecossistemasoriginais, simplificados pela ambição comercial, mudavam de mo-do irrecuperável. E quando ocorria de a floresta voltar na forma defloresta secundária, o fenômeno produzia aquilo que Janzen (1971)
f r a g m e n t o s d e m a t a a t l â n t i c a
2 6
O beija-flor Phaetornis em Portea leptantha.
Página ao lado:
Euglossinae em flor de Cryptanthus.

desperdiçadoras de “muita lenha de armar, e muita de caldear, ea de caldear há de ser de mangues, os quais, tirados, são a des-truição do marisco, que é o remédio dos negros”. Não há comofugir da constatação de se estar diante de um modelo vorazmen-te predador da natureza. Com isso, no século xviii, a MataAtlântica já tinha reduzido consideravelmente sua extensão(Dean, 2004). Não obstante, esforços foram feitos, especial-mente a partir do fim do mesmo século, para aproveitamento dobagaço da cana no cozimento do açúcar, poupando-se a mata(Maia, 1985). Mas eram de pouca significação, apesar do empe-nho de autoridades como o presidente da província de Pernam-buco em 1857 (Maia, 1985).
Somente em 1810 apareceria alguém realmente preocupadocom a possibilidade de extinções da flora e fauna desse ecossiste-ma. Segundo Dean (2004), Manuel Arruda da Câmara, que des-creveu inclusive espécies de bromélias endêmicas de Pernambucoe Alagoas, como a Aechmea muricata (A. Camara) Mez., e outras be-líssimas, a exemplo da Pseudananas sagenarius (A. Cam.) Camargo,foi o primeiro visionário com tal percepção. A mesma posição éassumida em 1875, de acordo com Pádua (2002), por NicolauJoaquim Moreira, que reclamava em Indicações agrícolas para os imi-
grantes que se dirigem ao Brasil: “Há 375 anos que uma cultura rotinei-
síaca Praia de Muro Alto, no Município de Ipojuca, vai ceder lu-gar a projetos hoteleiros de resorts para o turismo. Na matinhapróxima, que sobrevive com alguma imponência na Praia doCupe, os organizadores deste livro acabam de descrever para aciência uma nova espécie de Cryptanthus (Bromeliaceae) que é reve-lada na presente obra. Uma ânsia por terras e a exploração des-trutiva da floresta, levando-a à condição de recurso não renová-vel, liquidará em sucessão faixas que sobreviviam relativamenteintactas da Mata Atlântica. Ou seja, sem maiores argumentos ede maneira oportunista, impôs-se um crescimento econômico dedesfecho sempre incerto contra florestas milenares, ímpares e ri-quíssimas em diversidade biológica. Essa é a herança de uma his-tória de violências constantes, matizadas de furor antiecologista ede ódio insensato à vida selvagem: a história socioambiental datransformação da Mata Atlântica nos últimos quinhentos anos.
A escravidão e a destruição da Mata Atlântica
Um dos elementos ponderáveis da tragédia da exploração violentados recursos naturais na colonização da Mata Atlântica refere-se aouso indiscriminado do trabalho escravo, fator de agravamento danatureza perdulária com que se levou adiante o projeto de ocupa-ção das terras para o cultivo da cana-de-açúcar. Não se trata dequerer entrar aqui no interior do sistema da escravidão no Brasil,examinando suas entranhas, assunto que tem sido objeto no paísde tantos estudos preciosos em épocas diversas. Segundo SérgioBuarque de Holanda, sem braço escravo, não bastaria “a terra far-ta, terra para gastar e arruinar” de que dispunha o colonizador(Holanda, 1976). De começo, o europeu tentou valer-se do índiopara tanto, caçando-o, preando-o, prendendo-o. Todavia, o nativonão estava acostumado ao regime laboral. Andrade (1998) esclare-ce que o desenvolvimento cultural dos nativos não havia atingido“a fase da agricultura sedentária”. Eles não estavam preparados pa-ra a empreitada lusitana. Para levar adiante a lavoura da cana, erapreciso mão-de-obra abundante, mão-de-obra para o trabalho depreparação e cuidado da vastidão das terras. Não estava em ques-tão qualquer crença de superioridade racial do elemento luso.Sérgio Buarque a isso se refere quando diz que “outra face bem tí-pica (da) extraordinária plasticidade social (dos portugueses era) aausência completa, ou praticamente completa, entre eles, de qual-quer orgulho de raça” (Holanda, 1976). O fator que influenciava oprocesso, no caso, era a sede desmedida de riqueza. De que resulta-va como problema principal para o colonizador a escassez de mão-de-obra, necessária para a cultura da cana, para a fabricação e otransporte do açúcar, para os serviços domésticos dos senhores deterra e até para a cultura de mantimentos (Andrade, 1998).
Ao europeu a floresta tropical apresentava-se como um ini-migo do projeto de realização do enriquecimento rápido. Cum-
ra e esgotadora, arvorando em sistema de produção o machado eo facho, a derrubada e a coivara, arranca das férteis terras brasi-leiras os elementos de grandeza e prosperidade das futuras gera-ções”. Esse sentimento irá crescer daí por diante, com as diversasformas de utilização do espaço da Mata Atlântica ao longo da his-tória econômica do país. A introdução do café no Centro-Sul sig-nificará a devastação de solos cobertos por florestas primárias queainda restassem em pé, o mesmo acontecendo em áreas dos bre-jos de altitude pernambucanos e alagoanos. De igual forma, o de-senvolvimento do transporte ferroviário implicará a derrubadade floresta, inclusive pela exigência de grandes quantidades dedormentes pelas linhas férreas. Em Pernambuco e Alagoas, matosdensos eram cortados para suprir os trens de lenha para alimen-tar suas caldeiras – estas seguramente mais eficientes que as dosengenhos do relato de Antonil. Até os anos 1940, quando eu eracriança, como pude testemunhar, na Great Western – a ferroviada Zona da Mata em Pernambuco e Alagoas – só havia locomo-tivas a lenha. As movidas a petróleo apareceram apenas, comogrande novidade, no final da década de 1950, quando a compa-nhia inglesa foi nacionalizada e transformada em Rede Ferroviá-ria do Nordeste (rfn). O crescimento populacional e econômi-co, sem nenhum cuidado de preservação ambiental, representouno período republicano acelerada perda da opulência vegetalremanescente da Mata Atlântica (Dean, 2004). Reforçando atendência, o programa do álcool combustível (nos anos 1970)agravou os desmatamentos. Foi com essa iniciativa, consideradaambientalmente saudável – por se evitar a queima de combustí-veis fósseis, substituídos pelo etanol da cana-de-açúcar –, quequase todas as últimas ilhas de floresta que cobriam os cumes dosmorros da Zona da Mata de Pernambuco, a que fiz referência an-teriormente, desapareceram por completo.
Com propriedade, Dean refere-se à “nova e terrível ameaça”– aparecida a partir do lançamento da ideologia desenvolvimen-tista no após-guerra – que se vai abater sobre a Mata Atlântica:“Era uma idéia, na verdade uma obsessão, chamada ‘desenvolvi-mento econômico’” (Dean, 2004). Na verdade, mais que isso, eraa mania do crescimento, ou “growthmania”, de Mishan (1993), poisdesenvolvimento e crescimento não são a mesma coisa. O pri-meiro pode conter crescimento, mas é essencialmente evolução,mudança. O segundo, ao contrário, significa necessariamente ex-pansão, aumento. Tudo isso vai estar muito ligado a fenômenosde extinção da biodiversidade da Mata Atlântica, pois é aí que amaioria das intervenções irá se realizar, com iniciativas como dis-tritos industriais em Pernambuco e Alagoas, o porto de Suape, aconstrução de hotéis e estradas litorâneas e até projetos como ode uma refinaria de petróleo. Tudo isso explicado como fator decrescimento da economia, de geração de emprego e renda. Umabela reserva florestal que havia a menos de 50 km ao sul doRecife, de uns 200 ha, na desabitada e, por isso mesmo, paradi-
h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
2 9
f r a g m e n t o s d e m a t a a t l â n t i c a
2 8
O beija-flor Phaetornis em Portea leptantha.

pria vencer tal adversário pela colonização agrária. O colonizadorconseguiu isso, como assinala Gilberto Freyre, “destruindo-o”(Freyre, 1985). Não houve tentativa de adaptação do europeu àmata, na qual o braço servil executava as ordens do senhor. Or-dens de destruição. Ao contrário, o escravo negro sabia convivercom esse meio natural, daí por que se vai encontrá-lo adaptando-se à floresta, em parte adaptando-a às suas necessidades quandona condição de “evadido na monocultura escravocrata e latifun-diária” (Freyre, 1985). Dessa maneira, a cana aristocratiza o bran-co em senhor e degrada “o índio e principalmente o negro, pri-meiro em escravo, depois em pária” (Freyre, 1985). É o mesmoprocesso que promove o canavial a rei e atribui valor desprezívelà mata. A mercantilização do negro africano, alicerce da obra dacolonização, e da natureza selvagem, um tesouro de riqueza queparecia inesgotável, embrutece o sistema, conferindo-lhe o ca-rimbo da devastação dos humanos e dos recursos ecossistêmicos.Esse carimbo é o de uma exploração econômica estigmatizada pe-la rapina e pela deformação do homem. E pintada com as coresda monocultura, do latifúndio, da escravidão, da coivara, da der-rubada, em que a terra se reduz “a um monturo que se exploracom nojo” (Freyre, 1985).
Com a escravidão e o “colonialismo de exploração intensiva”,tornou-se impossível desenvolver aqui uma economia campone-sa como a da Península Ibérica. Com o agravante de que “uma so-ciedade baseada na mão-de-obra compulsória não (leva) em con-ta o ambiente” (Dean, 2004). Nessa sociedade, com efeito, naqual o valor da vida humana é irrisório, conservar recursos natu-rais torna-se irrelevante, algo absolutamente secundário. O flo-rescimento da pujante economia do açúcar se dá, portanto, noâmbito de um sistema que sacrifica a vida de gente (nativos e afri-canos) a um custo muito alto em termos de destruição da flores-ta original. Teria valido a pena em termos de resultados? Deanconsidera que não, que os custos foram espantosamente despro-porcionais aos resultados (Dean, 2004). E que os portugueses,“com suas formas extraordinariamente perdulárias de exploraçãodos recursos naturais, (tiveram ganhos) tão exíguos quantoimensos foram os desperdícios” (Dean, 2004). Restou que o queas práticas devastadoras serviram para fazer foi constituir umafonte da renda que abastou uma elite senhorial cheia de privilé-gios, assim como a máquina do Estado (Pádua, 2002).
Isso levou a que, por exemplo, no fim do século xviii e co-meço do século xix, a percepção dos críticos da destruição am-biental (caso de Antônio Veloso de Oliveira, Baltazar Lisboa eJosé Severiano Maciel da Costa) fosse a de que existia um víncu-lo entre o fim do escravismo e a superação daquela (Pádua,2002). Conforme a percuciente análise de Pádua (2002),
“o domínio do trabalho servil (era apontado) como uma dasprincipais causas da rudeza e ineficiência da agricultura brasilei-ra, impedindo a emergência de uma classe de agricultores cons-
h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
3 1
O beija-flor Phaetornis em Portea leptantha.
Ao lado:
Euglossinae em flor de Cryptanthus.

h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
3 3
das, configurando o que Freyre (1985) apropriadamente chamoude “patologia social da monocultura”. O processo de devastaçãoverificado foi avassalador, com “o arvoredo mais nobre e maisgrosso da terra (...) sendo destruído não aos poucos, mas emgrandes massas” (Freyre, 1985). Pior: muitas das madeiras derru-badas não eram utilmente aproveitadas. “Grande parte foi des-manchada em monturos pela coivara, foi engolida pelas fornalhasdos engenhos” (Freyre, 1985). Outra parte foi levada para setransformar em navio e porta de convento no além-mar:
“O que Portugal retirou de madeira do Nordeste – madeiragorda e de lei, que a outra lhe dava até repugnância – para (...) todaa sua arquitetura voluptuosa (...) forma um capítulo da história daexploração econômica do Brasil pela Metrópole, na sua fase já para-sitária, que um dia precisa ser escrito com vagar” (Freyre, 1985).
Vale salientar que, nos documentos da Biblioteca Pública doEstado de Pernambuco, encontra-se carta do Marquês de Pombal,de 6 de dezembro de 1775, “exigindo que do Brasil só fosse paraPortugal pau-brasil do melhor e ‘em toros grossos’: nada de paus‘miúdos’ ou ‘bastardos’” (Freyre, 1985). Nos engenhos, como sinalde verdadeiro esbanjamento, de um luxo imoderado, faziam-secercas com madeira de lei, aquela que Antonil (1997) descreveucom tanto entusiasmo. Ou seja, como sintoma de um modelo des-perdiçador, dispôs-se da floresta com a maior desenvoltura. E afloresta “forneceu coisas demais com facilidade demais” (Stuart B.Schwartz, Prefácio, in Dean, 2004).
Ladrão de terras, o monocultor não somente acabava com aopulência vegetal da floresta. Empobrecia também o solo, favore-cendo pelo desmatamento a erosão causada pelas chuvas, cujaságuas passavam a correr para o mar levando a camada fértil dosterrenos, sua gordura. Devastando-se as matas e utilizando-se o
sob a égide do tipo “aventureiro”, com sua concepção “espaçosa” domundo e suas energias dirigidas para um rápido proveito material.Agindo “com desleixo e certo abandono” (Holanda, 1976), o aven-tureiro, sem uma vontade construtora, não segue regras de em-preendimentos metódicos e racionais. Como notou Frei Vicentedo Salvador (1918), tudo o que aqui havia se queria levar para aMetrópole, usando-se a colônia unicamente para propósitos gulo-sos “e a (deixando) destruída”. Não se pensava em fazer sacrifícios,mas somente em benefícios excessivos. A própria agricultura esta-belecida por Duarte Coelho Pereira, primeiro donatário de umacapitania, a de Pernambuco – que ia da Campina dos Marcos, nahistórica cidade de Igarassu, ao norte do Recife, até o Rio SãoFrancisco –, “só com alguma reserva” (Holanda, 1976) poderia serchamada por esse nome. Nela, “a técnica européia serviu apenaspara fazer ainda mais devastadores os métodos rudimentares deque se valia o indígena em suas plantações” (Holanda, 1976).
A ocupação da terra pela lavoura canavieira, além do faro daganância lusitana, foi conseqüência da extraordinária qualidadedo solo de massapê que havia sob o tapete da Mata Atlântica nor-destina, com sua argila, seu húmus, sua extrema fertilidade, com-pletada pela qualidade da atmosfera. Foi isso que condicionou,como talvez nenhum outro elemento, a especialização regional dacolonização da América pelos portugueses à base da cana-de-açúcar. “Uma vez desbastada (a floresta) de seu arvoredo maisgrosso (...) fazia gosto plantar cana. Foram essas manchas excep-cionais que tornaram possível a civilização baseada na cana-de-açúcar que aqui se desenvolveu” (Freyre, 1985). Resultou dissouma dilapidação do patrimônio natural, causada pelo sistemamonocultor e caracterizada por paisagens deformadas, empobre-cidas, devastadas nas suas florestas. Com águas também degrada-
f r a g m e n t o s d e m a t a a t l â n t i c a
3 2
ciente, laboriosa e diretamente envolvida com o melhoramentotecnológico e administrativo de sua atividade”.
Joaquim Nabuco aborda o assunto, mostrando como a relaçãodo homem com a terra, sob o regime da escravidão, não era a deum “consórcio” de ambos; nem de “habitação permanente” da ter-ra; nem de “posse definitiva do solo”. Era de um “triste espetáculo”de “luta do homem com o território por meio do trabalho escra-vo”, em razão da qual o solo não adquire vida. Abolida a escravatu-ra, as mesmas práticas de destruição pela combinação do fogo coma monocultura prosseguiram, ampliando-se seu escopo, na verda-de, em direção a outras reservas florestais existentes. Mas isso ape-nas faz lembrar a máxima de Nabuco de que não bastava pôr fim àescravidão: era necessário também “destruir a obra da escravidão”(cf. Pádua, 2002). E essa obra não foi geradora tão-só de uma so-ciedade perversa e vazia de humanismo. Ela igualmente cumpriu asina de devastação do meio ambiente.
Balanço do processo: a entronização da entropia
Alfred Crosby (1993), em seu estudo sobre o “imperialismo ecoló-gico”, versa acerca do que ele chama de “Neo-Europas” (“Neo-
Europes”, no original) – regiões colonizadas pela imigração européiamaciça, como é o caso de Argentina, Uruguai, Austrália, NovaZelândia, Estados Unidos, Canadá. Nessas áreas, prevaleceu clara-mente o tipo de colono chamado de “trabalhador”, da sugestiva di-cotomia de Sérgio Buarque de Holanda (1976). O espírito dessetipo é nutrido por uma ética que “enxerga primeiro a dificuldade avencer, não o triunfo a alcançar” (Holanda, 1976). A exploraçãodos trópicos, a exemplo da Mata Atlântica, pelo contrário, ocorreu
O beija-flor Phaetornis em Portea leptantha.
Ao lado:
Euglossinae em flor de Cryptanthus.

f r a g m e n t o s d e m a t a a t l â n t i c a
3 4
terreno para uma cultura única, possibilitava-se que as outras ri-quezas se dissolvessem na água, se perdessem nos rios. “De-sapareceu assim aquela vegetação como que adstringente, dasmargens dos rios, que resistia às águas, no tempo de chuva, nãodeixando que elas levassem o tutano da terra: conservando o hú-mus e a seiva do solo” (Freyre, 1985). Com sua expansão imperial,os canaviais uniformizadores da paisagem enfraqueciam sobre-modo o ecossistema, simplificando-o ao extremo na moldura damonocultura. Extinguiam a biodiversidade, assoreavam os rios,conspurcavam suas águas. Ficavam na paisagem, entretanto, deuma forma que lhes conferia o perfil simpático, de algo estético eque parecia ter sido sempre nosso. O já citado Ascenso Ferreirasugere isso no poema “Trem de Alagoas”: “Meu Deus! Já deixa-mos / a praia tão longe… / No entanto avistamos / bem perto ou-tro mar... // Danou-se! Se move, / se arqueia, faz onda... / Que na-da! É um partido / já bom de cortar...” A essência da história é quea cana “entrou aqui como um conquistador em terra inimiga: ma-tando as árvores, secando o mato, afugentando e destruindo osanimais e até os índios, querendo para si toda a força da terra. Sóa cana deveria rebentar gorda e triunfante do meio de toda essaruína de vegetação virgem e de vida nativa esmagada pelo mono-cultor” (Freyre, 1985).
Destruídas as matas para a cana, a natureza do Nordeste – ea riqueza de vida que ela encerrava – perdeu a harmonia daqueletodo que se constituía a partir dos complexos elos de seus com-ponentes. O que ficou foram, nas palavras magistrais e inigualá-veis de Gilberto Freyre (1985).
“relações de extrema ou exagerada subordinação: de umas pes-soas a outras, de umas plantas a outras, de uns animais a outros; damassa inteira da vegetação à cana imperial e todo-poderosa; de to-da a variedade de vida humana e animal ao pequeno grupo de ho-mens brancos – ou oficialmente brancos – donos dos canaviais,das terras gordas, das mulheres bonitas, dos cavalos de raça”.
Quando se pensa que, diferentemente das florestas tempera-das, a destruição das florestas tropicais, com seus “mortos vivos”(Janzen, 1971), é muito mais irreversível, no âmbito de qualquerescala histórica, pode-se avaliar o prejuízo que o sistema colo-nizador da Mata Atlântica provocou em termos de perda de di-versidade, complexidade e originalidade. Como enfatiza Dean(2004), o desaparecimento de uma floresta tropical significauma tragédia cujas proporções estão além de qualquer compreen-são ou concepção humana. Trata-se de uma tragédia cuja brutali-dade se agravava pelo desinteresse do colonizador europeu emqualquer prática preservacionista, com árvores nobres servindopara estacas de cercas de engenhos, para portas, para lenha de cal-deiras, para vigas de casas, para a construção naval. Simultanea-mente, com a caça ao índio, os portugueses “imprevidentemente(destruíam) a capacidade dos habitantes nativos de sobreviverem seu meio”, algo que constituía enorme realização cultural
O beija-flor Phaetornis em Portea leptantha.
Página ao lado:
Euglossinae em flor de Cryptanthus.
Página anterior:
Euglossinae em flor de Cryptanthus.

h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
3 7
(com uma base de 12 mil anos de estoque de informação), de quenão tinham a menor consciência e a que “não conseguiram darnenhum valor” (Dean, 2004).
Thomas Lindley, citado por Dean (2004) em Narrative of a
Voyage to Brazil (Londres, 1805), visitando Porto Seguro em 1802,comentava: “Em um país que, com o cultivo e a indústria, chega-ria à fartura com as bênçãos excessivas da natureza, a maior par-te do povo sobrevive em necessidade e pobreza, enquanto mesmoa minoria restante não conhece os desfrutes que fazem a vida de-sejável”. Nesse início do século da independência do Brasil, osdesmatamentos haviam empobrecido o ecossistema, terminandopor pauperizar ainda mais as classes desvalidas. Como resultado,o país apresentava uma
“população sem nome, exausta pela verminose, pelo impalu-dismo e pela sífilis, tocando dois ou três quilômetros quadrados acada indivíduo, sem nenhum ou pouco apego ao solo nutridor;país pobre sem o auxílio humano, ou arruinado pela exploraçãoapressada, tumultuária e incompetente de suas riquezas minerais;cultura agrícola e pastoril limitada e atrasada, não suspeitandodas formidáveis possibilidades das suas águas, das suas matas, dosseus campos e praias” (Prado, 1931).
Alfred Crosby (1993) demonstrou que a colonização tem ocaráter de um fenômeno essencialmente ecológico. No caso bra-sileiro, o impacto ambiental da conquista “só agora começa a seravaliado em toda a sua extensão” (Pádua, 2002). E a conclusão aque se chega é de que a história natural do processo configuraaquilo que se poderia chamar de “conquista biótica do Brasil”(Dean, 2004). Conquista biótica essa que implica o aniquila-mento da rica base biofísica do ecossistema da Mata Atlântica,permitindo a dolorosa constatação, no dizer preciso de Dean(2004), de que “as hostes ignorantes derrotaram totalmente opoder da evolução, entronizando, em seu lugar, a entropia”.
Vale sublinhar que o que aconteceu na Mata Atlântica não foisó a degradação ambiental, mas também uma “catástrofe demo-gráfica”, especialmente do século xvi à primeira metade do sécu-lo xvii. Semelhantemente, no espaço das Américas ocorreu omesmo fenômeno, talvez o maior desastre populacional que jáhouve no planeta (Denevan, 1992). Sinal eloqüente de que o pro-cesso de colonização foi mesmo de destruição humana, além deecológica, no território de domínio ibérico. Denevan comenta atéque o despovoamento indígena em virtude das doenças trazidaspelos europeus fez com que o meio ambiente, mais vazio agora, eonde supostamente houvera deterioração no período pré-colom-biano, se recuperasse em muitas áreas. Mas isso deve dizer respei-to a territórios com populações mais densas, como os do México,Peru e Guatemala; talvez mesmo em partes da América do Norte.O mesmo autor, de qualquer forma, faz a ressalva de que os ín-dios não mudaram a paisagem original na “extensão dos europeuspós-coloniais” (Denevan, 1992). Pela contagem por ele feita, a
O beija-flor Phaetornis em Portea leptantha.
Ao lado:
Euglossinae em flor de Cryptanthus.

h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
3 9
trópicos – e não representa –, ela é, sem nenhuma dúvida, umexemplo conspícuo de modelo extremamente predatório.
Pode-se indicar também como feição do sistema de exploraçãoda Mata Atlântica que a adaptação do colonizador ao meio regionale seu domínio sobre esse mesmo meio “se processaram (...) atravésde ajustamentos (e) de violências, nem sempre fecundas, antes deum valor todo transitório e este mesmo em benefício de alguns in-divíduos, de algumas famílias ou, quando muito, de alguma classe,de um sexo, quase exclusivamente de uma raça, interessada na cul-tura de uma planta única: a cana-de-açúcar” (Freyre, 1985).
Em outras palavras, montou-se uma estrutura exclusivista, cons-tituída de uma única atividade, a monocultura da cana, onde nadamais interessava além dos ganhos que fluíam para uma classe, a dossenhores, e para a Coroa. Onde predominava também o exclusivis-mo da aristocracia e do patriarcado. Não se estabeleceram laços te-lúricos do branco colonizador com a natureza aqui encontrada. Aponto de, como salienta Freyre (1985), “O brasileiro das terras deaçúcar quase não (saber) os nomes das árvores (...). A cana separou-o da mata até esse extremo de ignorância vergonhosa”. Muito dife-rente da realidade do índio e sua intimidade profunda com o ecos-sistema. A “distância entre o colono branco e a mata, entre o donode terra e a floresta, explica nosso quase nenhum amor pela árvoreou pela planta da região” (Freyre, 1985). Nosso antiecologismo.
Aqui cabe a pergunta, feita por Dean (2004), sobre a raciona-lidade de se destruírem os recursos da floresta, especialmentediante dos resultados tão medíocres da empreitada. O problema éque o sistema de exploração da Mata Atlântica, levando à sua des-
f r a g m e n t o s d e m a t a a t l â n t i c a
3 8
pulações nativas criou conflitos ecológicos monumentais. E umprejuízo totalmente irrecuperável para as gerações futuras, mani-festo no desajustamento de relações entre a cana e a natureza, “porela degradada aos últimos extremos” (Freyre, 1985).
Outra face do sistema foi a colônia representar para Portugal“simples lugar de passagem, para o governo como para os súditos”(Holanda, 1976). A obra de colonização lusa do trópico brasileiro,de fato, sugere um cunho de feitorização, bem mais do que de colô-nia de povoamento (Holanda, 1976). A Mata Atlântica, nesse cená-rio, representava um meio para o projeto de enriquecimento do in-vasor. Para tomá-la, não lhe custava nada em temos da forma deaquisição adotada, completamente contrária à noção jurídica mo-derna. Comparado ao dos castelhanos em suas conquistas – quetambém foram conduzidas com enorme brutalidade, ressalte-se –,o esforço dos portugueses distinguiu-se principalmente pela predo-minância de seu caráter de exploração e rapina. Os hispânicos dese-javam, ao contrário, “fazer do país ocupado um prolongamento or-gânico do seu. Se não é tão verdadeiro dizer-se que Castela seguiuaté ao fim semelhante rota, o indiscutível é que ao menos a inten-ção e a direção inicial foram essas” (Holanda, 1976). As colônias deexploração – com seu extremo da economia de rapina – têm comoatributo, em toda parte, um saque bestial e rápido dos recursos na-turais aí existentes. A devastação acompanha o processo, produzin-do alterações no meio natural. Conforme adverte Pádua (2002):
“Isso ocorreu, em primeiro lugar, pelo impacto direto das ati-vidades coloniais sobre os ecossistemas previamente existentes,através de movimentos perturbadores ou francamente destruti-vos. Em segundo lugar, pela introdução de espécies exóticas (ani-mais e vegetais de maior porte, ervas daninhas, microorganismospatológicos, disseminados de forma voluntária ou não), que nocontexto desses ambientes perturbados reproduziram-se de for-ma intensa e descontrolada”.
Se a Mata Atlântica não representa caso único de destruiçãoambiental na complexa história da colonização européia dos
população das Américas estaria entre 43 e 65 milhões de pessoasem 1492, com cerca de 8 milhões na zona não andina da Américado Sul (mais de 17 milhões no México e 15 milhões nos Andes).Esse é um dado capaz de justificar a suposição da existência deum meio ambiente pouco modificado na região baixa do conti-nente sul-americano, a qual inclui o Brasil (e a Mata Atlântica).Foi nesse sistema ecológico, com muito de prístino em 1500, quese derrotaram tristemente as forças da evolução da vida, instalan-do em seu lugar a desordem entrópica.
Algumas características do modelo de exploraçãoda Mata Atlântica
Se uma coisa pode ser salientada de imediato no sistema de explo-ração da Mata Atlântica usado pelos portugueses, trata-se da “in-trusão do homem no mecanismo da natureza” (Freyre, 1985) queaí se efetuou. Foi uma intrusão brutal, que impôs com rapidez acivilização do açúcar e sua monocultura: uma rapidez avassalado-ra, sem peias que contivessem o crime que se estava cometendo.Violentados morbidamente os princípios da evolução biológica,seguiu-se uma furiosa simplificação do ecossistema original, reti-rando-lhe sua extraordinária diversidade e originalidade. Comosentenciou, sempre brilhantemente, Freyre (1985), “O drama quese passou (...) não veio do fato da introdução da cana, mas do ex-clusivismo brutal” implantado. Exclusivismo imposto pelo espíritoaventureiro que presidiu à conquista, estabelecendo uma economiade rapina para benefício de uma casta. A marca dessa economia éter sido ela uma iniciativa de trabalho contra a natureza – e não,como no caso dos tupis que habitavam a Mata Atlântica, por ne-cessidade até de ordem sobrenatural, em sintonia com o mundovivo, com suas regras, seus ritmos, sua complexidade. A caracte-rística do tempo econômico acelerado, envolvido na empreitadalusitana, em oposição ao tempo ecológico lento e ao ritmo das po-
O beija-flor Phaetornis em Portea leptantha.
Ao lado:
Euglossinae em flor de Cryptanthus.

h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
4 1
Um tema que se precisa aprofundar é a resposta à pergunta: aquem pertencia a mata quando chegaram os primeiros “donos” co-lonizadores? A quem pertencia a terra brasílica do Nordeste tão ge-nerosa em massapê? Sem esse barro viscoso, sem o rico húmus dafloresta, “a paisagem do Nordeste (...) não teria se alterado tão de-cisivamente no sentido em que se alterou (...) no sentido da cana-de-açúcar” (Freyre, 1985). Pois foram os indígenas (quer tivessemou não consciência preservacionista) que legaram o solo fecundo,permitindo que a partir da Mata Atlântica se aprofundassem raí-zes agrárias que possibilitaram a transformação de uma feitoria,depois colônia de plantação, em império senhorial de plantadoresde cana. A colônia terminou engendrando uma economia de rapi-na, em que à queimada e à derrubada se juntou a caça e “tudo foificando raro, à proporção que o mato grosso foi desaparecendo pa-ra a cana imperar sozinha” (Freyre, 1985). Processou-se aí umatroca do patrimônio coletivo e do bem público pelo ganho priva-do de curto prazo dos senhores da terra e pelo ganho da Coroa. Àrealidade dessa constatação se sobrepõe o fato de que o tema daapropriação privada do patrimônio comum será “constantementerepetido na história brasileira” (Dean, 2004), sobrevivendo triste-mente nos nossos dias. E deixando que se prossiga no mesmo iti-nerário de devastação ambiental da própria Mata Atlântica, redu-zida nos dias correntes a pedaços melancolicamente ameaçadospela obsessão cega do crescimento econômico a todo custo.
É surpreendente que a saga de um desastre como o que foi nes-te capítulo retratado permaneça ainda como um fato de pouco co-nhecimento por parte da sociedade. É inacreditável, ao mesmotempo, que uma cadeia de cumplicidade faça com que se permita“aos neo-europeus arrogarem-se herdeiros de uma terra vazia,uma ‘fronteira’ ilimitada” (Dean, 2004), quando nada disso é ver-dade. A fronteira que aqui havia, e há, era finita e estava habitadade povos adaptados ao Novo Mundo. O Brasil e a Mata Atlântica,igualmente, tinham donos: donos ciosos dos bens que possuíam,não como proprietários egoístas, pois os indígenas não conheciama propriedade privada, mas como herdeiros do que em inglês sedenomina “commons”, o bem comunal. Essa gente também domina-va culturalmente o ecossistema, conhecendo-o na sua intimidade,nos seus ritmos; sabendo usar suas plantas, seus animais, seus re-cursos. Sabendo identificá-los. Tanto que, como diz Dean (2004),“A primeira ou as duas primeiras gerações de invasores portugue-ses haviam dependido totalmente dos conhecimentos indígenassobre a Mata Atlântica”. Tal saber indígena pulverizou-se na em-preitada colonizadora dos portugueses, empobrecendo o mundodo mesmo modo que o faria um tsunami que levasse de uma vez to-dos os exemplares de D. Quixote, de Grande sertão: veredas e de Os
Lusíadas, todas as obras de Michelangelo, de Da Vinci e de Picasso,todas as coleções de periódicos de biologia existentes no planeta.Destruição ecológica. Destruição demográfica. Destruição cultu-ral. Vitória e entronização da entropia.
f r a g m e n t o s d e m a t a a t l â n t i c a
4 0
clusive José Bonifácio, angustiava-se com o fato de os grandes des-matamentos no Brasil estarem destruindo muitas espécies da flo-ra ainda desconhecidas da ciência (Pádua, 2002). Era uma preo-cupação iluminista, como parte da que existe hoje quanto a não sesaber o prejuízo científico que a devastação de florestas acarretapara o Brasil. Nos primórdios do século xix, inclusive, vale notar,havia a percepção de que a destruição do meio ambiente naturalnão era o “preço do progresso”, como muito se discute hoje, masantes o “preço do atraso” (Pádua, 2002). A destruição da MataAtlântica foi o preço do atraso e da ignorância.
À maneira de conclusão
Conseqüência de uma sociedade sem sofisticação mental para ela-borar idéias – mais motivada, ao que parece, pelo que Paulo Pradochamou de “ambição do ouro” e “sensualidade livre e infrene”(Prado, 1931) –, o processo de colonização teria que desaguar emalguma forma daquilo que os iluministas brasileiros classificaramcomo “o preço do atraso”. Essa foi – e é – a realidade de um “paísinculto” (Prado, 1931), onde a “facilidade de decorar e loquacidadederramada, simulando cultura” (Prado, 1931) terminam tomando olugar da inteligência e da reflexão organizada. Do mesmo modo, oque esperar de uma situação do pensamento social brasileiro que,como na América Latina, atribui pouca ou nenhuma importância àhistória das relações entre a sociedade e seu meio natural (cf. CastroHerrera, 1996)? Raríssimos foram os estudiosos que tiveram a lu-cidez, por exemplo, de Gilberto Freyre que, em seu belo livroNordeste (de 1985), segue na análise o “critério ecológico”. Ora, issofoi em 1937, quando pouca gente tratava de assunto tão atual; tal-vez ninguém mesmo nas ciências sociais, pois se mantém até hoje alacuna de perspectivas ambientais no estudo da realidade nacional(com as exceções de praxe, inclusive no que se refere, por exemplo,à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ambientee Sociedade e à Sociedade Brasileira de Economia Ecológica). É in-teressante ver como Freyre explica a noção que tinha do critérioecológico por ele introduzido: “Amplo critério geral, não só cien-tífico como filosófico e até estético e poético, de estudo e interpre-tação de uma região; e não um rígido ecologismo geométrico deseita sociológica ou geográfica, segura de poder reduzir problemasde cultura e fatos humanos a fatos de física e de história natural.Ou a problemas de geometria” (Freyre, 1985).
Não sem razão, o professor de comunicação da Universidadede Austin (Estados Unidos), o brasileiro Rosenthal Calmon Alves,observava em 1977: “Espero que o Brasil não continue a perseguirseus sábios e celebrar suas mediocridades. As mediocridades de-testam a ciência e os interesses econômicos estão destruindo o va-lor e a riqueza do Brasil”. Como destruíram em meio milênio deexploração bruta da Mata Atlântica.
truição, significava acumulação de capital não na colônia, mas, co-mo efeito do capitalismo mercantil incipiente e do colonialismoluso de rapina, na Metrópole distante. Na mentalidade da época,os recursos da natureza não eram interpretados como um capitalnatural, de que se deveria extrair apenas o fluxo de renda por elepropiciado, conservando-se e repondo-se o principal para benefí-cio de futuros usos. Na verdade, parece que os índios possuíam talvisão, pois conheciam a importância, para si, dos recursos ecológi-cos de que desfrutavam e dependiam vitalmente. Por isso, respei-tavam-nos. Hoje, falta ainda uma percepção generalizada do meioambiente como capital a ser preservado e que mereça o respeito ea admiração da sociedade. Isso é patente no Brasil, exceto em gru-pos limitados da população, como alguns do movimento ecologis-ta, que, tal como André Rebouças, pensam que “cada árvore que secorta é um ‘capital’ crescente que se destrói”. No país, continua aprevalecer a mentalidade do enunciado do então senador mara-nhense José Sarney, em 1975, assim expressado: “Que venha a po-luição, desde que as fábricas venham com ela” (Dean, 2004). Paraas elites brasileiras, para seus formuladores de política, vale a visãoarrogante de que o homem é senhor e dominador da natureza.Essa visão é a de um dirigente do Departamento Nacional deObras de Saneamento (dnos), Acir Campos, que, em 1976, refle-tindo o pensamento vigente, cartesiano, revelava todo seu despre-zo em relação ao bioma das lagoas do norte fluminense (as quaisse incluem na Mata Atlântica, embora não sendo a dePernambuco e Alagoas): “No ideal de sanear, vencer e corrigir asaberrações da natureza, a comissão (de Saneamento da BaixadaFluminense) criou alma (...) Aquele caos ecológico, aqueles panta-nais insalubres, aquele desequilíbrio biológico foi recuperado, gra-ças somente e tão-somente às obras do dnos”. Não pode causarespanto, assim, que, séculos atrás, pessoas vissem a Mata Atlânticacomo um inimigo a ser derrotado, um obstáculo à conquista e à ra-pina, uma muralha a ser removida.
Apreensões ambientais, é certo, houve no Brasil desde o sécu-lo xviii – e teriam existido por milênios, antes disso, entre os in-dígenas, possivelmente, embora não como reflexão ecologista nosmoldes atuais. José Augusto de Pádua, em seu elaborado livro, nosdá conta da existência de uma “preocupação intelectual com a de-gradação do meio ambiente” (Pádua, 2002) no período anteriorao século xx. Motivo: o Brasil estava sendo “reduzido aos páramose desertos áridos da Líbia”, no dizer de José Bonifácio de Andradae Silva, em representação à Assembléia Constituinte e Legislativado Império do Brasil, em 1823 (Pádua, 2002). O botânico ilumi-nista italiano Domenico Vandelli (1735-1816), que se fixou emCoimbra durante o governo do Marquês de Pombal, por exemplo,publicou a partir dos anos 1780 “vários textos onde criticava a for-te destruição ambiental que estava ocorrendo em Portugal e nassuas colônias” (Pádua, 2002). Vandelli, que exerceu influência so-bre uma geração de brasileiros que se formaram em Coimbra, in-
O beija-flor Phaetornis em Portea leptantha.
Página seguinte:
Euglossinae em flor de Cryptanthus.
Página 43:
Euglossinae em flor de Cryptanthus.

h i s t ó r i a d a m a t a a t l â n t i c a
4 3
Referências bibliográficas
Andrade, Manoel Correia de. 1998. A terra e o homem no Nordeste. 6ª ed. Recife:Ed. Universitária da UFPE (1ª ed.: 1963).Antonil, André João. 1997. Cultura e opulência do Brasil. Belo Horizonte e Rio de Ja-neiro: Itatiaia (1ª ed.: 1711).Brunhes, Jean. 1955. Geografia humana. Edição abreviada por Jean-Brunhes Dela-marre e Pierre Deffontaines. Barcelona: Editorial Juventud.Burke, Bryan E. 2001. Hardin Revisited: A Critical Look at Perception and the Logicof the Commons. Human Ecology 29 (4): 449-476.Cardim, Fernão. 1939. Tratados da terra e da gente do Brasil. São Paulo: Nacional(1ª ed.: 1548).Casal, Manuel Aires de. 1976. Corografia brasílica ou relação histórico-geográficado Reino do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de SãoPaulo (1ª ed.: 1817).Castro Herrera, Guillermo. 1996. Naturaleza y Sociedad en la Historia de AméricaLatina. Panamá: Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (Cela).Cavalcanti, Clóvis. 1992. Na direção de uma noção de etno/ecodesenvolvimento.Ciência & Trópico 20 (1): 27-48.Couto, José Vieira. 1849. Memória sobre a Capitania de Minas Gerais (1799). Revis-ta do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 11, Suplemento.Crosby, Alfred. 1993. Ecological Imperialism. Cambridge: Cambridge UniversityPress (1ª ed.: 1986).Dean, Warren. 2004. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlânticabrasileira. 5ª reimpressão. Trad. de Cid Knipel Moreira. São Paulo: Companhia dasLetras (1ª ed.: 1996).Denevan, William M. 1992. The Pristine Myth: The Landscape of the Americas in1492. Annals of the Association of American Geographers 82 (3): 369-385.Freyre, Gilberto. 1985. Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a pai-sagem do nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio (1ª ed.: 1937).Furtado, Celso. 1967. Formação econômica do Brasil. 7ª ed. São Paulo: Nacional,(1ª ed.: 1959).Gandavo, Pero de Magalhães. 1980. Tratado da terra do Brasil; história da Provín-cia de Santa Cruz. São Paulo: Itatiaia, Ed. da Universidade de São Paulo (1ª ed. doTratado: 1576; 1ª ed. da História: 1826).
Hemming, John. 2004. Os índios do Brasil em 1500. Pp. 101-127 in Leslie Bethell (org.).História da América Latina: América Latina Colonial.Trad. de Maria Clara Cescato. SãoPaulo: Ed. da Universidade de São Paulo; Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão.Holanda, Sérgio Buarque de. 1976. Raízes do Brasil. 9ª ed. Rio de Janeiro: JoséOlympio, (1ª ed.: 1936).Janzen, D. H. 1971. Euglossine Bees as Long-Distance Pollinators of Tropical Plants.Science 171: 203-205.Léry, Jean de. 1972. Viagem à terra do Brasil. Trad. de Sérgio Milliet. São Paulo: Mar-tins, Ed. da Universidade de São Paulo (1ª ed.: 1578).Maia, Nayala de Souza Ferreira. 1985. Açúcar e transição para o trabalho livre emPernambuco – 1874/1904. Recife: Fundação Antônio dos Santos Abranches (Fasa),Universidade Católica de Pernambuco.Mishan, E. J. 1993. The Costs of Economic Growth. Edição revista. Westport, Con-necticut: Praegar.Pádua, José Augusto de. 2002. Um sopro de destruição: pensamento político e crí-tica ambiental no Brasil escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.Prado, Paulo. 1931. Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira. 14ª ed. Rio deJaneiro: F. Briguiet & Cia. (1ª ed.: 1931).Reichel-Dolmatoff, Gerardo. 1976. Cosmology as Ecological Analysis: A View fromthe Rainforest. Man II: 307-318.Roosevelt, Anna et al. 1996. Paleoindian Cave Dwellers in the Amazon: The Peo-pling of the Americas. Science 272: 373-384.Ruttan, Lore M. 1998. Closing the Commons: Cooperation for Gain or Restrain. Hu-man Ecology 26 (1): 43-66.Salvador, Frei Vicente do. 1918. História do Brasil. Nova edição revista por Capistra-no de Abreu. São Paulo e Rio de Janeiro: Weiszflog Irmãos (1ª ed.: 1627).Silva, Leonardo Dantas. 1993. Estudo introdutório: Pernambuco, história e aspec-tos de sua paisagem. Pp. IX-LXIV in Mário Souto Maior & Leonardo Dantas Silva(orgs.). A paisagem pernambucana. Recife: Massangana, Governo do Estado/Se-cretaria de Educação, Cultura e Esportes.Souza, Gabriel Soares de. 2001. Tratado descritivo do Brasil em 1587. Belo Horizon-te e Rio de Janeiro: Itatiaia (1ª ed. completa: 1825).