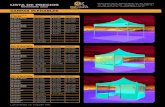FILOSOFIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO CONE SUL: 3º … · Pablo Lorenzano e realizado na...
Transcript of FILOSOFIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO CONE SUL: 3º … · Pablo Lorenzano e realizado na...
-
FILOSOFIA E HISTRIA DA CINCIANO CONE SUL: 3 ENCONTRO
Editores:Roberto de Andrade Martins
Lilian Al-Chueyr Pereira MartinsCibelle Celestino Silva
Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira
Campinas, 2004
-
ii
Copyright dos autoresDireitos desta edio reservados
Associao de Filosofia e Histria da Cincia do Cone Sul (AFHIC)
FICHA CATALOGRFICA
M386f Filosofia e histria da cincia no Cone Sul: 3 Encontro.Organizadores: Roberto de Andrade Martins, Lilian Al-ChueyrPereira Martins, Cibelle Celestino Silva, Juliana MesquitaHidalgo Ferreira Campinas: Associao de Filosofia eHistria da Cincia do Cone Sul (AFHIC), 2004.x, 495 p.
Edio eletrnica (CD)ISBN 85-904198-1-9
1. Epistemologia 2. Histria da cincia 3. Cincia histria 4.Cincia filosofia I. Martins, Roberto de Andrade II. Martins,Lilian Al-Chueyr Pereira III. Silva, Cibelle Celestino IV.Ferreira, Juliana Mesquita Hidalgo V. Ttulo VI. Associao deFilosofia e Histria da Cincia do Cone Sul (AFHIC)
CDD 501509121
-
iii
SUMRIO
Introduo.Os Encontros de Filosofia e Histria da Cincia do Cone Sul
vii
1. Adalgisa Botelho da CostaO Reportrio dos tempos de Andr do Avelar e a histria da astrologia emPortugal no sculo XVI
1
2. Adriana NatrielliA crtica do discurso potico na Repblica de Plato
8
3. Alberto CupaniA cincia como conhecimento situado
12
4. Amlcar BaiardiEvoluo das cincias agrrias nos momentos epistemolgicos da civilizaoocidental
23
5. Ana Maria Alfonso-Goldfarb; Mrcia Helena Mendes FerrazA discusso sobre o princpio metalfico da matria na Royal Society e arecepo das memrias de H. Boerhaave sobre o mercrio
29
6. Ana Mara Talak; Pablo GarcaLas mediciones estadsticas en la produccin de conocimientos psicolgicos enArgentina (1900-1930) y sus vinculaciones con las investigaciones psicolgicasen Europa y Estados Unidos
36
7. Anna Carolina K. P. RegnerA teoria Darwiniana da seleo natural sem a leitura de Malthus
47
8. Arlete de Jesus BritoA Mathematica na obra de Isidoro de Sevilha
64
9. Bernardo Jefferson de OliveiraKuhn contra os kuhnianos
74
10. Carlos Alejandro OllerUn problema relativo a la identificacin de la lgica natural
81
-
iv
11. Celia Teodolinda Baldatti; Graciela del FrancoOriente e ocidente: marcos epistmicos e revoluo cientfica
85
12. Csar LorenzanoLos ancestros de Thomas Kuhn (homenaje a Ludwik Fleck)
91
13. Christin Carlos Carman; Mara de la Paz FernndezGen: terico y observacional?: trminos T-tericos y trminos T-observacionales
102
14. Christiane de Assis PachecoJardim Botnico do Rio de Janeiro: memria e arquivo
110
15. Cibelle Celestino SilvaA escolha de uma ferramenta matemtica para a fsica: o debate entrequatrnions e a lgebra vetorial de Gibbs e Heaviside
115
16. Cludia Mrcia Coutinho DiasEschwege: um olhar sobre as tcnicas de minerao do ouro no sculo XVIII eincio do XIX
127
17. Daniela BarberisO organismo como modelo para a sociedade: A emergncia e a queda dasociologia organicista na Frana do fin de sicle
131
18. Diana I. PerezRepensando la folk psychology desde el barco de Neurath
137
19. Eduardo Aldo MusacchioProcesos recurrentes y procesos irreversibles en geologa histrica
144
20. Eduardo H. FlichmanLongitud en fsica clsica
153
21. Eduardo RabossiAcerca de la autonomia de la psicologa y de la universalidad de sus tiposbsicos
159
22. Estela SantilliBiosemitica: una metfora en la biologa terica
165
23. Evelyn VargasLa controversia Leibniz-Stahl y los orgenes de la nocin de organismo
175
24. Fernando Tula MolinaA social history of truth? Mximas, contramximas y supermximas
181
25. Fumikazu SaitoA conciliao de procedimento e resultado: alguns aspectos da hidrosttica dePascal
188
-
v
26. Gladys E. Martinez S.; Susana I. La RoccaEncrucijada epistemolgica en instancias iniciales de la ciencia argentina
197
27. Guillermo BoidoUn da muy hermoso en Berna: Sobre la relatividad especial, Einstein,Michelson y la epistemologa
204
28. Gustavo CaponiLas poblaciones biolgicas como sistemas intencionales
212
29. Javier LegrisDemostraciones formales y razonamiento estructural
218
30. Jos Ahumada; Marzio PantaloneVariacin ciega, heursticas y algoritmos genticos
226
31. Jos Carlos Pinto de OliveiraCarnap e o revisionismo: alguns aspectos crticos
232
32. Jos Loureno Cindra; Odete P. B. TeixeiraCalor e temperatura e suas explicaes por intermdio de um enfoque histrico
240
33. Jos Luiz GoldfarbTratado da imortalidade da alma e Significado das letras hebraicas: anlise dedois documentos judaicos seiscentistas
249
34. Juliana Mesquita Hidalgo FerreiraO radimetro e as investigaes de William Crookes sobre os fenmenosespiritualistas
257
35. Karla de Almeida ChediakImplicaes filosficas do evolucionismo para a compreenso da moral
267
36. Leticia Olga MinhotCausalidad, semntica y ontologizacin del mal
274
37. Lilian Al-Chueyr Pereira MartinsHerbert Spencer e o neo-Lamarckismo: um estudo de caso
281
38. Maria Cristina GonzalezDicotomas para analizar el conocimiento tcito
290
39. Maria Helena Roxo BeltranFarmcias e atelis: vestgios de conhecimentos sobre matria mdica emreceiturios sobre as artes decorativas
297
40. Marlia Batista Cota PachecoA equipossibilidade volitiva e cognitiva do puro sujeito-objeto em F. W. J. vonSchelling
304
-
vi
41. Marisa RussoIrritabilidade e sensibilidade: fisiologia e filosofia de Albrecht von Haller
310
42. Nair Teresa GuiberLos fundamentos de la comprensin dinmica del conocimiento de las ciencias
320
43. Nlida GentileRealismo cientfico y holismo semntico
327
44. Olimpia LombardiDeterminismo y temporalidad
333
45. Osvaldo Frota Pessoa Jr.Modelos causais em histria da cincia
341
46. Pablo Sebastian Garcia; Silvia T. Hoffman; Ofelia AbrilEl bienestarismo y las mediciones de bienestar en la teora econmica: elcriterio de los QALYS
347
47. Patrcia Del Nero VelascoSobre o operador de conseqncia de Tarski
351
48. Paulo Henrique Fernandes SilveiraO universal ctico na filosofia de Hume
359
49. Renan Springer de FreitasA epistemologia entre Hume, Kant e Darwin
364
50. Renata Cristina Geromel MeneghettiO realismo e o idealismo: focalizando o conhecimento matemtico
371
51. Renato Palumbo DriaEntre a arte e a cincia: o ensino do desenho no Brasil do sculo XIX
378
52. Renato Rodrigues KinouchiConsideraes histricas acerca de dinmicas no-lineares: reavaliando ostrabalhos de Charles Sanders Peirce e William James
386
53. Roberto de Andrade MartinsA busca da cincia a priori no final do sculo XVIII e a origem da anlisedimensional
391
54. Roberto Saraiva Kahlmeyer-MertensDa situao histrica da cincia aps o acabamento da metafsica
403
55. Roberto Schmidt de AlmeidaO pensamento geogrfico do IBGE no contexto do planejamento estatalbrasileiro
410
56. Roberto Schmidt de Almeida; Vera Lucia Cortes AbrantesO pensamento cientfico dos pioneiros do IBGE
416
-
vii
57. Rodolfo GaetaRealismo, booststrapping y conocimiento facil
421
58. Sandra CaponiTrpicos, micrbios e vetores
429
59. Sandra LazzerPara una historia de la lgica de fines del siglo XX
438
60. Susana Gisela LamasDiscusiones sobre la utilizacin del razonamiento analgico en la epistemologaevolucionista
446
61. Ubiratan DAmbrosioJoaquim Gomes de Souza, o "Souzinha" (1829-1864)
453
62. Valter Alnis BezerraReticulao metodolgica na cincia: o caso da renormalizao nas teorias decampo de gauge
461
63. Vera Cecilia MachlineTeria o conceito setecentista de humor joco-srio derivado da antiga teoriahumoral?
471
64. Vicente MenndezChristiaan Huygens y sus conceptos de materia. Claves para entender lasdificultades de un genio aferrado a un paradigma
479
65. Waldir StefanoRelaes entre eugenia e gentica mendeliana no Brasil: Octavio Domingues
486
-
viii
INTRODUO
OS ENCONTROS DE FILOSOFIA E HISTRIA DACINCIA DO CONE SUL
Este volume publica uma seleo de 65 trabalhos que foram apresentados por ocasio do IIIEncontro de Filosofia e Histria da Cincia do Cone Sul, realizado em guas de Lindia, Estadode So Paulo, Brasil, de 27 a 30 de maio de 2002.
O objetivo desse evento foi o de reunir pesquisadores de filosofia e histria da cincia da Amricado Sul, abrangendo principalmente participantes dos pases do Cone Sul (mais especificamente,Argentina, Brasil, Chile e Uruguai), para apresentao de trabalhos e intercmbio de idias eexperincias.
At recentemente, a participao de historiadores e filsofos da cincia dos pases do Cone Sul emeventos realizados nos outros pases da regio era pequena. Alguns grupos ou pesquisadores isoladosdesses pases mantinham uma maior interao, porm no existia uma tradio de intercmbio regularentre esses pases.
Tal situao comeou a mudar em 1998, quando ocorreu o congresso Filosofia e Histria dasCincias: I Encontro do Cone Sul, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, emPorto Alegre, Brasil (1998), coordenado pela professora Anna Carolina Regner. Essa foi umainiciativa pioneira, por ter o objetivo explcito de estimular uma aproximao entre os pesquisadoresde nossos pases, para benefcio mtuo.
O II Encuentro de Filosofa e Historia de la Ciencia del Cono Sur, coordenado pelo professorPablo Lorenzano e realizado na Universidade de Quilmes, na provncia de Buenos Aires, Argentina(2000), deu prosseguimento a essa atividade de intercmbio.1
Por ocasio desse segundo evento foi fundada a Associao de Filosofia e Histria da Cinciado Cone Sul (AFHIC)2, com os objetivos de dar prosseguimento a essas reunies regionais e deorganizar outras atividades de aproximao e colaborao entre os pesquisadores dos pases do ConeSul, nas reas de filosofia e histria da cincia.
O III Encontro de Filosofia e Histria da Cincia do Cone Sul veio dar continuidade a esseesforo, tendo reunido aproximadamente 150 pesquisadores que, durante quatro dias, apresentaram edebateram seus trabalhos.
As duas caractersticas especiais desta srie de eventos so:
1 Informaes sobre os dois Encontros anteriores podem ser obtidas na Internet, nos seguintes endereos:
http://www.ilea.ufrgs.br/conesul/index.html e http://www.unq.edu.ar/fhc/2 Ver mais informaes sobre a AFHIC no seguinte endereo da Internet: http://www.afhic.org
-
ix
Os Encontros de Filosofia e Histria da Cincia procuram estimular um intercmbio acadmicoe colaborao entre pesquisadores dos pases do Cone Sul que, infelizmente, ainda no possueminterao suficientemente intensa, apesar da proximidade geogrfica.
Os Encontros de Filosofia e Histria da Cincia procuram tambm incentivar uma troca deidias entre pesquisadores de duas reas prximas, porm distintas: filosofia da cincia e histriada cincia.
Tendo em vista esses dois aspectos, pode-se considerar que essa srie de eventos de grandeimportncia no cenrio acadmico regional (Cone Sul).
O Cone Sul
O distanciamento cultural e cientfico recproco que existiu durante dcadas entre os pases doCone Sul fez com que, nesses pases, a filosofia da cincia e a histria da cincia percorressemcaminhos diversos. O encontro dos pesquisadores desses pases estimula a discusso e troca de pontosde vista diferentes, o que benfico para todos.
Especialmente no caso da Argentina e do Brasil, j se notam resultados dessa aproximaorecente: maior participao de pesquisadores de um desses pases em eventos do outro, assim comoum maior nmero de publicaes de trabalhos de pesquisadores brasileiros em revistas argentinas, evice-versa. No caso do Uruguai e do Chile espera-se que esses encontros venham tambm estimularum maior intercmbio.
Filosofia e Histria da Cincia
Ao longo do tempo, a histria e a filosofia da cincia j estiveram muito prximas e, outras vezes,se distanciaram. Se pensarmos sobre autores como William Whewell e Pierre Duhem (para citarapenas dois exemplos antigos), veremos como a unio dessas duas reas pode ser frtil.
Sob o ponto de vista internacional, nota-se que ocorreu nas ltimas dcadas um distanciamentoentre as duas reas. Institucionalmente, embora continue a existir a Unio Internacional de Histria eFilosofia da Cincia (International Union for the History and Philosophy of Science), os congressosde histria da cincia e de filosofia da cincia promovidos por essa entidade so separados. O maisrecente congresso internacional de histria da cincia ocorreu na Cidade do Mxico, em julho de2001; o ltimo de filosofia da cincia foi realizado em Krakow, na Polnia, em agosto de 1999.Houve baixssima participao de filsofos no congresso de histria da cincia, e vice-versa.
Durante as dcadas de 1960 e 1970 discutia-se muito a relao mtua entre filosofia e histria dacincia. No entanto, mais recentemente, a histria da cincia tem adotado principalmente umaabordagem sociolgica. Os filsofos sentiram que grande parte desses estudos no tem relevnciadireta para a filosofia, e os socilogos pensaram que a filosofia da cincia no era relevante para suaspesquisas. Houve, assim, um divrcio entre as duas reas.
Contrariando o modismo atual, os responsveis pela organizao dos primeiros Encontros deFilosofia e Histria da Cincia do Cone Sul acreditam na importncia de um intercmbio entre essesdois campos. No se trata de uma tentativa de volta ao passado, j que todos os pesquisadores atuaisesto cientes das limitaes e becos sem sada encontrados anteriormente. No entanto, a situao atual inaceitvel, pois percebe-se que os estudos puramente sociolgicos no esgotam a riqueza do campometacientfico, sendo vlido e importante complementar tais estudos com investigaes de diferentesnaturezas, incluindo-se estudos filosficos e estudos histricos de natureza conceitual.
Para os historiadores e filsofos da cincia que partilham esta viso, a realizao desses Encontros, portanto, de grande importncia.
-
x
Agradecimentos
A realizao do III Encontro de Filosofia e Histria da Cincia do Cone Sul contou com oapoio da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo (FAPESP), do Conselho Nacionalde Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq), da Coordenao de Aperfeioamento dePessoal de Nvel Superior (CAPES) e do Instituto de Fsica Gleb Wataghin, da UniversidadeEstadual de Campinas (UNICAMP).
-
1
COSTA, Adalgisa Botelho da. O Reportrio dos tempos deAndr do Avelar e a histria da astrologia em Portugal nosculo XVI. In: MARTINS, R. A.; MARTINS, L. A. C. P.;SILVA, C. C.; FERREIRA, J. M. H. (eds.). Filosofia ehistria da cincia no Cone Sul: 3o Encontro. Campinas:AFHIC, 2004. Pp. 1-7. (ISBN 85-904198-1-9)
O REPORTRIO DOS TEMPOS DE ANDR DOAVELAR E A ASTROLOGIA EM PORTUGAL NO
SCULO XVI
Adalgisa Botelho da Costa
Resumo Tomamos como exemplo central para esta apresentao uma obra dofinal do sculo XVI, escrita por Andr do Avelar, procurando compreend-lacomparativamente dentro do contexto da poca. Consideramos oportuno oquestionamento deixado por Innocencio Francisco Silva, famoso bibligrafooitocentista portugus, que chegou a acusar Avelar de haver simplesmente copiado umoutro Reportrio no caso, o do espanhol Jernimo de Chaves, de 1572 o que nosmotivou a, por meio de alguns exemplos, procurar compreender o que estava alm dacompilao o que no era uma exceo na poca verificando o tipo especfico deabordagem astrolgica do Reportrio dos Tempos e com isso contribuir para ummelhor entendimento do estudo da histria da cincia em Portugal no sculo XVI.
INTRODUO
Embora, atualmente, a astrologia esteja excluda dos currculos universitrios, ela era parte dacultura cientfica europia no sculo XVI e integrava uma parte essencial do estudo sobre a natureza,constituindo uma cincia (ou arte) que se aplicava amplamente na prtica da medicina, meteorologia, agricultura e outras reas. Representou, tambm um importante componente na lutaentre a religio e a cincia nessa poca.
A histria da Astrologia em Portugal um tema pouco pesquisado e, os estudiosos portuguesestm se ocupado mais com os sucessos do passado daquele pas aquilo que foi incorporadoposteriormente cincia e s tcnicas do que em obter uma viso histrica ponderada e maisprxima realidade. Sendo assim, a astrologia portuguesa tem sido relegada ao esquecimento ou lembrada em termos de lamento e censura, como fazendo parte de um passado retrgrado.
Programa de Estudos Ps-Graduados em Histria da Cincia, Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, So Paulo, SP,
Brasil. E-mail: [email protected]
-
2
O estudo de sua histria importante, no entanto, para que seja possvel compreender opensamento cientfico no sculo XVI, em Portugal. Este trabalho apresenta uma contribuio a essetema, analisando uma obra astrolgica escrita por Andr do Avelar.
O REPORTRIO DOS TEMPOS, DE ANDR DO AVELAR
No Diccionrio Bibliographico Portuguez de Innocencio Francisco Silva encontramos umaadvertncia sobre o contedo do Reportrio dos tempos de Avelar.1 Na composio de sua obra,Andr do Avelar teria se utilizado da obra Chronografia o Reportorio de los tiempos de Jernimo deChaves.2 Innocencio no publicou nenhuma anlise detalhada das duas obras, e parece no existir athoje nenhum estudo comparativo dos Reportrios desses autores.
Por meio de algumas comparaes efetuadas entre as duas obras, pretendemos nesse trabalhoapresentar um pouco da histria da astrologia em Portugal, no sculo XVI, e fornecer subsdios pararesponder pergunta: at que ponto Andr do Avelar se apropriou de material publicadoanteriormente?
ESTRUTURA DAS OBRAS
Jernimo de Chaves dividiu sua obra em quatro tratados. O Reportorio dos Tempos de Andr doAvelar tem seis tratados. A tabela abaixo mostra uma comparao entre essas divises mais amplasdas duas obras.
Andr do Avelar Jernimo de Chaves
Tratado I. Do tempo e suas partesTratado II. Da diviso do mundo e suas partesTratado III. Da diversidade dos ciclos, e
calendrio com festas mudveis.Tratado IV. Das eleies medicinais, com o
lunrio e eclipses do ano de 1584 at o ano de1610
Tratado V. Das significaes dos eclipses,mudanas do ar, e sinais de terremotos
Tratado VI. De algumas regras curiosas deastronomia, pertencentes arte de marear
Tratado I. Do tempo e sua divisoTratado II. Do mundo e de suas partesTratado III. A diversidade dos ciclos, e o
calendrioTratado IV. Dos dias crticos com todas as
eleies naturais que so convenientes parapurgar e sangrar
Atravs desses indcios e por uma anlise mais detalhada, verificou-se que a obra de Andr doAvelar tem contedos que no aparecem na obra de Jernimo de Chaves. De um modo geral, os trsprimeiros tratados das duas obras tratam sobre assuntos mais ou menos equivalentes. Porm, apesar
1 No se sabe muito sobre a astrologia portuguesa at o sculo XVI. O perodo anterior somente poderia ser investigado pela
anlise de manuscritos, de difcil acesso. No sculo XVI, no entanto, foram publicadas vrias obras sobre astrologia emPortugal, cujo acesso mais fcil. A obra de Andr do Avelar, publicada em 1585, aqui utilizada, foi obtida em microfilme,da Biblioteca Nacional, e foi integralmente digitalizada e impressa em papel para facilitar o seu uso. Essa obra foi reeditada,com alteraes, trs vezes, de acordo com as referncias bibliogrficas obtidas a partir das bases de dados do projetoLusodat, do Grupo de Histria e Teoria da Cincia da Unicamp, coordenado pelo professor Roberto de Andrade Martins. Ja obra de Jernimo de Chaves, publicada em 1572, foi digitalizada e impressa parcialmente.
2 A dissertao de Mestrado da presente autora contm uma anlise comparativa, detalhada, das obras de Andr do Avelar e
Jernimo de Chaves (COSTA, 2001).
-
3
dos nomes semelhantes, o Tratado IV de Chaves no corresponde ao Tratado IV de Avelar. Elecontm assuntos que esto contidos, com alteraes, nos Tratados IV e V do Reportorio dos Tempos.
Quanto ao Tratado VI de Avelar, no existe nenhuma parte correspondente no livro de Jernimode Chaves. Abaixo indicamos o contedo do mesmo.
Andr do AvelarTratado VI
De algumas regras curiosas de Astronomia pertencentes arte de marear1. Para saber quanto tempo a Lua d sua luz sobre nosso hemisfrio
Tbua das horas e minutos que luze a Lua2. Do centro do Mundo3. Do eixo do mundo4. Dos plos do mundo5. Dos coluros6. Dos crculos dos solstcios7. Dos crculos rtico e Antrtico8. Declarao da tbua das mars pelo Sol e pela Lua
Tbua das mars pela Lua e pelo Sol Tbua das alturas
Nessa parte, que certamente no foi baseada no trabalho de Chaves, Avelar apresentou diversosconceitos astronmicos importantes e forneceu um instrumento para previso de mars, til paranavegantes, que no se encontra na obra do autor espanhol.
A abordagem seguida por Andr do Avelar tradicional tanto na Espanha quanto em Portugal. Oidioma escolhido para o Reportrio portugus, e no latim indica que era voltado para um pblicomais amplo. Porm, uma obra diferente dos almanaques de maior peso, volumosa, denotando ainteno de durabilidade.
A obra exigia poucos conhecimentos de matemtica, entretanto um leitor sem nenhumconhecimento dessa matria poderia no acompanhar, por exemplo, os captulos sobre cmputo edeterminao da posio da Lua e do Sol. uma obra erudita, porm menos do que o trabalho deJernimo de Chaves, que maior e mais detalhado em diversos pontos. Fica a meio caminho entre oacadmico e o popular.
Avelar evitou discutir a compatibilidade entre a astrologia e a religio, bem como evitou osassuntos que entrassem em conflito com as doutrinas da Igreja, principalmente o livre arbtrio. Aocontrrio de outras obras do perodo, o Reportrio dos tempos no discute as bases cientficas daastrologia. Ocupou-se com diversos assuntos, como a base terica filosfica e cosmolgica da poca,fundamentos bsicos da astronomia, teoria mdica, fundamentos da astrologia e alguns conhecimentosastrolgicos aplicados a campos especficos de fenmenos (astrologia agrcola ou rstica,meteorolgica, mdica, terremotos, etc.). No entanto, a obra se caracteriza tambm por ausncias por no apresentar elementos sobre a astrologia judiciria individual como casas astrolgicas,ascendente, clculo de posio dos planetas para a confeco de um horscopo, etc.
ILUSTRAES UTILIZADAS NAS OBRAS
Das figuras que aparecem nas obras, quase todas as de Chaves possuem correspondentes na obrade Avelar. Por exemplo, na descrio de cada um dos planetas (incluindo-se a o Sol e a Lua), ambosfornecem ilustraes alegricas dos mesmos. No exemplo abaixo (a Lua), nota-se que as diferenasso bastante grandes. Pode ser que Avelar tenha se baseado em outra fonte, para suas figuras; ou pode
-
4
ser que o desenhista de Avelar tenha se baseado nos desenhos de Chaves, mas tenha resolvidointroduzir mudanas. De qualquer modo, embora fosse comum, na poca, reproduzir sem nenhumaalterao desenhos de outras obras, isso no ocorreu no presente caso.
Avelar Chaves
Nas outras ilustraes das duas obras so notadas tambm diferenas significativas.
DA LUA E SEU CU
Chaves e Avelar indicam que no primeiro Cu ficava a Lua (AVELAR, 1585, fol. 30r; CHAVES,1572, fol. 102r). Chaves comentou sobre as figuras mitolgicas associadas Lua, discutiu osignificado do seu nome e acrescentou outras notcias eruditas que Avelar no reproduziu. Norestante, as duas descries so quase iguais:
O cu da Lua localizava-se imediatamente sobre o elemento fogo. Era um astro feminino, noturnoe possua uma natureza fria e mida. Porm, possua tambm algum calor por causa da luz que recebiado Sol. Os autores afirmam que sua maior fora era produzir umidade.
Os autores fornecem algumas indicaes puramente astronmicas, como o tamanho da Lua e suavelocidade angular no cu. Em cada hora, a Lua se move 3256, e em cada dia 131035. Suarevoluo em torno da Terra tem a durao de 27 dias 7 horas 43 minutos. O tamanho da Lua, deacordo com Alfragano, seria 32 vezes menor do que a Terra segundo Avelar, ou 39 vezes menor doque a Terra, segundo Chaves3.
No h, nas duas obras, nenhuma descrio mais detalhada sobre os movimentos da Lua, sobre avariao de sua velocidade e distncia Terra e outros aspectos encontrados em tratados astronmicosda poca.
A descrio da Lua predominantemente astrolgica, e no astronmica. O mesmo ocorre nadescrio dos outros planetas.
Nos dois autores encontramos a mesma descrio das influncias lunares sobre os seres humanos:Os homens que possuam a natureza da Lua seriam muito brancos, com mistura de cor ruiva, rosto
redondo e formoso, olhos no muito grandes, nem inteiramente negros. Um dos olhos seria maior doque o outro. Neles dominavam o estmago, o ventre, o peito, o lado esquerdo, as partes vergonhosasdas mulheres, o olho esquerdo do homem e o direito da mulher. Seu metal era a prata.
3 Trata-se de relaes entre os volumes e no entre as dimenses lineares da Terra e da Lua.
-
5
Percebe-se que o incio do Reportorio dos Tempos, at comear a tratar sobre os planetas, notinha um carter astrolgico marcante. At este ponto, poderia ser considerado basicamente como umaobra de natureza filosfica e cosmogrfica. No entanto, a partir daqui (com exceo da parte dedicadaaos calendrios religiosos), a nfase principal astrolgica.
AS REGIES GEOGRFICAS E OS SIGNOS
Nas consideraes de Jernimo de Chaves sobre cada signo do zodaco consta uma relao comcidades, provncias ou pases, que estariam sob o seu domnio (CHAVES, 1572, fols. 119r-120r).Andr do Avelar abordou o domnio dos signos sobre as regies geogrficas no Tratado V, do seuReportrio dos tempos, que se ocupou das: Significaes dos Eclipses: mudana do ar, e sinais deterremotos, dentro do ttulo 8: Em que provncias ou regies ser a significao do Eclipse.
O autor associou as regies geogrficas aos signos e aos planetas, em duas tabelas. Secompararmos o que os dois autores afirmam para o domnio do signo de ries, por exemplo,encontraremos vrias diferenas (AVELAR, 1585, fol. 125v; CHAVES, 1572, fol. 120r):
Andr do Avelar4 Jernimo de Chaves5
Inglaterra, Frana, Alemanha, Judia, Palestina,Arbia, Caldeia, Prsia, Npoles, Florena,Gnova, Ferrara, Saragoa, Tortosa, Valhadolid,Cidad Rodrigo, Logronho, Navarra.
Em geral domina sobre a Frana, Alemanha,Polnia menor, Inglaterra. Em particular dominasobre Cracvia, Batvia, Npoles, Florena,Favencia, mola, Pola, Prgamo. Na Espanhadomina sobre Saragoa, Valadolid e Tortosa.
Nota-se que h diferenas (sublinhadas acima) nas regies includas sob o domnio de ries. Almdisso, Avelar no diferenciou se o domnio era geral, particular ou especfico sobre regies dePortugal, a exemplo do que apresentou Chaves para a Espanha. Certamente Avelar no copiou sualista da obra de Chaves. Percebe-se na tabela acima a gerao de conflitos nas previses coletivas quedeveriam ocorrer pelas diferenas de domnios por regies6.
Pode-se entender o domnio em regies geogrficas, como se entende, hoje, no estudo deAstrologia Mundial. Provavelmente, utilizavam essas informaes para realizarem previses, o queno uma novidade. A questo e os autores no esclareceram esse ponto saber como projetavamos signos Zodiacais nas regies da Terra7.
AS INFLUNCIAS GEOGRFICAS DOS PLANETAS
Andr do Avelar, em seu Reportrio, registrou tambm uma tabela das provncias e cidades sobreas quais os planetas dominavam. Essa tabela consta do Tratado V, Ttulo 8, j mencionado(AVELAR, 1585, fol. 126v). interessante notar que o Sol e a Lua no possuem nessa Tbuadomnio sob nenhuma provncia ou regio. Entretanto, se pensarmos que os signos esto todos
4 As cidades sublinhadas em Avelar no foram citadas por Chaves.
5 As cidades sublinhadas em Chaves no foram citadas por Avelar.
6 Frei Antnio de Beja escreveu, a mando de Dona Leonor, rainha de Portugal, uma crtica s previses astrolgicas na qual
explorou essas diferenas. O texto de Beja se destinava especificamente ao combate de previses segundo as quais ocorreriaum grande dilvio em fevereiro do ano de 1524, o que gerou pnico entre a populao em geral. Ver CARVALHO, 1982.
7 Em Avelar no Tratado VI, ttulo oito, constam diversas tabelas e, dentre elas, existe uma sobre as alturas da terra do Brasil da
banda do sul, onde consta uma lista de rios, cabos, ilhas e cidades referentes a essas terras (AVELAR, 1585, fol. 137v). Noentanto, nenhuma dessas regies aparece nas tabelas de influncia dos astros.
-
6
relacionados com seus domnios, contraditria essa postura, pois as caractersticas de signos eplanetas so muito semelhantes. Poderamos subentender que uma regio ou provncia que est sob odomnio de Leo e Cncer, por exemplo, teria tambm certo domnio do Sol e da Lua, planetas quedominam sob esses signos.
Avelar apresentou a seguinte tabela, que no existe na obra de Chaves:
Planeta Domnio nas cidades ou provnciasSaturno ndia, Bretanha, Saxnia, Suria, Romandiola, Rabena, Constncia,
Ingolstadio, parte da Itlia, Portugal, Judia, Mauritnia, Lisboa.Jpiter Babilnia, Hungria, Colnia, Agripina, parte da Frana, Espanha.Marte Parte da Itlia, Alemanha, Inglaterra, Gettulia, Lombardia, Gotia, Ferrara,
Patvia, Cracvia, Lisboa.Vnus Arbia, ustria Superior, Viena, Augusta Vindeliciorum, Pania maior, Sena,
Tuningia, Lisboa.Mercrio Grcia, Egito, Flandres, Paris, Ratisbona, Viena em Panonia, Reino de
Valena, Parte da Catalunha.
Jernimo de Chaves no apresentou em sua obra nenhuma tabela como a que descrevemos acima,nem discute o domnio de cada planeta separadamente sobre as regies geogrficas, ao descrev-los.
Ambos os autores esclareceram em suas obras o porqu de uma cidade estar sob o domnio demais de um signo ou planeta. As cidades ou regies podem ter passado por diferentes etapas, e cadauma delas corresponde a um horscopo diferente, com diversos ascendentes. Entretanto, no deixamclaro qual seria o ascendente de alguma dessas regies.
CONSIDERAES FINAIS
H muitas semelhanas entre a obra de Avelar e a de Chaves, e no se pode negar que o texto doautor espanhol foi a base principal do livro do autor portugus. Entretanto, essa ocorrncia no umaexceo na poca, quando no havia uma proteo internacional de autoria e tambm no era regra acitao dos autores utilizados. Por outro lado, no caso especfico do tema aqui abordado, a histria dostextos astrolgicos modernos demonstra a normalidade com que se copiam os autores sem lhes darcrdito.
A comparao entre as obras de Avelar e Chaves, da qual foi aqui apresentada apenas umaamostra, permite notar muitas semelhanas, mas tambm diferenas que indicam provavelmente o usode outras fontes, no citadas pelo primeiro. O Reportorio dos tempos de Avelar no uma meratraduo ou resumo da obra de Chaves, como Innocencio afirmou, e deve-se registrar que oquestionamento feito h um sculo e meio pelo famoso bibligrafo portugus havia ficado at agorasem merecer um estudo mais aprofundado. Mesmo seguindo o modelo dos Reportrios anteriores,Avelar sentiu-se de algum modo livre para introduzir e deixar de lado alguns aspectos.
No h dvidas, portanto, de que Avelar tinha outras fontes, e realizou uma compilao,aproveitando partes da obra de Chaves e outras de diversas provenincias. A prpria escolha da ordemdos assuntos pode ter sido sugerida por outras fontes.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AVELAR, Andr do. Reportorio dos tempos, o mais copioso que ate agora sahio a luz, conforme nova reformao do Sancto Padre Greg. XIII. Anno 1582. Lisboa: Manoel de Lyra, 1585.
-
7
CARVALHO, Joaquim de. O livro Contra os juzos dos astrlogos e as suas fontes italianas. In:CARVALHO, Joaquim de. Obra completa. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1982. V. 2,pp. 385-403.
CHAVES, Jernimo de. Chronographia o reportorio de los tiempos, el mas copioso y preciso quehasta ahora ha salido luz. Sevilla: Alonso Escrivano, 1572.
COSTA, Adalgisa Botelho da. O Reportorio dos Tempos de Andr do Avelar e a astrologia emPortugal no sculo XVI. So Paulo: Pontifcia Universidade Catlica, 2001 (dissertao demestrado).
SILVA, Innocencio Francisco & ARANHA, Pedro Venceslau de Brito. Diccionario bibliographicoportuguez. Lisboa: Imprensa Nacional, 1858-1923.
-
8
NATRIELLI, Adriana. A crtica do discurso potico naRepblica de Plato. In: MARTINS, R. A.; MARTINS, L. A.C. P.; SILVA, C. C.; FERREIRA, J. M. H. (eds.). Filosofia ehistria da cincia no Cone Sul: 3o Encontro. Campinas:AFHIC, 2004. Pp. 8-11. (ISBN 85-904198-1-9)
A CRTICA DO DISCURSO POTICO NA REPBLICADE PLATO
Adriana Natrielli
Resumo O objetivo deste trabalho a investigao da crtica feita por Plato poesia mimtica e a todo gnero imitativo, nos livros II, III e X da Repblica, utilizandoeventualmente trechos de outros dilogos. Num primeiro registro, cabe uma anlise dascausas dessa censura poesia que imitao como conseqncia da Teoria das Idias,e como resultado da crise de valores sugerida pela questo da definio da justia naRepblica. Num segundo registro, o trabalho visa propor termos classificatrios paraos argumentos utilizados na recusa das artes imitativas, tais como crtica ontolgica,crtica epistemolgica e crtica axiolgica, avaliando, ao mesmo tempo, aadequao dos mesmos. O ponto de partida ser, portanto, analisar o conceito demimese do livro X e como este se apropria das consideraes feitas sobre a noo demthos no livro II, tendo como eixo a idia de um modelo a ser seguido pela criaopotica.
Na Repblica, Plato descreve o dilogo no qual Scrates pesquisa a natureza da justia e dainjustia. Para isso, transferindo a anlise do individual ao coletivo, procura a justia em letrasgrandes, imaginando a constituio de uma cidade ideal. medida que essa cidade vai sendoconstruda, desde sua forma mais primitiva at se tornar mais complexa, h a necessidade de umaespecializao de tarefas cada vez maior. Essa cidade ter ento uma classe de guardies paradefend-la e estes devero receber uma boa educao para que sejam, segundo Scrates, brandospara os compatriotas embora acerbos para os inimigos; caso contrrio no tero de esperar que outrosa destruam, mas eles mesmos se anteciparo a faz-lo (PLATO, Repblica, 375c). Sendo assim,uma grande parte do dilogo se dedica a decidir qual seria a educao mais adequada para se formarhomens com uma certa natureza filosfica que tero a funo de proteger e governar essa cidadeimaginada como perfeita e justa. Os livros II e III da Repblica descrevem com detalhes essaeducao destinada aos guardies que sero os melhores entre os cidados. Sua educao ser maneira tradicional grega, isto , atravs da ginstica para o aprimoramento do corpo e da msica para
Mestranda em Filosofia, Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo, Brasil. E-mail:
-
9
gerar harmonia na alma. Ser portanto nessa discusso sobre qual seria a educao mais adequadapara se formar homens com uma certa natureza filosfica que surge pela primeira vez o tema dapoesia na Repblica.
A poesia tratada nos livros II e III como parte da educao musical que deveria ser destinada aosguardies da cidade. Essa poesia da qual Scrates fala so os mitos ou as histrias sobre os deuses,que eram contadas s crianas desde cedo e que tambm serviram de base para o surgimento datragdia e da comdia. Mas Scrates ir dizer que das (fbulas) que agora se contam, a maioria deverejeitar-se (Repblica, 377c), pois para ele elas esto cheias de mentiras e no deveriam mostrar osseres mais elevados lutando e se odiando uns aos outros.
Scrates passa, assim, todo livro II e III prescrevendo regulamentos criao potica e, apsanalisar os contedos das histrias, passa a discutir a maneira como essas eram contadas e qual seria aforma mais adequada. Scrates expe ento trs formas de narrativa que podem ser utilizadas ao secontar uma histria: a simples narrativa na qual o poeta fala de seu ponto de vista sem representar seroutra pessoa; a imitao ou mmese que pura representao e na qual o poeta se omite; e umaterceira mista, constituda pela mistura de ambas (Repblica, 392d). Mais frente, Scrates iridentificar cada um desses tipos de narrativa da seguinte forma: em poesia e em prosa h uma espcieque toda imitao, como tu dizes que a tragdia e a comdia; outra, de narrao pelo prprio poeta nos ditirambos que pode-se encontrar de preferncia; e outra ainda constituda por ambas, que seusa na composio da epopia e de muitos outros gneros (394d). No livro III da Repblica, aconcluso que o uso da mmese dever ser limitado, destinando-se apenas imitao dos homens debem, pois, segundo Scrates, a baixeza, no devem ser capaz de pratic-la nem ser capazes de aimitar, nem nenhum dos outros vcios, a fim de que, partindo da imitao, passem ao gozo darealidade (395c).
A partir da, o tema da poesia ir reaparecer no dilogo somente no livro X, aps o assuntoprincipal da Repblica, que a definio da justia na cidade, estar aparentemente concludo.
Quais seriam as razes para esse deslocado retorno ao tema? Vrios comentadores consideram olivro X como um apndice1, e ainda que haja quem o considere at mesmo como um eplogo2 emrelao ao restante da obra, o fato que o que dito sobre a poesia e a mmese no livro X no parecese encaixar muito bem com o que havia sido dito antes.
Se nos livros II e III, como vimos, o objetivo de Scrates tratar dos regulamentos que deveriamser impostos poesia como um todo, fazendo parte dela suas modalidades imitativa e no imitativa,no livro X h um deslocamento do foco da discusso e esta recair unicamente sobre a poesiaimitativa ou mimtica. Outro ponto que se antes a aceitao da poesia imitativa era parcial, ou seja,deveria ser utilizada apenas para imitar o homem de bem, no livro X Scrates declara a necessidadede a recusar em absoluto (Repblica, 595a). H aqui, portanto, um isolamento da mmese como temaprincipal, enquanto que a discusso sobre os guardies e a funo educativa da poesia deixada delado. Sendo assim, o problema do livro X no mais o de determinar se a poesia imitativa seria ouno adequada educao dos jovens daquela cidade ideal, mas o de mostrar por que ela no deveriamais ser executada nem ouvida, ao que parece, por ningum dessa cidade justa.
As razes dadas por Scrates no comeo do livro X para o retorno ao tema so duas: primeiro ofato de ter se definido anteriormente cada parte da alma e depois diz que: todas as obras dessaespcie se me afiguram ser a destruio da inteligncia (dianoia) dos ouvintes, de quantos no tiveremcomo antdoto (farmacon) o conhecimento da sua verdadeira natureza (Repblica, 595b).
O livro X tem basicamente trs objetivos: o de esclarecer qual a natureza da mmese que a base
1 Como o caso de R. L. Nettleship, V.Goldshimidt, R. C. Cross e Julia Annas, citados no comentrio de Maria Helena da
Rocha Pereira em sua traduo: PLATO, Repblica, p. XXXIV.2 Maria Helena cita apenas N. P. White como partidrio dessa interpretao.
-
10
da poesia imitativa (Repblica, 595a-598d); o de mostrar que os poetas no tm conhecimentos(episteme) verdadeiros sobre os assuntos de que parecem falar to bem, iludindo a inteligncia dosespectadores atravs do encanto da poesia (598d602c); e, por fim, o de associar a poesia pior parteda alma em detrimento da parte mais sbia e racional que deveria governar as demais (602c- 608b).
Mas parece que o principal motivo do descompasso entre o livro X e o resto da obra est naflutuao do sentido da palavra mmese, a qual passa a ser concebida como a prpria poesia e nomais como apenas um de seus modos.
Enquanto no livro III a mmese era caracterizada no contexto das artes dramticas como modo deexpresso ou representao, no livro X a mmese ser caracterizada, de um modo mais geral, como omodo atravs do qual o homem pode produzir qualquer coisa: artefatos, pintura ou poesia. A diferenaentre modo de expresso e modo de produo se expressa no fato de que na primeira acepo dapalavra mmese o poeta assume em si a forma do que imita, enquanto na segunda, ele produz algoexterior a si.
Isso implica em que, se antes a mmese no era totalmente admitida em virtude de um julgamentomoral sobre bons ou maus modos de conduta, agora a mmese dever ser completamente rejeitada emvirtude de seu estatuto ontolgico, ou seja, por um julgamento acerca da realidade de seus produtos. E isso que define a mmese no livro X, uma forma de produzir coisas que sero sempre inferiores emrealidade em relao aos modelos dos quais partiram. No interessa aqui se os modelos somoralmente bons ou maus, o que condena a imitao sua natureza ontologicamente inferior.
No livro X, o conceito de mmese a ser aplicado produo dos poetas sempre retirado dacomparao com a atividade do pintor que imita visualmente coisas particulares. Mas entre poeta epintor h ainda a figura do arteso. O exemplo dado por Scrates para explicar as relaes entre ascpias e os modelos ser aquele dos trs tipos de cama. H uma cama que a cama natural ou a Idiade cama, nica e essencial, da qual deus o criador; uma segunda, a cama particular feita pelo artesoa partir da Idia de cama anterior; e, por fim, a cama do pintor que imitou no a Idia de cama, mas acama particular tal como ela aparece. importante observar o fato de que o pintor procurar sempreimitar a aparncia da cama e no o Ser mesmo da cama. A concluso ser que as obras dos pintores e,por conseqncia, as obras dos poetas, so objetos aparentes, desprovidos de existncia real(Repblica, 596e), por serem feitos atravs da mmese.
Chegamos ento ao primeiro objetivo do livro X, que definir a natureza da mmese. Ela definida como algo que produz coisas afastadas trs graus da realidade, segundo o modo grego decontar os extremos; e se ela utilizada por pintores e poetas trgicos, estes no so criadores de nadamas apenas imitadores ou mimets. Nesse sentido, o conceito de mmese exposto nessa primeira etapado livro X se liga intimamente com a teoria das Formas, sendo uma explicao ou imagem da ligaoentre as Idias e as coisas particulares, entre o plano sensvel e o inteligvel.
Mas de que modo a metfora da imitao visual pode servir ao segundo objetivo do livro X, que determinar qual o estatuto do conhecimento dos poetas, se um pintor no precisa necessariamente terconhecimentos verdadeiros sobre aquilo que imita?
Dizer que os pintores so produtores de algo que se encontra trs graus afastado da realidade sfaz sentido a partir da descrio metafsica da Forma dos particulares e da pintura, mas para explicarporque faltam conhecimentos ao poeta ser necessrio outro argumento.
O exemplo dado por Scrates para explicar esse ponto ser o das trs artes relativas ao mesmoobjeto (Repblica, 601c-602b). Segundo ele, h a de o utilizar, a de o confeccionar, e a de o imitar(601d), sendo que quem utiliza o objeto possui sua cincia (episteme), quem fabrica pode ter nomximo uma opinio (doxa) verdadeira pelo contato com quem utiliza, ao passo que, quem imita nopossui nem cincia, nem opinio verdadeira e, nesse sentido, podemos dizer que Plato nega o valordas artes como base para o conhecimento.
A principal diferena entre esse argumento das trs artes e o anterior da analogia entre a pintura e
-
11
a poesia que nesse caso no se discutem os nveis de realidade dos objetos envolvidos, pois o que seutiliza, o que se produz e o que se imita se encontram num mesmo nvel de realidade. O poeta umimitador enquanto no utiliza nem fabrica aquilo que fala, mas no enquanto no tem nenhumconhecimento das Formas ou Idias.
Portanto, devemos considerar que temos aqui dois argumentos completamente independentes: porum lado o argumento metafsico utilizado por Scrates, com base nas semelhanas entre a pintura e apoesia, que serve para mostrar que a mmese produz obras trs vezes afastadas da realidade; e, poroutro, o argumento que mostra que aqueles que utilizam a mmese no possuem conhecimentos, ou acincia do que imitam.
Se so argumentaes diferentes, ento s podemos entender essa lgica argumentativa buscandoauxlio em outra parte. Essa seqncia na verdade se explica pela estreita ligao entre as noes deIdia e episteme na obra de Plato. De fato, somente a Idia ou o Ser mesmo das coisas pode ser abase do verdadeiro conhecimento, enquanto a opinio (doxa) se liga ao sensvel e se funda nasaparncias das coisas e no no que elas realmente so (PLATO, Repblica, 476c).
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ACHCAR, Francisco. Plato contra a poesia. Revista USP (8): 151-158, Dez Fev, 1991.ANNAS, Julia. Introduction la Rpublique de Platon. Trad. B. Han. Paris: Presses Universitaires de
France, 1994.HAVELOCK, Erik. Prefcio a Plato. Trad. E. A Dobrnzsky. Campinas: Papirus, 1997.LAGE, Celina Figueiredo. Mmeses na Repblica de Plato: As mltiplas faces de um conceito.
Kritrion 102: 89-96, 2000.PETERS, F. E. Termos Filosficos Gregos: Um Lxico Histrico. Trad. B. R. Barbosa. Lisboa:
Fundao Calouste Gulbenkian, 1989.PLATO. A Repblica. Trad. Maria Helena Rocha Pereira. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian,
1993.. La Rpublique. (ed. bilnge grego/francs) Trad. . Chambry. Paris: Belles Lettres, 1934.. A Repblica. Trad. J. Guinsburg. So Paulo: Difuso Europia do Livro, 1965.
-
12
CUPANI, Alberto. A cincia como conhecimento situado.In: MARTINS, R. A.; MARTINS, L. A. C. P.; SILVA, C. C.;FERREIRA, J. M. H. (eds.). Filosofia e histria da cincia noCone Sul: 3o Encontro. Campinas: AFHIC, 2004. Pp. 12-22.(ISBN 85-904198-1-9)
A CINCIA COMO CONHECIMENTO SITUADO
Alberto Cupani
Resumo Na literatura filosfica contempornea, principalmente a influenciadapelo pensamento dito ps-moderno, frisa-se o carter situado de todareivindicao de conhecimento. Sob essa denominao, alude-se ao fato de quenenhuma tentativa de conhecer a realidade, seja em nvel individual, grupal ouinstitucional, pode escapar s suas prprias circunstncias ou condies de existncia,especialmente as sociais. O conhecimento seria assim sempre perspectivstico. Por talrazo, alega-se, nenhum conhecimento pode a rigor ser objetivo nem universal,sendo ideolgicos os argumentos que pretendem o contrrio. Por motivos bvios, a teseantes lembrada particularmente endereada tradicional pretenso do conhecimentocientfico, especialmente o produzido pelas cincias naturais, de constituir umarepresentao da realidade que transcende, embora sempre relativamente, o seucontexto de origem. Creio que essa tese implica algumas confuses conceptuais,derivadas da ambigidade de certos termos, principalmente conhecimento. Creiotambm que a metfora, obviamente espacial, do conhecimento como situado econstituindo uma perspectiva do objeto, tem limitaes que no parecem exploradaspelos seus defensores. Neste trabalho, tratarei de esclarecer esses pontos.
Na literatura filosfica contempornea, principalmente a influenciada pelo pensamento dito ps-moderno, frisa-se o carter situado (situated) de toda reivindicao de conhecimento (knowledgeclaim). Mediante essa qualificao, alude-se ao fato de que nenhuma tentativa de conhecer arealidade, seja em nvel individual, grupal ou institucional, pode escapar s suas prpriascircunstncias ou condies de existncia, especialmente as sociais. O conhecimento seria assimsempre perspectivstico. Por tal razo, alega-se, nenhum conhecimento pode a rigor ser objetivo enem universal, sendo ideolgicos os argumentos que pretendem o contrrio. Por motivos bvios, atese antes lembrada particularmente endereada tradicional pretenso do conhecimento cientfico,especialmente o produzido pelas cincias naturais, de constituir uma representao da realidade quetranscende, embora sempre relativamente, o seu contexto de origem, e que superior a outrasformas de conhecimento. Departamento de Filosofia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, SC, Brasil. E-mail: [email protected]
-
13
A referida tese tem uma plausibilidade intuitiva, decorrente tanto da experincia vulgar quanto damudana histrica do saber, includo o cientfico. Parece estar alimentada tambm pela dificuldadepara suprimir ou conciliar as diversas abordagens tericas nas cincias sociais, e pode at serconsiderada como o eco mais recente do aforismo de Protgoras (o homem a medida de todas ascoisas). No obstante, parece igualmente difcil negar a forte impresso de objetividade e validadeuniversal das descries e explicaes cientficas das que no parece haver razes para duvidar, e noapenas nas cincias naturais, mas tambm em certas reas das cincias humanas. A tese em questo ,pois, difcil de aceitar, apesar da sua plausibilidade.
Creio que essa tese implica algumas confuses conceituais, derivadas da ambigidade de certostermos, principalmente conhecimento. Creio tambm que a metfora, obviamente espacial, doconhecimento como situado e constituindo uma perspectiva do objeto, tem limitaes que noparecem exploradas pelos seus defensores. Neste trabalho tratarei de esclarecer esses pontos.
* * *
Como notrio, nas discusses sobre a ndole e o valor da cincia quase inevitvel a defesa ou oquestionamento da superioridade da maneira dita cientfica de conhecer a realidade, com relao aoutras modalidades de conhecimento, principalmente o chamado saber vulgar, mas tambm o saberreivindicado por ideologias, religies, filosofias e ainda, pelas disciplinas que a academia considerapseudocientficas. Na defesa do conhecimento cientfico, so geralmente alegadas supostas virtudessuas tais como a objetividade, a validade universal e a independncia de preconceitos, ao passo que acrtica apela para limitaes e compromissos que seriam detectveis no conhecimento cientfico, porexemplo, a sua incapacidade de refletir os aspectos emotivos da experincia humana ou a suaconivncia com os poderes (econmicos e polticos) de que depende a atividade cientfica. O debateantes aludido encontra-se dificultado, em nvel conceitual, pela freqente utilizao das palavrassaber, conhecimento e cincia como se fossem sinnimas. Embora nada impea a prioriestabelecer uma tal equivalncia semntica para determinado fim particular, parece-me que no esseo caso presente, em que creio que se usam aqueles termos como sinnimos por descuido com relaoa certas diferenas reais que convm recuperar terminologicamente.
* * *
Em nossa cultura, a palavra saber geralmente associada, pelas pessoas instrudas, com a posse deinformao, vulgar ou sofisticada, acerca de um objeto ou de um tema. Diz-se, por exemplo, quealgum sabe muita histria da arte ou sabe muito sobre futebol. No entanto, saber um termoque se aplica igualmente ao domnio de habilidades (como saber falar uma lngua, ou conduzir umautomvel), includas as habilidades perceptivas (como identificar objetos e processos). Alm domais, saber, na sua forma substantivada, designa o acervo de crenas e formas de agir de umapessoa ou comunidade: o saber que algum indivduo ou grupo possui a respeito de um determinadoassunto. Neste sentido, as cincias sociais tm-nos acostumado a falar dos saberes que as sociedadestm. Quando saberes refere-se especificamente a crenas, este uso da palavra independe de queessas crenas, tidas como verdadeiras pela sociedade que as possui, possam ser julgadas falsas desdeoutro ponto de vista. Ou seja, que constituam ou no autntico conhecimento.
Por sua vez, a palavra conhecimento aplicada, tambm dentro da tradio cultural ocidental, auma determinada representao, sensorial ou intelectual, de algo que ou foi de alguma maneiraexistente.1 Temos assim conhecimento das rvores do jardim, do nosso pai, de D. Pedro II, das1 Estou lidando aqui livremente com a conhecida distino entre conhecimento por familiaridade e conhecimento por
descrio de que se ocuparam, entre outros, W. James e B. Russell.
-
14
propriedades do tringulo, da teoria da evoluo e das aventuras dos deuses gregos. Oconhecimento pode estar mais ou menos vinculado experincia e s habilidades de indivduos ougrupos, sendo assim mais ou menos compartilhvel ou transfervel, ou seja, mais ou menos pblico. Oconhecimento que tenho de meu pai depende da minha experincia (incluindo, certamente, aexperincia emotiva), de um modo muito maior que o conhecimento que tenho de ser pai ou de terum pai. Aquela dependncia obviamente maior ainda no caso do conhecimento que tenho da minhador de dentes comparado com ter conhecimento de dor de dentes. De maneira semelhante, terconhecimento de Dom Quixote ou da fsica quntica supe pertencer a uma tradio cultural ouingressar nela. Mais radicalmente ainda, ter conhecimento do que saudade (isto , o que designaessa palavra, e por que difcil de traduzir a uma lngua to prxima como o espanhol), implicadominar o portugus. Note-se que costumeiramente se diz que sabemos o que algo , comosinnimo de que temos conhecimento desse algo. Saber parece designar neste caso o exerccio dahabilidade necessria para possuir o respectivo conhecimento.
Conhecimento denota, pois, algo que pode ser possudo ou no, embora no devamosesquecer que a posse aqui algo metafrico. Ela supe que o conhecimento foi, como dizemosconfiantes, adquirido, ainda que, aqui tambm, no estejamos significando literalmente umatransao econmica, seno que no temos nascido com esse conhecimento. Por outro lado, oconhecimento assim entendido pode ser objetivado, isto , representado simbolicamente. Sobre tudo,pode ser descrito mediante palavras. Fica assim disponvel para outros seres humanos, assumindonesse sentido uma espcie de existncia prpria (POPPER, 1975).2 Com respeito a um indivduo, umacomunidade ou a humanidade toda, o conhecimento objetivo pode ser vigente, ainda no existir ouno mais existir. Dessa noo de conhecimento convm distinguir ainda o uso da palavra paradesignar o processo de aquisio do conhecimento. Para evitar confuses, prefervel denominarcognio esse processo, que consiste num aprendizado, isto , em experincias que deixam umamarca em nosso sistema nervoso, como resultado de uma reorganizao do mesmo (BUNGE, 1983,pp. 62 e seguintes). Em nvel social, o equivalente so os processos mediante os quais os gruposhumanos obtm informao sobre si mesmos e o mundo natural, e os registram na sua cultura. Vale apena observar desde j que, devido a ser esse processo de aprendizado ou obteno de informao, umintercmbio entre os seres humanos e a realidade natural e social, impossvel que o conhecimentoconstitua uma cpia ou reproduo dos seus objetos (como acredita o pensamento ingnuo). Comoutras palavras: impossvel que o conhecimento no contenha traos que pertencem ao sujeitocognitivo e sua matriz bio-social.3
Por sua vez, a palavra cincia ainda mais ambgua. Ela pode significar certo tipo deconhecimento, ou a atividade que conduz sua obteno, ou bem a correspondente instituio social.Utiliza-se a palavra no primeiro sentido quando se diz, por exemplo, que conforme a cincia, a Terragira sobre si mesma e em torno do Sol. Cincia designa uma atividade (cognitiva) quando seafirma, v.g., que na cincia, nenhuma teoria definitiva. Por fim, cincia refere-se a umainstituio em expresses tais como: a cincia est ao servio do capital. Cabe reconhecer todaviaque a ambigidade no gratuita: a cincia existe como uma instituio social que possibilitadeterminadas prticas cognitivas visando um especfico tipo de conhecimento. No obstante, nosdebates a propsito da ndole e do valor da cincia, a nfase amide colocada em um ou outro dessesaspectos, ou deslocada entre eles, com ou sem conscincia da sua diferena. Isso provoca, na minhaopinio, no poucos mal-entendidos. Enquanto sinnimo da palavra conhecimento, cincia designaum conhecimento que se pretende superior a outros conhecimentos (cuja falsidade ou limitao
2 Refiro-me, certamente, noo do conhecimento como constituindo um terceiro mundo (POPPER, 1975).
3 No limite, pode questionar-se que o conhecimento possa consistir numa representao (RORTY, 1980).
-
15
compreender-se-ia a partir da cincia).4 Enquanto atividade cognitiva a cincia consiste emdeterminada estratgia epistmica, ou seja, em determinadas maneiras de observar, pensar,experimentar, formular as idias, discuti-las, aceit-las ou rejeit-las, com a finalidade de obter aqueletipo de conhecimento. Enquanto instituio, cincia denota a organizao permanente daquelaatividade produtora de conhecimento, mediante a padronizao das suas prticas, a profissionalizaodos seus agentes, a localizao e instrumentalizao caracterstica (institutos de pesquisa) e oreconhecimento social (tipicamente positivo em nossa cultura).
Vista como atividade cognitiva, a cincia implica diversos modos de saber, isto , diversashabilidades exercidas nem sempre reflexivamente: saber identificar fenmenos, saber lidar comaparelhos, saber estimar diferenas negligenciveis, etc.5 Essas habilidades, junto com convicescompartilhadas, constituem o saber prprio de uma comunidade cientfica. Enquanto instituio, acincia pode funcionar mais ou menos comprometida com as restantes instituies sociais(principalmente, o Estado e o mercado, mas tambm a religio, a moral, a educao, etc.). Na medidaem que a atividade cientfica se prope e consegue ser relativamente autnoma (o que, certamente,depende de condies sociais), produz-se a cincia pura ou bsica, vale dizer, procura-se o novoconhecimento em funo de questes que derivam exclusivamente do conhecimento j disponvel.Quando a cincia serve propositadamente a objetivos prticos, d-se a cincia aplicada. Ao sesubmeter s exigncias da tecnologia, temos o que est sendo chamado de tecnocincia. As pressese solicitaes ideolgicas, polticas e econmicas conduzem enfim cincia comprometida,descuidada, aparente e suja (RAVETZ, 1971, pp. 49 e seguintes).6 J a cincia entendida comoo conhecimento produzido por aquela instituio e sua atividade especfica, est constituda porconjuntos sistemticos de idias que assumem, como todo conhecimento pblico, uma sorte deautonomia com relao s pessoas que as formulam, aprendem, discutem, etc.7 Podemos falar deconjuntos de idias na medida em que dispomos de sua objetivao simblica (formulao, numalinguagem natural ou tcnica, de uma teoria, da descrio de um fato, da explicao de um tipo deprocessos, etc.). As relaes lgicas e matemticas que constituem a sua estrutura, bem como acomprovao emprica que lhe atribuda (no caso das cincias factuais), so as responsveis pelaimpresso de que o conhecimento cientfico se impe s mentes humanas. Essa impresso v-sereforada pelas aplicaes bem sucedidas do conhecimento.8
* * *
As distines anteriores suscitam algumas questes com relao comparao da cincia comoutros saberes e seu respectivo conhecimento. Existe certamente o saber vulgar, no sentido doconjunto de crenas e habilidades que possibilitam a vida quotidiana e que podem ser em grande partelingisticamente objetivadas (pense-se na divulgao de uma notcia ou numa receita de cozinha).Existe, pois, tambm o conhecimento vulgar, que pode ser em muitos casos verdadeiro ( semelhana4 Vale dizer, o conhecimento cientfico mostra, por exemplo, a falsidade das explicaes mticas do mundo e as limitaes do
conhecimento vulgar, em grande medida porque o conhecimento cientfico originou-se da crtica dos mitos e doconhecimento vulgar.
5 O papel do saber no reflexivo na cincia foi ressaltado, como se sabe, por Polanyi sob a denominao de conhecimento
tcito (POLANYI, 1985). Prefiro, com base nas distines propostas neste trabalho, falar de saber tcito.6 Estas distines (como todas as outras aqui traadas) so, lembre-se, conceituais, o que no impede que na realidade seja
amide difcil estabelecer limites entre, por exemplo, cincia pura e aplicada, ou entre cincia limpa e suja (LONGINO1983).
7 Com Bunge (1983), creio que mais correto dizer que pensamos o conhecimento cientfico como se fosse autnomo, ou que
fingimos que existe independente de ns.8 Isso, com respeito aos prprios cientistas. Em nvel social amplo, aquela impresso reforada pelo prestgio da cincia, pela
ao da mdia, etc.
-
16
do conhecimento cientfico), ou eficiente (como a tecnologia). As religies possuem um credo(objetivado em escrituras consideradas sagradas) que o conhecimento que elas postulam, sustentadopor atitudes e prticas caractersticas (confiar na autoridade, pedir iluminao, rezar, participar dosrituais, etc.). As ideologias no religiosas (liberalismo, socialismo, fascismo) reivindicam um corpusde conhecimento que fazem derivar de sistemas filosficos ou teorias cientficas, e que constitui o seusaber (isto , aquilo em que os seus adeptos crem e que motiva as atitudes dos mesmos). Quanto sfilosofias, apresentam-se geralmente como formas de saber (habilidades lingistico-reflexivas)diferentes da cincia, seja que consistam na reconstruo lgica ou na crtica da prpria cincia, naanlise da linguagem, na exegese de textos ou na proposta de normas, como nas teorias ticas, porexemplo, a de Rawls (1975). cada vez mais raro o caso de uma filosofia como o MaterialismoDialtico, que postula um conhecimento da realidade anlogo em objetividade ao conhecimentocientfico, embora diferentemente obtido. O pensamento filosfico contemporneo parece maisrepresentado pelas posies que constituem antes uma atitude (como a Hermenutica, o Pragmatismoou o Ps-modernismo) do que uma doutrina. Finalmente, est o caso das disciplinas consideradaspseudocientficas (ou insuficientemente cientficas). Trata-se de um campo variado, pois segundo ocritrio utilizado, incluem-se nesta categoria tanto a astrologia e a cincia esprita como a homeopatiae a psicanlise. Para os partidrios do modelo de pesquisa representado pelas cincias naturais(particularmente, a fsica e a qumica), a maior parte das prticas rotuladas como cincias sociaisseriam pseudocientfica. E ainda, dentro destas ltimas disciplinas, defensores de uma determinadaabordagem (v.g., a estruturalista) podem considerar pelo menos insuficientes as abordagensalternativas. Contudo, dentro de cada disciplina ou abordagem, existe algo que assume a funo de umconhecimento (por exemplo, a teoria psicanaltica ou os mapas astrais).
* * *
As presentes distines so feitas desde o ponto de vista da epistemologia (no sentido tradicionalde uma reflexo filosfica sobre a natureza do conhecimento) e ainda, com a convico de que possvel assumir uma atitude universal e objetiva com relao ao que desejamos conhecer, noimporta o que for. Naturalmente, esta convico contraria a alegao to freqente hoje em dia nascincias humanas e na filosofia, segundo a qual a objetividade cognitiva seria uma iluso (ou pior,uma ideologia), e todo conhecimento estaria situado. Conforme esta tese (particularmentecaracterstica, como j foi lembrado, dos autores ps-modernos), todo conhecimento umaperspectiva sobre o correspondente objeto, de tal modo que aspirar a um conhecimento objetivoimplicaria a impossvel pretenso de querer conhecer desde lugar nenhum (HARDING, 1991).9
Alm do mais, o carter perspectivstico do conhecimento acarretaria a conseqncia de que, a rigor,no h verdade ou falsidade, mas verdade e falsidade para (determinada perspectiva), de tal modoque o conhecimento de um indivduo ou grupo consistiria apenas no que ele acreditasse ser tal. Osconhecimentos no seriam seno crenas ou saberes individuais ou compartilhados. A autonomia doconhecimento seria, portanto, ilusria, reduzindo-se aos acordos resultantes de negociaes dosignificado das experincias e negociaes, essas movidas por diversos interesses e marcadas peloexerccio do poder. A recente sociologia do conhecimento estende essa tese prpria cincia: osconhecimentos fornecidos pelas cincias naturais no passariam de crenas de uma comunidadeespecfica (LATOUR & WOOLGAR, 1986). A pretenso de julgar a verdade de outro sistema decrenas a partir do conhecimento cientfico (e mais amplamente, desde o que tradicionalmenteconsiderou-se como racional na cultura ocidental) parece arbitrrio e suspeito de algum tipo deimperialismo cultural.
9 Uma censura freqentemente utilizada pelas crticas feministas da cincia.
-
17
Creio que descrever os conhecimentos como crenas e habilidades compartilhadas um recursolegtimo de disciplinas como a antropologia e a sociologia, especialmente na medida em que desejamfugir de preconceitos e alcanar (note-se) uma viso mais correta das entidades e eventos queinvestigam. Creio tambm que esse olhar tem detectado aspectos antes inadvertidos da maneiracomo surgem e se mantm os saberes coletivos (no s no que diz respeito s mencionadasnegociaes, mas tambm aos jogos de poder e prestgio presentes no nascimento das disciplinascientficas). No entanto, creio errado identificar conhecimento e crenas (ou saberes), apagando adistino entre o ponto de vista epistemolgico e o sociolgico-antropolgico. Para a epistemologia,importa determinar se uma determinada crena verdadeira ou no, o que para as outras duasdisciplinas pode ser irrelevante. claro que para o relativismo ps-moderno a anterior afirmaoparece uma inaceitvel pretenso de que uma perspectiva cognitiva se atribua o inexistente direitode julgar outras, ou pretenda no ser uma perspectiva, o que seria impossvel. Mas tempo deencararmos essa linguagem figurada em suas virtudes e defeitos.
As noes de perspectiva cognitiva e de conhecimento situado so metforas obviamenteespaciais. Em sentido literal, a primeira aplica-se percepo: jamais podemos perceber um objeto ano ser desde a perspectiva estabelecida pela posio do nosso corpo. Pela mesma razo, estamossempre situados ao perceber. Perspectiva e situao implicam limitaes e possibilidades depercepo. Note-se, contudo, que a percepo no depende apenas da nossa posio, mas do estado ea colaborao dos nossos rgos sensoriais, de condies ambientais (por exemplo, a iluminao), danossa experincia prvia (geral e desse tipo de objetos), da possibilidade de interagir com o objeto, donosso estado emocional e at da nossa sade. Acrescente-se que somos auxiliados (ou dificultados)pelo que sabemos e pela linguagem de que dispomos, sendo que todos esses fatores tm, alm domais, condies sociais de exerccio. Pois bem: quando percebemos algo sempre situados e desdeuma perspectiva percebemos esse algo, e no uma perspectiva e muito menos a nossaposio. Pelo contrrio, reconhecer que, a rigor, trata-se de uma viso (audio, etc.) perspectivstica aque depende da nossa localizao j um ato reflexivo, sofisticado, no natural.10 O que define umapercepo como tal , por conseguinte, alcanar nela conhecimento de um objeto (uma torre, umcachorro, uma pessoa, mas igualmente um entardecer ensolarado ou uma tempestade) tal como pareceser em si mesmo, ou independente de ns. claro que inmeras vezes descobrimos, talvez comoresultado de outras percepes obtidas de diferente perspectiva, que nos temos enganado com relao ndole, s propriedades ou ao estado do objeto (a torre pode ser menos alta, o cachorro pode ser naverdade uma raposa, a pessoa pode no ser a nossa amiga). A nossa habilidade perceptiva (o nossosaber perceber) e o saber que julgvamos ter com relao ao objeto (a nossa crena) no eram umadequado conhecimento do mesmo. At podemos chegar a compreender que um outro observador,devido a estar diferentemente situado, pode conhecer melhor o objeto e, em todo caso, sabemos que anossa percepo pode melhorar se variarmos a nossa perspectiva. Mais ainda: sabemos que o objetoem questo real porque tem outros aspectos decorrentes das possveis perspectivas em que podeser percebido. Do contrrio, tratar-se-ia de uma iluso. E em caso de discusso com outra pessoa sobreo objeto, podemos nos dar conta de que as nossas diferentes opinies derivam em parte das nossasdiferentes perspectivas de observao, de modo que se coincidssemos (aproximadamente) nalocalizao, diminuiriam ou desapareceriam as nossas divergncias. Tudo isso vlido (e at bvio)para qualquer um de ns medida que, desde a primeira infncia, aprendemos a superar a nossasubjetividade individual e assumir a subjetividade epistmica.11
10
De maneira anloga a como a anlise empirista da percepo em sensaes ou a distino fenomenolgica entre noesis enoema da percepo, so atos reflexivos.
11 Estou aqui utilizando essa expresso apenas por analogia com a cunhada por Piaget para designar a parte comum a todos os
sujeitos do mesmo nvel de desenvolvimento cognitivo, sem a pretenso de estar correspondendo exatamente teoriapiagetiana, a no ser na sua recusa tanto de identificar o sujeito epistmico com o sujeito individual, quanto de transformar o
-
18
No caso da percepo que no se refere a um objeto definido colocado ante ns, mas a um eventoque nos rodeia ou envolve (um entardecer ensolarado, uma tempestade), a nossa perspectiva deobservao opera de maneira diferente. No podemos, a rigor, dizer que o entardecer est nossadireita, ou que estamos percebendo-o pela sua parte anterior, porm evidentemente podemosidentificar melhor a ndole ou certos componentes do evento conforme o local em que estamos (diferente a percepo de um belo crepsculo ou uma tempestade desde um vale ou uma montanha,desde a rua ou atravs da janela, etc.). Em todo caso, tambm aqui cabem enganos e correes que sevinculam nossa capacidade de distinguir entre o que nos parece e o que .
Se considerarmos agora o conhecimento de objetos no sensveis (compreender um conceito, umproblema, uma explicao, uma teoria; interpretar um texto, um mapa, um diagrama), ainda que a suacompreenso implique o exerccio da percepo (de smbolos), reparamos que a metfora daperspectiva e da situao j no to apropriada, a no ser como aluso ao fato incontestvel deque aqui tambm, como de resto em toda aspirao ao conhecimento, somos limitados e estamoscondicionados. Para compreender um conceito, um plano ou uma teoria, podemos estar melhor oupior equipados: a familiaridade com o sistema simblico, com o tipo de conceito, com osantecedentes da teoria, etc., podem facilitar a nossa tarefa (e vice-versa, a sua falta pode obstaculiz-la). Certas condies, como a acuidade visual ou a iluminao, podem nos favorecer, ao passo queoutras, como ser homem ou mulher, podem ser irrelevantes. E ainda mais do que no caso dapercepo, o decisivo aqui assumir a subjetividade epistmica.12
De qualquer modo, tanto no caso da percepo quanto no caso da habilidade para o pensamentosimblico, temos considerado exemplos de identificao de objetos: reconhecer uma torre, entendero sentido de um problema ou aprender a usar um mapa. Em todos esses casos podemos, certamente,falhar parcial ou totalmente na nossa tentativa: a torre era, na verdade, um tanque de gua; o problemaera diferente do que tnhamos acreditado; certos smbolos no mapa significavam uma outra coisa. Noobstante, tanto em nvel perceptivo quanto simblico, podemos nos deparar com algo maisimportante: descobrir que o objeto percebido era diferente do que todos os observadores acreditavam,ou que o problema estava mal formulado (ou era at um pseudoproblema), ou que a teoria no severifica empiricamente. Ou seja: que o que acreditvamos (e acreditava-se) no era conhecimento,que a representao (sensorial ou simblica) no era verdadeira, que a realidade era diversa. Nestescasos constatamos que o que sabemos, e at o que todo o mundo sabe pode ser falso. E estaconcluso no expressa uma perspectiva. A cognio e o saber (o que se cr) so sempreperspectivsticos (em sentido literal ou aproximado, segundo vimos). O conhecimento, no.
Na literatura scio-antropolgica antes mencionada, costuma-se afirmar que concluso deverdade ou falsidade (ou a qualquer outra) chega-se como resultado de uma negociao entreperspectivas. Ora, a rigor, no se trata de uma negociao stricto sensu porque nada est sendovendido nem comprado.13 Em todo caso, existe uma (vaga) semelhana entre a discusso acerca davalidade de uma teoria, por exemplo, e a barganha que faz parte de muitas negociaes stricto sensu. medida em que resultados de observaes que comprovariam uma teoria podem no ser bvios,exigindo para serem aceitos determinadas hipteses auxiliares ou desconsiderao de anomalias,podemos traar um parecido com o preo varivel de uma mercadoria, cuja venda pode suporcondies ou concesses (desconto, pagamento em prestaes, etc.). Desde a perspectiva (vale
sujeito epistmico numa instncia transcendental (PIAGET, 1970, p. 61). A instncia a que apelo mais bem a que Nagel(1986) denomina eu objetivo [objective self].
12 Essa passagem foi dramaticamente ilustrada pelo relato do momento em que Hellen Keller, cega-surda-muda, compreendeu a
funo dos smbolos (tcteis) (ver sua autobiografia).13
Talvez estejamos na hora de nos perguntar pela razo da facilidade com que essa metfora, em princpio to fora do lugar,tem-se imposto. Ser devido a estarmos imersos num sistema social (o capitalismo) que torna normal que tudo sejanegociado?
-
19
dizer, em funo da problemtica prpria) da antropologia e da sociologia, essa forma de descrever eanalisar os debates conducentes obteno do Conhecimento um recurso que parece haver mostradoaspectos antes no percebidos das relaes sociais: que as crenas, mesmo as cientficas, sonegociadas.14 No obstante, uma coisa reconhecer a legitimidade de uma tal anlise sociolgica ouantropolgica, e outra coisa crer que ela substitui ou desautoriza a anlise epistemolgica. E paraesta ltima, o que importa no so as crenas, mas o conhecimento que elas veiculam ou implicam. Aprpria scio-antropologia do conhecimento (que a rigor, deveria ser das crenas) reconheceimplicitamente essa distino, pois seu intuito mostrar que as discusses cognitivas, em particular ascientficas, no so em verdade to diferentes de discusses comerciais quanto se pensa.
* * *
Se for admitido que o conhecimento, objeto da epistemologia, diferente da cognio e da suaestratgia, compreender-se- que, desde um certo conhecimento j alcanado, possvel entender aslimitaes ou a falsidade de outros pretensos conhecimentos. Suponhamos que divisamos distnciauma mulher na praia. Ao avanarmos, a sua imobilidade chama a nossa ateno, e medida que nosaproximamos percebemos que se trata de uma esttua, que tomamos por uma da Virgem Maria. Noentanto, uma maior proximidade nos revela (atentando para certos detalhes, como seu seios avultados)tratar-se de uma representao de Iemanj, feita de algum material slido como se fosse pedra ougesso. Sem embargo, ao tocarmos a esttua notamos que foi construdo em isopor, provavelmentepara facilitar o seu transporte at a praia. O nosso conhecimento do objeto certamente mais corretoagora que o que era ao divis-lo ao longe,15 e desde esse nvel atual de conhecimento podemosentender por qu eram ilusrios os nveis de conhecimento anteriores (por exemplo, acreditar que setratasse de uma mulher, ou de uma esttua de gesso), bem como as razes da correspondente iluso(distncia, falta de apreciao tctil unida pressuposio de que tais esttuas so de gesso, etc.).
De modo geral, um conhecimento superior a outros que se referem ao mesmo objeto ou assunto,quando o primeiro consiste numa representao que corrige e explica as limitaes e erros dos outros. precisamente neste sentido que o conhecimento cientfico pretende ser superior aos outros jcitados. Ao admitirmos como autntico conhecimento que a Terra gira em torno de si mesma e do Sol,fazendo parte de uma entre milhes de galxias, etc., consideramos como falsas (isto , como noimplicando conhecimento) tanto a astronomia ptolomaica quanto a noo vulgar de que a Terra estimvel, bem como qualquer suposto conhecimento mitolgico ou religioso que descreva de outramaneira o universo fsico.16 Embora os exemplos de conhecimento cientfico mais geralmente aceitosprovenham das cincias naturais, no faltam exemplos provenientes das cincias sociais. Que osvikings chegaram Amrica antes de Colombo, e que as prticas sexuais diferem conforme asculturas, so conhecimentos cientfico-sociais que desqualificam crenas vulgares a propsito dosrespectivos temas.
A estratgia endereada a alcanar o conhecimento cientfico inclui a crtica do conhecimentoprvio e a identificao de preconceitos, a formulao precisa das questes a serem investigadas, aelaborao de hipteses explicativas e o teste das mesmas. Essa estratgia est constantementegovernada pelo princpio do controle intersubjetivo dos enunciados que expressam as idias, exercido
14
Tambm se afirma (Latour e Woolgar) que so objeto de luta, ou instrumentos de poder (Foucault), ou elementos de capitalsimblico (Bourdieu). Tambm se pode advertir que so reverenciadas como sagradas (Bloor), ou que so matria de umjogo (Mitroff).
15 Em termos de conhecimento, o nico elemento persistente entre o primeiro e o ltimo momento do episdio seria a
existncia efetiva de algo com forma humana na praia.16
Isso, na medida em que tais supostos conhecimentos queiram rivalizar com a cincia. A comparao fica sem valor se eles seapresentam como sabedorias que repousam sobre atitudes especiais (como a luminao).
-
20
mediante a anlise da linguagem, o pensamento lgico e matemtico, a observao e aexperimentao sistemticas.17 O ideal perseguido o de uma representao o mais objetiva possvel(no sentido etimolgico de fiel ao objeto [pesquisado]). A expresso o mais objetiva possvelimplica a convico de que se trata de uma aproximao, que poder ser ulteriormente superada(CUPANI, 1990).
Significa isso que tudo quanto produzem as disciplinas oficialmente reconhecidas como cincias conhecimento superior, no sentido antes definido? Certamente que no. A cincia, como j foiadmitido, uma prtica e uma instituio. Como prtica, realizada por seres humanos que, sefreqentemente perspicazes, criativos e honestos, so tambm amide rotineiros, passionais eambiciosos. E como instituio, a cincia existe em condies histrico-sociais concretas, sujeita adiversos estmulos, obstculos e presses. A cincia, como j adiantei, pode ser comprometida,empresarial e at suja. Por conseguinte, que um pretenso conhecimento seja produto da cincia nosignifica que no possa vir a ser desmascarado como pseudoconhecimento. Pela mesma razo, no sepode considerar as crenas ou saberes das comunidades cientficas como sinnimos deconhecimento, embora tampouco devamos descartar o seu possvel valor cognitivo. O mesmo podedizer-se do produto das disciplinas circunstancialmente vistas como pseudocincias.
Com outras palavras: para a cincia como atividade e como instituio que vale a afirmao deser situada. A sua perspectiva particular pode tanto lhe possibilitar alcanar um conhecimentosuperior (com relao aos disponveis) quanto limitar, direcionar, macular ou at anular o valorcognitivo dos seus resultados.18 O conhecimento cientfico, enquanto no for desqualificado, verdadeiro (ou vlido, se preferirmos), porm no situado.19
* * *
Retomando agora a questo da pretensa superioridade da cincia, o que est em jogo ao se discutiressa superioridade um problema epistemolgico, e at a questo da legitimidade da prpriaepistemologia. Obviamente, no faz sentido pretender que a cincia, como instituio, superior aoutras instituies, como a poltica, a arte ou a religio. Nenhuma delas se prope a possibilitar aobteno do conhecimento da maneira como a instituio cincia o faz. Tampouco possvel justificara superioridade da cincia quando o conhecimento por ela produzido caracterizado como um sistemade crenas comuns ou como o saber de uma comunidade, ou pior ainda como um discurso entreoutros. Em tal caso, a pretensa superioridade parecer sempre questo de preconceito ou de manobraideolgica.
Quando se diz que a cincia, entendida como atividade cognitiva, superior ao saber vulgar ou sformas de procedimento de certas filosofias e das disciplinas consideradas pseudocientficas, est-semarcando uma diferena que tem a ver com determinada concepo do conhecimento e daepistemologia como disciplina filosfica que aspira a estabelecer critrios para apreciar a validade do
17
Essa estratgia auxiliada pelas exigncias que constituem o ethos da cincia (R. Merton), como o esprito crtico, aconvico do carter comunitrio do conhecimento, a aceitao ou rejeio deste ltimo, apenas pelos seus mritosintrnsecos, e a abstinncia de todo outro interesse que no seja o aumento do conhecimento (MERTON , 1964, pp. 543 eseguintes).
18 Faz, por isso, perfeito sentido denunciar um determinado conhecimento como tendencioso, porm o que se quer dizer
que foi tendenciosamente produzido. precisamente aqui que se v a utilidade de olhares alternativos que, ao criticaremcrenas e saberes, fazem avanar o conhecimento. Cf. a crtica feminista de pesquisas biolgicas, como em LONGINO1990, cap. 6 e 7.
19 Dou por pacfico que essa verdade ou validade pode ser parcial e, tratando-se de conhecimento factual, ela sempre
aproximada.
-
21
conhecimento.20 Esta concepo est precisamente em jogo quando se discute a superioridade dacincia no mbito em que esta questo tem pleno sentido, vale dizer, como o problema de estabelecerse, e por que, o conhecimento obtido cientificamente superior ao alcanado vulgarmente e aoreivindicado por filosofias, ideologias, religies e pseudo-cincias. J adiantei que entendo que oconhecimento a que aspira a cincia universal, vale dizer, vlido para qualquer ser humanodevidamente capacitado para compreend-lo. Essa noo de universalidade decorre da objetividade doconhecimento cientfico, que tem em comum com a objetividade do conhecimento vulgar o fato deconstituir uma sorte de transcendncia com relao s perspectivas individuais. No entanto, aobjetividade cientfica representa um passo a mais, como afirma Nagel (1986), no que ele denomina oeu objetivo (objective self), capaz de uma viso sem centro (centerless view) do mundo.
A essa viso descentrada corresponde o conhecimento objetivo, ou simplesmente oconhecimento, se for aceita a distino entre este ltimo e a cognio. O conhecimento cientfico mais objetivo que o conhecimento vulgar, na medida em que mais desprendido, por assim dizer, daspeculiaridades da atividade cognitiva que lhe d origem, e em que procura sistematicamente essemaior desprendimento. Por isso mesmo, como j mencionei, o conhecimento cientfico sobre um dadoassunto inclui a possibilidade de compreender formas menos objetivas de conhecimento na sualimitao ou at na sua falsidade.
Significa isso que o conhecimento cientfico seja superior a todo saber? Trata-se a meu ver deuma questo mal colocada. Rescher afirma que o interesse da cincia , e deve ser, o rosto pblicodas coisas, as suas facetas objetivas, acrescentando que a cincia persegue resultados reprodutveis,e se interessa pelos traos objetivos das coisas que qualquer um pode discernir (em circunstnciasadequadas), independente da sua particular constituio ou seu histrico de experincias. Por isso, acincia passa ao largo da dimenso qualitativa, afetiva e avaliativa do conhecimento humano, e alheia s mensagens transmitidas pela poesia, o drama, a religio e a sabedoria proverbial(RESCHER, 1994, pp. 238-241). Com outras palavras: reconhecendo que nem s de conhecimentoobjetivo vive o homem, Rescher admite (como tantos outros pensadores no cientificistas o tm feito),que diversos problemas da vida humana no podem ser resolvidos mediante o conhecimentocientfico, vale dizer, mediante o conhecimento maximamente objetivo (embora este ltimo sejaamide necessrio para diversos projetos humanos). De maneira anloga, os diversos saberes quesustentam a nossa existncia podem circunstancialmente ser (e com freqncia so) mais relevantespara ns que o conhecimento cientfico. Em todo caso, h pelo menos um saber que, como problemaou projeto, sem dvida superior quele conhecimento: saber o qu fazer com a prpria cincia (quaisquestes pesquisar, quais resultados aplicar), que valor e que funo atribuir-lhe para um mundomelhor. Espero haver contribudo, ainda que modestamente, para alcanarmos esse saber.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BUNGE, Mario. Treatise on basic philosophy, v. 5. Dordrecht: D. Reidel, 1983.CUPANI, Alberto. Objetividade cientfica: noo e questionamentos. Manuscrito 13 (1): 25-50, 1990.HARDING, Sandra. Whose science? Whose knowledge? Ithaca: Cornell University Press, 1991.LATOUR, Bruno; WOOLGAR, Steve. Laboratory life. Princeton, NJ: Princeton University Press,
1986.LONGINO, Helen. Beyond bad science: skeptical reflections on the value-freedom of scientific
inquiry. Science, Technology and Human Values 8 (1): 7-17, 1983.
20
Em vez de reduzi-la a uma disciplina cientfica que explica como de fato o conhecimento produzido ou adquirido porindivduos ou grupos, ou seja, epistemologia naturalizada, que deve existir, no como substitutivo da epistemologianormativa, mas como modo de evitar que esta ltima seja utpica.
-
22
. Science as social knowledge. Princeton, NJ; Princeton University Press, 1990.MERTON, Robert. Teora y estructura sociales. Mxico-Buenos Aires: F.C.E, 1964.NAGEL, Thomas. The view from nowhere. Oxford-New York: Oxford University Press, 1986.PIAGET, Jean. Sabidura e ilusiones de la filosofa. Barcelona: Pennsula, 1970.POLANYI, Michael. Personal knowledge . London: Routledge & Kegan Paul, 1985.POPPER, Karl. Conhecimento objetivo. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975.RAVETZ, J. Scientific knowledge and its social problems. Oxford: Clarendon Press, 1971.RAWLS, John. A theory of justice. Oxford: Oxford University Press, 1975.RESCHER, Nicholas. Los lmites de la ciencia . Madrid: Tecnos, 1994.RORTY, Richard. The mirror of nature. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980.
-
23
BAIARDI, Amlcar. A evoluo das cincias agrrias nosmomentos epistemolgicos da civilizao ocidental. In:MARTINS, R. A.; MARTINS, L. A. C. P.; SILVA, C. C.;FERREIRA, J. M. H. (eds.). Filosofia e histria da cincia noCone Sul: 3o Encontro. Campinas: AFHIC, 2004. Pp. 23-28.(ISBN 85-904198-1-9)
A EVOLUO DAS CINCIAS AGRRIAS NOSMOMENTOS EPISTEMOLGICOS DA CIVILIZAO
OCIDENTAL
Amlcar Baiardi
Resumo A denominada civilizao ocidental apresenta a cada estgio de suaevoluo traos culturais entre os quais esto as formas de gerar o saber. Ao longo dahistria ocidental, a relao sujeito/objeto da pesquisa ofereceu combinaes quanto nfase na razo ou na percepo e teve sempre a marca da individualidade ou dasubjetividade do pesquisador. Mesmo nos perodos de maior ortodoxia no houve umnico mtodo. O mtodo termina por ser uma escolha que, segundo Konrad Lorenz, seaprende ao viver no caso, ao viver a praxis cientfica. A trajetria das condicionantessuperestruturais do trabalho de pesquisa na civilizao ocidental, ensejando diferentesmomentos epistemolgicos e diferentes mtodos, o que se tenta sugerir. Em umaanlise evolutiva-comparativa sugere-se que os vrios momentos epistemolgicos(Antigidade Clssica, Idade Mdia, Renascimento, Revoluo Cientfica, RevoluoIndustrial e Contemporaneidade) exerceram fortes condicionamentos sobre asinvestigaes nas cincias agrrias.
A denominada civilizao ocidental apresenta a cada estgio de sua evoluo traos culturais quevo alm de palcios, templos, estradas, obras artsticas, modos de pensar ou de governar, sistemasreligiosos, filosficos, polticos e crenas diversas. Entre esses esto as formas de gerar o saber, asabordagens do objeto de conhecimento: os vrios mtodos de realizar incurses no desconhecido, derealizar pesquisa. Ao longo da histria ocidental, a relao sujeito/objeto da pesquisa, (S)/(O),ofereceu inmeras combinaes possveis quanto nfase na razo ou na percepo e teve sempre amarca da individualidade ou da subjetividade do pesquisador. Isto to verdadeiro que, mesmo nosperodos de maior ortodoxia, no se pode falar de um nico mtodo. O mtodo termina por ser umaescolha, uma opo, que, segundo Konrad Lorenz (apud KUNZMANN, 1993), se aprende ao viver,no caso ao viver a prxis cientfica. Para esse autor, o homem seria dotado de um aparato
Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: [email protected]
-
24
cognoscitivo, prprio de cada indivduo, com particularidades e especificidades inequvocas ecapacidade de receber influncia do meio, do momento histrico, da infraestrutura e da superestruturaque o circundam.
Poder-se-ia dizer que existe uma gnosiologia evolutiva aprimorando o aparato cognoscitivo dohomem, seja ela referida ao a priori de Kant ou s antecipaes de Popper, de um lado, seja elareferida ao meio no qual o pesquisador se insere, de outro. Seria como se as formas de representao eas categorias utilizadas pelo pesquisador se adaptassem ao mundo externo pelas mesmas razes que aanatomia de determinados animais se adaptam ao meio em que vivem. Este entendimento no entraem contradio com o esquema epistemolgico tetrdico simplificado de Popper que trabalha com areformulao do Problema de pesquisa, P, passando pela teoria provisria, TP, pelas evidnciasempricas que eliminam os erros, EE, at chegar ao novo Problema (POPPER, 2000).
A trajetria das condicionantes superestruturais do trabalho de pesquisa na civilizao ocidental,ensejando diferentes momentos epistemolgicos, o que se tenta sugerir a seguir. Em cada um dessesmomentos variam as concepes sobre os mtodos pa