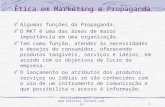PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING Curso: Publicidade e Propaganda Matéria:Tópicos Especiais II.
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING · 1 ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING PROJETO DE...
Transcript of ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING · 1 ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING PROJETO DE...
1
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING
PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
FELIPE CURY CARLONI
INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA
Nova forma de imperialismo ou mecanismo para salvar vidas
São Paulo
2011
2
1. Introdução
2. Contextualização Histórica 2.1 Bipolaridade no Pós Segunda Guerra Mundial e criação da ONU 2.2 Fim da Guerra Fria: Década de 90 até hoje 2.3 Tensões Crescentes: Soberania Estatal versus direitos humanos 3. Direito Internacional 3.1 Direito Internacional Humanitário 3.1.1 Introdução aos direitos humanos e à legalidade da intervenção 3.2 A jurisdição internacional dos direitos humanos 3.3 A garantia de proteção aos direitos humanos fundamentais 3.3.1 A proteção dos direitos humanos acima de qualquer suspeita de ilegalidade
4. A doutrina da Intervenção Humanitária 4.1 Definição de Intervenção Humanitária 4.2 Autodeterminação e a capacidade de Autodefesa 4.3 O princípio da soberania dos Estados 4.4 Intervenção Humanitária internacional 4.5 Discussões acerca de legalidade da intervenção 4.6 Ingerência Humanitária 5. Processo de Ingerência Humanitária 5.1 Os Atores do processo 5.1.1 Estados 5.1.2 Organizações Internacionais – ONU 5.1.3 Organizações Não Governamentais 5.2 O direito de intervenção internacional em casos de emergência humanitária 5.3 A violação ao princípio da soberania 5.3.1 A quebra da soberania quando de uma intervenção supra-estatal 5.4 Teoria Relativista 5.5 Teoria Universalista 5.5.1 A teoria universalista em resposta ao princípio da soberania 5.6 Ingerência como contenção a guerras e ao sofrimento humano 5.7 Ingerência como Imperialismo 6. Estudo de caso: Timor Leste
3
2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
2.1 PÓS-SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E A CRIAÇÃO DA ONU
O cenário global que emerge no pós Segunda Guerra Mundial, cujo poder
estava dividido entre EUA e URSS, viu surgir a Organização das Nações Unidas como
principal responsável pela manutenção da paz e segurança internacional, modificando os
padrões constitucionais e a lógica do sistema internacional. Se, depois da Primeira
Guerra Mundial os países se preparavam para a próxima guerra mundial, após a criação
da ONU o mundo passa a evitar as guerras, e não mais trabalhar para vencê-las. A
manutenção do status quo do sistema internacional, que permaneceu anárquico com o
fim da guerra fria, demanda a contenção de conflitos nacionais que possam vir a adquirir
caráter internacional e, com isso, prejudicar a ordem e a economia global (BYERS,
2003).
Ainda durante a Primeira Guerra Mundial, a idéia de criar um organismo
internacional destinado à preservação da paz e à resolução dos conflitos internacionais
por meio da mediação e da arbitragem já havia sido defendida por alguns estadistas,
principalmente por Woodrow Wilson, então presidente dos Estados Unidos. Criada no
final da Primeira Guerra Mundial, em 1920, a Liga das Nações "tinha como finalidade
promover a cooperação, paz e segurança internacional, condenando agressões externas
contra a integridade territorial e a independência política de seus membros”, além de
estabelecer sanções econômicas e militares a serem impostas pela comunidade
internacional contra os Estados que violassem suas obrigações, o que representou uma
redefinição do conceito de soberania estatal absoluta. Neste momento, a noção de
proteção internacional dos direitos humanos não tinha ainda ganho efetiva aceitação
pela comunidade das nações, nem havia sido seriamente tratada pela Convenção que
instituiu a Liga das Nações.
Entretanto, não possuindo forças armadas próprias, o poder de coerção da
Liga das Nações baseava-se apenas em sanções econômicas e militares. Sua atuação foi
bem-sucedida apenas em alguns casos, como no arbitramento de disputas nos Bálcãs e
na América Latina, na supervisão do sistema de mandatos coloniais, na assistência
econômica, na proteção a refugiados e na administração de territórios livres como a
4
cidade de Dantzig. Porém, ela se revelou impotente no bloqueio à invasão japonesa da
Manchúria (1931), a agressão italiana à Etiópia (1935) e o ataque russo à Finlândia
(1939), culminando na Segunda Guerra Mundial. Em abril de 1946, o organismo se
autodissolveu.
Seguindo a esteira da fracassada Liga das Nações, representantes de 50
Estados reuniram-se em 1945, na cidade de San Francisco, com o intuito de criar uma
nova organização internacional: as Nações Unidas. As negociações aconteceram no
âmbito do fim da Segunda Guerra Mundial, cuja cifra de destruição havia sido dezenas
de milhões de mortos em todo mundo, milhões de civis massacrados no Holocausto e
centenas de milhares de mortos em consequencia da bombas de Hiroshima e Nagasaki,
lançadas pelos Estados Unidos no Japão. Os Estados estavam em busca de uma
instituição e um conjunto de normas que, em suas próprias palavras, fosse capaz de
“preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra”, manter a paz internacional e
promover a cooperação internacional na solução dos problemas econômicos, sociais e
humanitários por meio de mecanismos multilaterais de reação à ameaça à paz (BYERS,
2007). Foi criada então a Organização das Nações Unidas (ONU), baseada nos
principios do tratado negociado – a Carta das Nações Unidas.
Segundo o Artigo 1 (1) deste documento, os propósitos das Nações Unidas
são: Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz.
Neste sentido, o preâmbulo da Carta da ONU afirma que ela se destina a
“garantir, pela aceitação de princípios e a instituição dos métodos, que a força armada
não será usada a não ser no interesse comum”.
Antes da Declaração Universal de Direitos Humanos, a Carta da ONU já
trouxe, muito além da iniciativa de pretender instaurar uma nova ordem mundial após
os horrores da guerra, a prerrogativa de instaurar relações pacíficas entre as nações.
A Carta da ONU engendrou um novo modelo regulatório, fundado na
soberania estatal, na restrição ao uso da força, na solução pacífica dos conflitos e no
respeito dos cidadãos que vivem no interior de suas fronteiras nacionais. A Carta
5
fundou a ONU, uma Organização intergovernamental, composta por Estados
interdependentes que pretendem realizar certos fins, dos quais os mais importantes são a
preservação da paz e da segurança (AMARAL, 20001, apud JUBILUT, 2010, p. 20).
Além disso, um dos princípios essenciais da Carta da ONU é o da não
intervenção, associado à soberania estatal. O artigo 2.7 da Carta proíbe a intervenção
nos assuntos de jurisdição exclusivamente doméstica dos Estados, ressalvando, porém,
que este princípio não prejudicará a aplicação das medidas coercitivas explicitadas no
Capítulo VII (ver anexo).
Para os países em desenvolvimento, a não intervenção tinha três diferentes
funções: (1) manifestar oposição às pressões das antigas potências coloniais, (2) conter
a influência das grandes potências e (3) garantir o processo de descolonização, evitando
interferências externas indesejáveis. Para os novos Estados independentes, vulneráveis
às pressões estrangeiras, o princípio da não intervenção constituía a defesa dos fracos
contra os fortes, representada pela tentativa de democratizar o sistema internacional. Na
verdade, esses países almejavam afastar a ingerência do antigo colonizador, considerada
ilegítima após a Segunda Guerra Mundial. (AMARAL, 20001, apud JUBILUT, 2010, p.
20).
Segundo Amaral, o processo de governança internacional iniciado pela
Carta das Nações Unidas apresenta as seguintes características:
1. A Comunidade internacional compõe-se de Estados soberanos unidos
por denso sistema de relações institucionalizadas. Os indivíduos e
coletividades são considerados sujeitos de direito internacional, mesmo
que desempenhando papéis limitados.
2. As pessoas oprimidas por potências coloniais, regimes racistas e
governos estrangeiros têm o direito de exprimir livremente seus
interesses.
3. Difunde-se a aceitação de standards e valores que se opõem ao princípio
da efetividade do poder.
4. O direito internacional é renovado por novos procedimentos, regras e
instituições.
5. Princípios jurídicos inovadores orientam os membros da comunidade
internacional permitindo o estabelecimento de direitos anteriormente
6
inexistentes. Atenção especial é concedida ao tema direitos humanos,
razão pela qual proliferam regras que forçam os Estados a respeitar
direitos fundamentais.
6. A preservação da paz, a promoção dos direitos humanos e a busca da
justiça social são prioridades da coletividade dos Estados.
7. As desigualdades interindividuais e interestatais dão origem à
proposição de novas formas de governança de apropriação e distribuição
dos recursos naturais e dos territórios.
O sistema de segurança coletiva adotado na Carta das Nações Unidas
estabelece, de acordo com o artigo (2), os princípios a serem observados pelos Estados
membros, sendo a igualdade soberana dos Estados, a proibição do recurso a forca, o
princípio da não intervenção e a consagração do direito a autodeterminação dos povos.
Estas seriam as prioridades da nova ordem mundial que estava surgindo logo após a
Segunda Guerra Mundial, com o intuito de reorganizar a comunidade internacional e
evitar que as atrocidades cometidas durante este período voltassem a acontecer. Dentro
dessa perspectiva, foi atribuída ao Conselho de Segurança a principal responsabilidade
da manutenção da paz e da segurança internacional, sendo ele o único com o direito de
autorizar e utilizar-se de medidas coercitivas, e conseqüentemente, do recurso da força,
em casos considerados ameaçadores da estabilidade internacional. Ao lado dessas
questões, a proteção dos direitos humanos emergiu como um dos pilares desse sistema,
mencionadas tanto no preâmbulo da Carta como no seu artigo (1) que, ao lado da
posterior Declaração Universal dos Direitos Humanos, assegurou a dignidade das
pessoas e os objetivos da organização que nascia. (BYERS, 2007)
Uma vez que os Estados passam a integrar as Nações Unidas, é pressuposta
a aceitação da Declaração Universal dos Direitos Humanos como instrumento legal
compulsório. Em razão disto, todos os Estados que aderem a ONU "abdicam
soberanamente de uma parcela da soberania, em sentido tradicional, obrigando-se a
reconhecer o direito da comunidade internacional de observar e, conseqüentemente,
opinar sobre sua atuação interna, sem contrapartida de vantagens concretas”
(PIOVESAN, 2007).
A Carta deixou claro que o grau de respeito aos direitos humanos
7
transformou-se num dos principais elementos para aferir-se a inserção de determinado
país na Comunidade Internacional. Com isso, os direitos humanos deixaram de ser uma
questão de domínio reservado dos estados e ganharam o status de tema global, o que
significa a necessidade de os Estados soberanos, em tempos de paz, garantirem a efetiva
proteção dos direitos humanos da população a fim de conquistarem legitimidade no
plano internacional”. (ALMEIDA, 2001).
Com o processo de internacionalização e proteção dos direitos humanos,
iniciado a partir da Declaração da ONU, uma crescente conscientização foi tomando
forma no sentido de garantir estes direitos. Dentro deste novo quadro da universalidade
dos direitos humanos, não mais se admitia falar de jurisdição exclusiva dos Estados uma
vez que os indivíduos não podiam mais ser encarados como responsabilidade apenas de
um governo nacional. Neste sentido, fez-se necessária uma reavaliação pelos órgãos
internacionais e pelos Estados a igualdade soberana dos Estados e o direito à não
intervenção em assuntos ditos domésticos, realidade antes considerada absoluta e
inalienável. (JUBILUT, 2010).
A Carta das Nações Unidas de 1945 consolidou, assim, o movimento de
internacionalização dos direitos humanos, a partir do consenso de Estados que elevam a
promoção desses direitos a propósito e finalidade das Nações Unidas. Decididamente, a
relação de um Estado com sua população nacional passou a ser uma problemática
internacional, objeto das instituições internacionais e do direito internacional. Para
tanto, basta examinar os artigos. 1º (3), 13, 55, 56, 62 (2 e 3), da Carta das Nações
Unidas (ver anexo).
Diante da crescente conscientização da necessidade legítima de se proteger
os direitos humanos e com a progressiva elaboração e adoção de mecanismos de
proteção por todos os países do mundo, configurou-se a competência das Nações
Unidas em intervir em Estados soberanos frente a concretos atos de violação, desde que
tenha como objetivo único a proteção da dignidade da pessoa humana.
Contudo, durante a Guerra Fria, este sistema ficou paralisado e a proteção
dos direitos humanos, apesar da grande compilação ocorrida nesta época (uma das
principais atividades exercidas pela organização durante este período), não dispunha de
mecanismos capazes de efetivá-los. A isto se deve acrescentar o fato da enérgica defesa
do princípio da não intervenção pelos então emergentes Estados da América do Sul, da
Ásia e da África que, numa tentativa de se firmarem como nações independentes, se
8
opunham a qualquer forma de intervenção. Isto aconteceu devido ao temor destes países
em ter suas fronteiras violadas, fato que comprometeria a sua independência territorial e
política e, por isso, consideravam a não intervenção como fator essencial à preservação
da sua soberania.
Soma-se a isso as diferenças de poder manifestadas na estrutura
institucional das Nações Unidas: a igualdade entre Estados na Assembléia Geral da
ONU ainda contrasta com a desigualdade nas deliberações do Conselho de Segurança,
uma vez que os membros permanentes contam com o direito de veto e têm
responsabilidade ampliada na manutenção da ordem e da estabilidade (ALMEIDA,
2001).
Neste sentido, alguns países, tentaram justificar seus atos declarando-os
como intervenções humanitárias como fez a Índia em 1971, no então Paquistão Oriental,
hoje Bangladesh, país no qual nove milhões de paquistaneses se refugiaram devido ao
fato de estarem sendo massacrados pelo governo do Paquistão Ocidental; o Vietnã no
Camboja, por conta das violações dos direitos humanos cometidos por Pol Pot, governo
que causou grande indignação da comunidade internacional; a França na África Central,
derrubando o governo sanguinário do imperador Bokassa; a Espanha na Guiné
Equatorial, em defesa dos cidadãos deste Estado que estavam tendo os seus direitos
humanos solapados pelo governo de Macias Nguema e da Tanzânia em Uganda, todas
acontecidas em 1979. Entretanto, as Nações Unidas não apoiaram tal atitude, apesar das
evidentes violações dos direitos humanos, uma vez que a defesa destes era contra os
princípios da soberania e da não intervenção e a eles eram subordinados, não sendo
considerados suficientes para legitimar uma intervenção. (WALZER, 2003)
Uma pequena mudança de atitude pôde ser observada numa aproximação do
que veio a ser as intervenções humanitárias ocorridas no pós Guerra Fria, quando das
Resoluções adotadas pelo Conselho de Segurança com relação às políticas do apartheid,
em 1960, as quais reconheceram que a ações empregada na África do Sul poderiam
representar uma ameaça à paz e a segurança internacional, entendimento reiterado pela
Resolução 418 de 1977 que impôs um embargo de venda de material militar a esse país,
tendo como justificativa a violenta política de discriminação que assolava o Estado
(AMARAL, 2001, apud JUBILUT, 2010, p. 20).
Esta Resolução foi responsável por incluir nos debates da agenda
internacional a garantia e proteção dos direitos humanos, ainda que até este momento
9
apenas medidas de caráter não militares haviam sido tomadas, uma vez que não tinha
sido alcançado um consenso no sentido de autorizar o uso da força. Neste contexto,
outro exemplo da crescente onda de valorização dos direitos humanos pôde ser
observado no caso da Rodésia do Sul, atual Zimbábue, que sofreu sanções de caráter
não militar (as quais incluíam um bloqueio naval ao porto moçambicano de Beira, por
onde este país escoava os seus produtos) autorizados pelo Conselho de Segurança
através das Resoluções 217 (1965), 232 (1966), 253 (1968) e 277 (1970) como resposta
à declaração unilateral de independência por uma minoria branca racista que praticava
uma política discriminatória (BYERS, 2003).
A proteção dos direitos humanos teve a sua grande virada no início dos anos
90, com a adoção de Resoluções, pelo Conselho de Segurança que tinham como
finalidade comum a restauração das comunidades traumatizadas pelos excessos de
violência e desrespeito aos seus direitos mais fundamentais. Isto demonstrou a
necessidade de pronta intervenção quando da morte e do sofrimento de uma grande
camada da população, fossem essas atrocidades promovidas pelo próprio Estado
responsável por estas populações ou pela sua incapacidade de coibí-las.
2.2 FIM DA GUERRA FRIA: DÉCADA DE 90 ATÉ HOJE
Este sub-capítulo apresentará um tema de constante controvérsia entre os
autores do Direito Internacional, uma vez que a Intervenção Humanitária, no período pós
Guerra-Fria, evoca uma diferente visão das relações internacionais ao debater o conceito de
soberania e alocar o resguardo dos direitos humanos sob competência da comunidade
internacional e, não mais, um campo de contexto reservado.
Ao final da Guerra Fria representada sob a simbólica derrubada do muro de
Berlim, emergiu-se uma nova e atual ordem mundial, substituindo a bipolarização
Leste-Oeste por uma necessidade de se criar um novo equilíbrio, uma vez que se
estabeleciam por todo o mundo, novos modelos civilizacionais, culturais e políticos.
Nessa nova ordem mundial, o respeito ‘absoluto’ pelo direito internacional passa a se
basear no sistema criado pela Carta das Nações Unidas.
Embora se tenham criadas novas maneiras de cooperação e de diálogo entre
os Estados, surgiram também oportunidades de conflitos internos e regionais, fossem
por razões religiosas, étnicas ou culturais. Ao aparecerem novos e variados atores nas
10
relações internacionais (que chegam a originar uma discussão em torno do próprio
conceito de Estado) eclodem, simultaneamente ao redor do mundo, muitos conflitos de
porte intra-estatal, que repercutem para além de suas fronteiras e que acabam por atentar
toda a comunidade internacional para as sérias crises humanitárias em vigor.
A partir dessa constatação e, numa mescla das perspectivas acima tratadas,
novos princípios começaram a tomar forma, não só aumentando como também
diversificando a responsabilidade da atuação da ONU no cenário internacional, ao passo
que os direitos humanos começaram a estar presente na agenda internacional. Os
mecanismos aptos a compelir os Estados se principiaram perante as decisões das Nações
Unidas. Neste cenário, o então Secretário Geral da ONU, Boutros Boutros Ghali, na
Agenda para a paz de 1992, ratifica essa convergência abrangendo entre as missões da
organização, a diplomacia preventiva para a consolidação, a manutenção e o
estabelecimento da paz. A ênfase na necessidade de se desenvolver a ajuda humanitária
possibilitaria, a partir daí, a imposição da paz mesmo que através da força, uma vez que
se justificasse perante o previsto no Mandato acatado pela Resolução do Conselho de
Segurança.
O capítulo VII da Carta das Nações Unidas representou o símbolo de uma
nova perspectiva internacional pós 1990, no qual a interpretação ante as situações
capazes de desestabilizar a segurança e a paz mundial foi ampliada de modo que se
abominassem as desumanas infrações aos direitos humanos. Esse exercício passaria
então a legalizar as intervenções humanitárias.
Leandro Garcia explica que o grande desenvolvimento da ONU por toda a
década de 90, sob a liderança de Kofi Annan e Boutros Ghali, baseia-se na constatação
de que ambos eram a favor da intervenção humanitária e política, em defesa das
populações em qualquer situação em que a sua segurança estiver em risco (GARCIA,
2001). Esse fato ampliou consideravelmente a quantidade de intervenções das Nações
Unidas quanto à proteção dos direitos humanos, já que a Carta das Nações Unidas
objetiva a proteção individual dos seres humanos e, não, a proteção aqueles que os
desrespeitam. Essa concepção se esclarece na afirmação de Kofi Annan ao tentar
estabelecer, no final de 1999, um novo preceito político no qual a soberania do
indivíduo emerge em contrapartida à soberania do Estado, assegurando que os ditadores
não deveriam mais se sentir confortáveis dentro de suas delimitações territoriais para
11
administrarem processos de atrocidades contra suas próprias populações, uma vez que a
comunidade internacional, perante as Resoluções do Conselho de Segurança das Nações
Unidas, estaria capacitada a intervir.
As mais incisivas condenações às práticas de intervenção humanitária
incidem na utilização nada constante da doutrina intervencionista, já que ela é atuante
em apenas em alguns casos, enquanto o silêncio e a omissão são predominantes em
diversas outras situações, como o ocorrido na Tchetchênia, região onde viviam
inguchos, russos e tchetchenos sob uma política de pura violência, discriminação e
violação aos direitos humanos. Neste exemplo, a comunidade internacional se satisfez
ao expor suas apreensões com vagas tentativas de um diálogo para finalizar a uma
interminável apresentação de deslocados, fugitivos e mortos. Fator central da crítica é
de que a disposição do mundo ocidental para se indignar com situações desse porte é
bem menor perante a um desastre humanitário localizado em “lugares distantes”, do que
aqueles mais próximos, onde as sérias conseqüências dessas violações viriam a
comprometer o equilíbrio e a estabilidade dos Estados desenvolvidos.
Essa nova fase de cooperação internacional teve como seu ponto de partida
a Guerra do Golfo, onde os Estados Unidos – país detentor de hegemonia bélico-militar
incontestável- optaram por atuar em conjunto com a sociedade internacional e com o
Conselho de Segurança da ONU na invasão do Iraque no Kuwait em agosto de 1990.
No entanto, ao término do conflito e à conseqüente vitória das forças aliadas, a
população iraquiana xiita no sul e curda no norte se revoltou, clamando pelos seus
direitos de autodeterminação. Ao final, a brutal e imediata resposta iraquiana foi um
verdadeiro genocídio não só aos revoltosos, mas também a milhares de civis.
Tentando escapar desse massacre liderado por Saddam Hussein, xiitas e
curdos fugiram em massa para as nações vizinhas, principalmente Irã e Turquia, que
impediriam a entrada dos iraquianos em seu território, alegando problemas de segurança
devido ao grande fluxo de refugiados. Ambos os países enviaram uma solicitação ao
Conselho de Segurança, que, dias depois, aprovaria nos seguintes termos a Resolução
688, datada em 5 de abril de 1991: “... de autoria sob o artigo 3, parágrafo 7, das Nações Unidas, seriamente preocupado pela repreensão da população civil Iraquiana em muitas áreas do país, incluindo, mais recentemente, a região povoada pelos curdos, que lidera um massivo fluxo de refugiados pelas fronteiras internacionais e em incursões entre os limites territoriais, e que ameaça a paz e a segurança na
12
região intensamente perturbada pela magnitude do sofrimento humano envolvido...”
A Resolução 688 foi uma referência de inovação na forma de atuação do
Conselho. Pela primeira vez uma Resolução mostrou a relação existente entre um ato de
grave violação dos direitos humanos com a segurança internacional e a conseqüente
ameaça à paz. Em seu texto, ela “solicita a permissão” para que organizações
humanitárias atuem sob forma de auxílio ao país, não caracterizando assim, uma
ingerência de maneira exata. No entanto, é interessante observar o que o Conselho de
Segurança determinou como ameaça a paz: o intenso fluxo de refugiados.
A solução criada por França, Estados Unidos e Grã-Bretanha foi de criar as
chamadas “no fly zones” (zonas de segurança) para os xiitas ao sul e os curdos ao norte,
medida legal justificada pela Resolução acima mencionada. No entanto, a legalidade
dessa decisão acabou por ser fortemente questionada pela doutrina e, mesmo hoje em
dia, recebe diversas críticas tanto na Assembléia Geral como no Conselho de Segurança.
De qualquer forma, a declarada necessidade de intervenção nesse caso, viria a trazer
novos debates a respeito de um “direito” de intervenção humanitária e, a partir daí os
fundamentos condizentes à legalidade e à legitimidade desse instituto sofreriam
importantes alterações.
Quanto ao período ocorrido após a Guerra Fria, Paulo Roberto França
caracteriza a prática estatal no decênio conseguinte como “um elevado grau de consenso
no Conselho de Segurança e pela ação concertada das potências, no âmbito do Capítulo
VII da Carta, para resolver problemas relacionados à paz e à segurança
internacional”(FRANÇA, 2004, p. 175). Perante isso, é bem verdade que a garantia e o
controle de que esses conflitos não se resolvessem frente a recursos armados, fugiram e
continuarão fugindo das mãos das organizações internacionais.
O desenvolvimento tecnológico e a alavancagem da globalização no novo
milênio acentuaram a desigualdade sócio-econômica, aumentando o já manifesto vão
existente entre o Norte e o Sul e acarretando conflitos de conseqüências inesperadas
entre as nações ricas e pobres. É justamente entre os dois eixos que se situa a
Organização das Nações Unidas atualmente: ignorada pelas potências globais em
evidência, como afirma Noam Chomsky ao dizer que o bombardeamento no Iraque:
“Foi uma violação do direito internacional feito de uma forma “descarada” pelos EUA e
pela Inglaterra, num claro desprezo pela ONU e pelo direito internacional”
13
(CHOMSKY, 2003). No entanto, mesmo o estudioso destaca o fato de que a ação dos
países agressores foi internacionalmente acatada pela população mundial, seja pela
omissão aos que os comunicadores se submeteram, seja pelo consentimento do
Conselho de Segurança em não tratar a situação além de uma questão ‘técnica’.
Conclui-se então, que a última década do milênio passado firmou a
definição e a existência de fatores que levariam uma inconstância da segurança e da paz
internacional. A questão chave é a perda de parâmetro. Como mostram as resoluções, o
chamado desrespeito massivo aos direitos humanos representa a ameaça à paz. Contudo,
isso não indica a aplicação de em que medida que o desrespeito aos direitos humanos
ameaçaria a paz e a segurança mundial. Existem situações de que não só podem como
devem ser resolvidas pelo Direito Penal do próprio Estado. Atualmente, todavia, o céu é
o limite. A liberalidade costuma acontecer quando se rompe um modelo fechado de
longos anos, haja vista que novos critérios não tenham sido esclarecidos. Basear uma
decisão sobre Ingerência Humanitária nos pilares do Conselho de Segurança, não
significa garantir alguma imparcialidade.
14
3 DIREITO INTERNACIONAL
3.1.1 DIREITOS HUMANOS
Para definir o conceito de Direitos Humanos, é necessário examinar a
concepção dos grandes pensadores. De acordo com Thomas Hobbes (2005), o Estado é
a compreensão racional da vontade dos indivíduos. Para ele, a explicação dos direitos
humanos não é divina, mas racional, e a racionalidade é a base do Estado e dos direitos
dos indivíduos. O objetivo que Hobbes pretendia atingir era prever as consequências das
ações e idealizar um arranjo constitucional que contivesse as iniciativas individuais.
Este pensador não acredita que o homem seja apto a viver em sociedade, “o homem é o
lobo do homem” e, por isso, eles devem se submeter a regras que garantirão a paz. Ao
aceitar esta condição, é como se um homem dissesse ao outro:
Cedo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo a este homem, ou a esta assembléia de homens, com a condição de transferires para ele o teu direito, autorizando de uma maneira semelhante todas as suas ações. (HOBBES, 1997 p. 103).
Em contraposição as idéias de Hobbes encontra-se a idéia de Rousseau
(2005), filósofo suiço, frequentemente associado a pensamentos anticapitalistas, que
afirma que a sociedade limita o direito de liberdade do indivíduo, na medida que a
restrição da propriedade é a perda da liberdade. Segundo o pensador, o homem é
essencialmente bom, porém a sociedade o corrompe, pois esta não só impôs a tirania e a
servidão, mas também diversas leis que previam privilégios a determinada classe social
em detrimento de classes miseráveis. Portanto, Rousseau propunha o retorno do homem
ao estado natural, por meio de uma nova organização social direcionada ao amor à
natureza, ou seja, a real liberdade de ser e de se organizar.
Kant (2004), reescreve os ideais de Rousseau de sua maneira. De acordo
com ele, para a elaboração das leis que fundamentam os direitos humanos, é necessário
levar em consideração os princípios morais e propõe o conceito de “imperativo
categórico”, que equivale a um elevado requisito de moralidade e se manifesta de duas
maneiras. A primeira formulação é: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas
15
ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal” (KANT, 2004) e a segunda,
“Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de
qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio”
(KANT, 2004)
Para Flávia Piovesan (2007), os direitos humanos afirmam-se como um
ramo autônomo do direito e tratam-se essencialmente da proteção aos direitos dos seres
humanos no plano nacional e internacional em qualquer circunstância. Os direitos
humanos não regem as relações entre iguais; age precisamente a favor dos mais fracos,
ou seja, nas relações entre desiguais, coloca-se em defesa dos mais carentes de proteção.
Segundo a autora, “o Direito dos Direitos Humanitários não busca obter um equilíbrio
abstrato entre as partes, mas remediar os efeitos do desequilíbrio e das disparidades”
(PIOVESAN, 2007 p. 3)
No plano internacional, as normas jurídicas são interpretadas e aplicadas de
acordo com a chamada autonomia da vontade, pela qual os Estados soberanos seguem
fielmente a realização do seu objeto e propósito.
Há um consenso dos grandes estudiosos que a verdadeira consolidação dos
direitos humanos surge no século XX, após a segunda guerra mundial como resposta ao
genocídio cometido durante o período nazista. Nas palavras de Ignacy Sachs, o século
XX foi marcado por duas guerras mundiais e genocídio concebido como projeto político
e industrial. De acordo com Thomas Buergenthal (1982):
O moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um fenômeno do pós guerra. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos humanos da era Hitler e à crença de que parte destas violações poderiam ser prevenidas se um efetivo sistema de proteção internacional de direitos humanos existisse. (BUERGUENTAL, 1982 p.17)
Neste contexto torna-se imprescindível a reconstrução dos direitos humanos,
como referência ética para orientar a ordem internacional. Surge a certeza que estes
direitos não devem ser restritos ao âmbito de um Estado e sim como uma questão de
relevância internacional.
Ao fim da segunda grande guerra, sugiram diversos debates para discutir um
modo de responsabilizar os alemães pelos abusos cometidos e chegou-se a um consenso
com o Acordo de Londres em 1945 no qual ficou estabelecido um Tribunal Militar
Internacional para fazer julgamentos dos criminosos da guerra.
16
A existência dos direitos humanos depende, segundo Flávia Piovesan, dos
seguintes pontos: a) da concordância de um número significativo de Estados em relação a determinada prática e do exercício uniforme dessa prática; b) da continuidade de tal prática por considerável período de tempo – já que o elemento corporal é indicativo da generalidade e consistência de determinada prática; c) da concepção de que tal prática é requerida pela ordem internacional e aceita como lei, ou seja, de que haja o senso de obrigação legal, a opinio juris. (PIOVESAN, 2007 p. 122)
Ainda de acordo com a autora, a expansão dos direitos humanos se deu
principalmente pelo fortalecimento de organizações internacionais que visam a
cooperação internacional. O surgimento das Nações Unidas, em 1945, marca o início de
uma nova ordem mundial com a instituição de um novo modelo de comportamento nas
Relações Internacionais com preocupações com a segurança internacional e a
manutenção da paz, o desenvolvimento de boas relações entre os Estados, a cooperação
internacional em questões econômicas, sociais, culturais, de proteção ao meio ambiente
e a criação de uma nova ordem de proteção aos direitos humanos.
Para alcançar os objetivos propostos, a ONU foi dividida em diferentes
órgãos, conforme explica a figura 1.
17
Figura 1 – Exemplos de orgãos das Nações Unidas
Fonte: Autoria do Grupo
Para a cooperação nos aspectos sociais, culturais, econômicas e de direitos
humanos foi criado o Conselho Econômico e Social. Cabe a este orgão promover os
Orgão Propósito
ACNUR ( Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados)
Conduzir e coordenar ações internacionais para a proteção dos refugiados e a busca por soluções duradouras para seus
problemas
AG (Assembléia Geral das Nações Unidas)
Discutir e fazer recomendações sobre qualquer assunto dentro das finalidades da ONU; considerar princípios gerais
de cooperação na manutenção da paz e segurança internacional; elaborar recomendações sobre a solução
pacífica de litígios internacionais; aprovar o orçamento da ONU; eleger os membros não - permanentes do Conselho de
Segurança da ONU
BIRD - Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento0
Ajudar países em desenvolvimento através de projetos em diversas áreas, como construção de escolas, hospitais,
estradas, energia e o desenvolvimento de programas que ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas.
CCPCJ (Comissão de Prevenção do Crime e Justiça Penal) Controlar o crime organizado e o tráfico de drogas
CDH (Comissão de Direitos Humanos) Promover e proteger os direitos humanos.
CIJ (Corte Internacional de Justiça) Solucionar, de acordo com as leis internacionais, disputas legais que a ele foi submetido pelos Estados
CS (Conselho de Segurança)
Manter a paz e a segurança internacional, de acordo com os princípios e propósitos da ONU; investigar qualquer disputa
ou situação que leve a fricção internacional; recomendar métodos de ajuste para disputas; formular planos para o estabelecimento de um sistema que regula armamentos;
determinar ações contra a existência de ameaças à paz e agir militarmente contra os agressores
DESA (Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais) Promover o desenvolvimento econômico, social dos países.
ECOSOC (Conselho Econômico e Social)
Promover padrões de vida mais elevados, progresso social e econômico; identificar soluções econômicas, sociais e de
saúde internacional; facilitar a cooperação cultural e educativa e encorajar o respeito universal aos direitos
humanos e fundamentos da liberdade
FMI
Criar uma cooperação monetária global, assegurar a estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional,
promover o crescimento econômico sustentável e de empregos e reduzir a pobreza no mundo
18
direitos humanos e elaborar projetos de convenções que são submetidos à Assembléia
Geral. Dessa forma, em 1946 foi criada a Comissão de Direitos Humanos das Nações
Unidas. Porém, a Comissão ao longo dos anos foi perdendo a credibilidade e
profissionalismo pois os Estados se tornavam membros para terem uma atitude mais
defensiva de auto proteção e anti – críticas. Assim, a Comissão foi substituída em 2006
pelo Conselho de Direitos Humanos, cujos membros são escolhidos pela Assembléia
Geral da ONU com o propósito de dar mais atenção a questão dos direitos humanos. O
orgão deve orientar-se pelos princípios da objetividade, universalidade, da não
seletividade e da imparcialidade nas questões de direitos humanos.
O conselho conta com quarenta e sete Estados membros que são eleitos
diretamente por voto secreto da maioria da Assembléia Geral, de acordo com a
distribuição geográfica equitativa entre os grupos regionais sendo: treze membros da
região africana, treze dos estados asiáticos, oito membros da América Latina e Caribe,
seis membros dos Estados da Europa do Leste e sete dos Estados na Europa Ocidental e
demais Estados. Cada membro possui mandato de três anos.
A carta da ONU de 1945 consolida a internacionalização dos direitos
humanos. A partir de então, o assunto passa a ser tratado oficialmente como um
problema de caráter internacional conforme os artigos 1º (3), 13, 55, 56 e 62 (2 e 3), da
Carta das Nações Unidas. Porém, embora a carta seja incisiva sobre a importância dos
direitos humanos, ela não institui o conteúdo destas expressões. Desse modo, tem-se um
desafio de saber o alcance da expressão “direitos humanos”. Para tanto, foi criada a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948 que define com precisão
esta expressão, concretizando a obrigação relativa de promover estes direitos,
constituindo um marco no processo de consolidação, internacionalização e afirmação
dos direitos humanos.
De acordo com René Cassin (1974), presidente do Tribunal Europeu dos
direitos humanos de 65 a 68 e principal autor da Declaração Universal dos Direitos
Humanos:
Esta declaração se caracteriza, primeiramente, por sua amplitude. Compreende um conjunto de direitos e faculdades sem as quais um ser humano não pode desenvolver sua personalidade física, moral e intelectual. Sua segunda característica é a universalidade: é aplicável a todas as pessoas de todos os países, raças, religiões e sexos, seja qual for o regime político dos territórios nos quais incide. Ao finalizar os trabalhos, a Assembléia Geral, graças à minha proposição , proclamou a Declaração Universal, tendo em
19
vista que, até então, ao longo dos trabalhos, era denominada Declaração internacional. Ao fazê-lo, conscientemente, a comunidade internacional reconheceu que o indivíduo é membro direto da sociedade humana, na condição de sujeito direto do Direito das Gentes. Naturalmente, é cidadão de seu país, mas também cidadão do mundo, pelo fato mesmo da proteção internacional que lhe é assegurada. Tais são as características centrais da Declaração. (...) A Declaração, adotada pela por unanimidade (com apenas 8 abstenções, em face de 48 votos favoráveis), teve imediatamente uma grande repercurssão moral nas Nações. Os povos começaram a ter consciência de que o conjunto da comunidade humana se interessava pelo seu destino. (CASSIN, 1974 p. 397)
A Declaração não é um tratado. Por se tratar de uma resolução adotada
pela Assembléia Geral da ONU, não tem força de lei. Porém, por estar contido dentro da
Carta das Nações Unidas como a interpretação oficial da expressão de direitos humanos,
possui força jurídica vinculante ainda que não obrigatória.
O sistema mundial passou a ser ampliado com os diversos tratados
multilaterais relacionados com o tema de direitos humanos, como o genocídio, a tortura,
a discriminação racial, a discriminação contra as mulheres, contra os direitos das
crianças entre outras formas específicas de violação. A partir de então foi adotada a
Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio.
Esta convenção datada de 1948 foi o primeiro tratado internacional de
proteção aos direitos humanos aprovado no âmbito das Nações Unidas. Considerando as
atrocidades cometidas ao longo da Segunda Grande Guerra, especialmente o genocídio
que causou a morte de aproximadamente seis milhões de judeus, “a Convenção afirma
ser o genocídio um crime que viola o Direito Internacional, o qual os Estados se
comprometem a prevenir e punir”. (PIOVESAN, 2007 p 210)
De acordo com o artigo 2º da Convenção, genocídio é “qualquer dos
seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou parte, um grupo
nacional, étnico, racial ou religioso, tal como: a) assassinato de membros do grupo; b)
dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo; c) submissão
intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física
total ou parcial; d) medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e e)
transferência forçada de crianças de um grupo para outro grupo”.
A Convenção também coloca que qualquer pessoa que tiver cometido
atrocidade será punida, seja ela governante, funcionário público ou particular. Em
relação ao julgamento dos crimes de genocídio, o artigo 6º da Convenção diz que “as
20
pessoas acusadas de genocídio serão julgadas pelos tribunais competentes do Estado em
cujo território foi o ato cometido ou pela corte penal internacional competente com
relação às Partes Contratantes que lhe tiverem reconhecido a jurisdição”. Verifica-se
que desde 48, era prevista a criação de uma corte penal internacional onde fossem
julgados os casos de crime de genocídio.
O genocídio era um crime que insultava a ordem internacional e,
considerando que os foros nacionais poderiam ser incapazes de julgar os perpetradores,
seria necessário estabelecer uma corte com a competência para julgar.
Em relação aos antecedentes históricos da criação da Corte Penal
Internacional, é importante destacar os Tribunais de Tóquio e de Nuremberg, assim
como os mais recentes Tribunais ad hoc da Bósnia e da Ruanda, estabelecidos em 1993
e 1994, pela resolução do Conselho de Segurança da ONU com base no capítulo quatro
da Carta da ONU.
Quando se trata dos Tribunais ad hoc, o Human Rights Watch Report
datado de 1994 explica: Talvez em 1994 o mais importante e positivo desenvolvimento relativo aos direitos humanos se ateve à criação de um sistema internacional de justiça para terríveis violações de direitos humanos. (...) Durante o ano de 1994, parece cada vez mais possível a instituição de um novo instrumento: um sistema internacional de justiça que assegure aos perpetradores do genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, a devida responsabilização. Pela primeira vez, desde os Tribunais de Nunremberg e Tóquio, um sistema como este está a prometer justiça às vítimas de extremos abusos, bem como está a inibir a tentativa de repetição destes crimes. (HUMAN RIGHTS WATCH REPORT, 1994 p. XX)
A necessidade de um sistema internacional de justiça para o julgamento de
violações contra os direitos humanos também foi destacada pelo Programa de Ação de
Viena de 1993, ao constituir em seu parágrafo 92: “A Conferência Mundial sobre
Direitos Humanos recomenda que a Comissão dos Direitos Humanos examine a
possibilidade de melhorar a aplicação dos instrumentos de direitos humanos existentes
em níveis internacional e regional e encoraja a Comissão de Direito Internacional a
continuar seus trabalhos visando ao estabelecimento de um tribunal penal
internacional”.
A importância da constituição de uma jurisdição internacional para os
crimes contra os direitos humanos foi restaurado na década de 90, em virtude dos
genocídios que ocorreram nesta época como os conflitos da Bósnia, Ruanda, Kosovo e
21
Timor Leste, comprovando as previsões do Samuel Huntington, economista americano
que alegava que o fim da Guerra Fria marcaria a transição do conflito bipolar entre
Leste e Oeste para o aumento súbito de conflitos culturais e étnicos.
Tratando da criação de uma jurisdição internacional, Norberto Bobbio
(1992) observa que, as atividades internacionais de direitos humanos podem ser
distribuídas em três categorias: promoção, controle e garantia.
As atividades de promoção correspondem ao conjuto de ações destinadas ao fomento e ao aperfeiçoamento do regime de direitos humanos pelos Estados. Já as atividades de controle envolvem as que cobram dos Estados a observância das obrigações por eles contraídas internacionalmente. Por fim, a atividade de garantia só será criada quando uma jurisdição internacional se impuser concretamente sobre as jurisdições nacionais, deixando de operar dentro dos Estados, mas contra os Estados em defesa dos cidadãos. (BOBBIO, 1992 p. 25)
Desta forma, é possível concluir que até a aprovação do Estatuto do
Tribunal Penal Internacional, o sistema mundial de proteção só engloba as atividades de
promoção e de controle dos direitos humanos e não dispõe de um mecanismo de
garantia destes direitos.
Em Julho de 1998, na Conferência de Roma, foi pela primeira vez aprovado
o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, com cento e vinte votos a favor, sete contra
(Estados Unidos, China, Índia, Filipinas, Sri Lanka, Turquia e Israel) e vinte e uma
abstenções. No dia 1º de julho de 2001, o Estatuto de Roma entrou em vigor e até
Novembro de 2005, 100 Estados haviam aderido. Isto significava um grande avanço
para a proteção dos direitos humanos.
O Tribunal Penal Internacional surgiu como um mecanismo complementar
às cortes nacionais com o propósito de assegurar o fim da impunidade para os piores
crimes internacionais, considerando que as vezes, na ocorrência de alguns crimes, as
instituições nacionais são falhas ou omissas no julgamento. É integrado por dezoito
juizes que possuem mandato de nove anos. De acordo com os termos do artigo 34 do
Estatuto, o Tribunal Penal Internacional é composto pelos seguintes orgãos: a)
Secretaria, encarregada pelos aspectos não judiciais da administração do Tribunal; b)
Promotoria, um orgão autonomo do Tribunal, responsável por receber as denúncias dos
crimes, examiná-las, investigá-las e propor ação penal; c) Câmaras, divididas em
22
Câmara de Questões Preliminares, Câmara de Apelações e Câmara de Primeira
Instância; e d) Presidência, responsável pela administração do Tribunal.
Segundo o artigo 5º do Estatuto de Roma, o Tribunal é responsável pelo
julgamento dos seguintes crimes: a) crime de genocídio; b) crimes contra a humanidade,
incluindo ataques generalizados e sistemáticos contra a população civil como
assassinatos, extermínio, deportação, escravidão, estupro, tortura, entre outros; c)
crimes de guerra como violações ao Direito Internacional Humanitário, principalmente
às Convenções de Genebra de 49 e d) crimes de agressão que ainda não possui
definição, nos termos do artigo 5º do Estatuto.
Quanto as penalidades, é regra no Estatuto que a pena máxima é de trinta
anos, admitindo excepcionalmente a prisão perpétua, quando for justificada e avaliada
como um caso de extrema gravidade. Além disso, o Tribunal poderá impor penas de
caráter civil, determinando a reparação às vítimas e seus familiares conforme o artigo
75.
Por fim, o artigo 27 completa que o Estatuto é aplicável para todas as
pessoas, sem distinção alguma. Aos acusados são garantidas as garantias de um
tratamento justo em todos os passos do processo, de acordo com as normas
internacionais.
Conclui-se, portanto, que o Direito internacional dos direitos humanos vem
a iniciar o processo de redefinição do conceito de cidadania internacional. O sistema
internacional integra o conceito de cidadania, pois passa a incluir não somente os
direitos previstos no plano nacional como também os direitos internacionalmente
enunciados, ou seja, “às garantias nacionais são adicionadas garantias de natureza
internacional” (PIOVESAN, 2007 p. 356). Assim, a plena realização dos direitos da
cidadania englobam o exercício dos direitos humanos, assegurados nacional e
internacionalmente.
3.1.1 INTRODUÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E À LEGALIDADE DA
INTERVENÇÃO
O Estado surgiu, essencialmente, da necessidade de organização dos
indivíduos em comunidades e para a defesa de seus direitos basilares.
23
Em matéria de direitos humanos, a substituição do princípio da proteção
diplomática fundamentado no exercício da competência pessoal dos Estados pelo da
proteção internacional, que busca tutelar os direitos dos indivíduos não mais como
responsabilidade nacional de qualquer Estado, caracteriza importante avanço na quebra
da absoluta soberania estatal em direção a uma ordem internacional na qual questões
como direitos humanos passam a ter jurisdição internacional, e não mais
responsabilidade única do Estado. É por esta razão que as Convenções Internacionais
sobre Direitos Humanos, posteriores à Segunda Guerra Mundial, buscam criar garantias
coletivas, indo além dos interesses específicos dos Estados. Estas convenções procuram
estabelecer obrigações objetivas com relação aos direitos humanos, percebidas como
necessárias para a preservação da ordem pública internacional.
No que diz respeito às intervenções humanitárias, uma questão relevante é
determinar a existência de um limite, que teria sido ultrapassado, caracterizando uma
violação de direitos fundamentais e, por isso, se torna legitimamente passível de uma
intervenção humanitária na qual o Estado em que a violação está ocorrendo fica
vulnerável à quebra de sua soberania. Neste sentido, fez-se necessária uma releitura de
toda a doutrina da não interferência entre nações pregada ao longo da história.
Inevitavelmente, a idéia de intervenção humanitária coloca em confronto
dois conceitos que carregam em seu significado um universo de peculiaridades: o
conceito de soberania estatal e o de direitos humanos.
Não existem normas internacionais que apontem com clareza sobre a
legalidade da intervenção humanitária, fato que dificulta sua definição como ação legal
ou ilegal frente à codificação do direito internacional.
A discussão sobre a legalidade das intervenções humanitárias remete a
intervenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em Kosovo, que
serve de marco histórico já que, mesmo sem a aprovação formal do Conselho de
Segurança, a intervenção foi levada a cabo.
Neste sentido, é importante distinguir duas modalidades de intervenção
humanitária existentes no âmbito do direito internacional: a intervenção humanitária
internacional ou coletiva e a intervenção humanitária unilateral, ou estrangeira.. A
primeira são aquelas que, além de contarem com a aprovação da comunidade
internacional, são legitimadas pelo Conselho de Segurança para agir. Enquanto isso, as
intervenções unilaterais caracterizam-se por serem intervenções praticadas por país ou
24
países estrangeiros nos domínios do território onde violações de diretos humanos
estejam acontecendo. Este tipo de intervenção não tem a aprovação do Conselho de
Segurança da ONU, ainda que conte com a aprovação da sociedade internacional.
Nesse contexto, na tentativa de conceber maior importância à proteção aos
direitos humanos, em 1948 foram aprovadas a Declaração Universal dos Direitos
Humanos e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem.
À medida que se foram concretizando os novos paradigmas de proteção aos
direitos humanos a nível global com a ratificação de tratados mundiais e o
estabelecimento de uma nova doutrina no sentido de retirar os direitos humanos da
jurisdição doméstica dos Estados, foram sendo também constituídos sistemas
normativos de proteção humanitária regionais, particularmente, o Europeu, o sistema
Americano, o Africano e a Liga Árabe.
Quando o próprio Estado é responsável pela promoção de políticas públicas
exterminadoras, a exemplo do genocídio do holocausto e, mais recentemente, as crises
humanitárias em África, é dada à sociedade internacional a legitimidade para intervir na
tentativa de salvar vidas e acabar com os atentados contra os direito humanos e as
liberdades individuais.
Cançado Trindade defende ferrenhamente, baseado na Declaração Universal
de 1948 a noção de que direitos humanos são temas de interesse global. Vinte anos após
a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Conferência de
Teerã sobre Direitos Humanos promoveu uma reavaliação global do assunto e
proclamou a indivisibilidade e interdependência de todos os direitos humanos (direitos
civis e políticos, econômicos, sociais e culturais), seguindo-se pela resolução 32/130
adotada em 1977 pela Assembléia Geral da ONU. Tendo em vista as mudanças
essenciais ocorridas na sociedade internacional – capacidade de destruição em massa,
descolonização, condições ambientais, crescimento demográfico, consumo de energia,
dentre outras - a resolução 32/130 empenhou-se no sentido de superar as velhas
categorizações de direitos e de proceder a uma necessária análise global dos problemas
existentes no campo dos direitos humanos.
25
4 INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA
4.1 DEFINIÇÃO DE INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA
Segundo James Rosenau (1969, apud JUBILUT, 2010, p. 32), “a
intervenção faz parte da realidade política internacional e o direito trava uma luta
inglória tentando reprimi-la”. Ocorre também que a própria definição de intervenção
não é consensual, sendo possível encontrar diversos e detalhados estudos específicos,
mas nenhum conhecimento geral. Isso levou Rosenau a uma tentativa de classificar as
intervenções em quatro diferentes grupos: (1) uma certa forma de comportamento; (2)
intenções subjacentes ao comportamento; (3) conseqüências decorrentes do
comportamento; (4) para igualá-la a certos padrões aos quais o comportamento deve se
igualar.
R. J Vincent (VINCENT, 1973, p. 54) apresenta ainda uma combinação
mais completa que aponta seis elementos fundamentais à intervenção: (1) o agente da
intervenção; (2) o alvo da intervenção; (3) a tipificação dos atos envolvidos; (4) os tipos
de intervenção; (5) o objetivo; (6) o contexto da intervenção.
O primeiro elemento agente da intervenção pode ser, de acordo com o
autor, um Estado, um grupo revolucionário, um grupo com o apoio do Estado, um grupo
sem o apoio do Estado, um grupo de Estados, ou uma Organização Internacional. Desta
forma, o agente interventor é sempre um grupo, e nunca um indivíduo isolado. Esta
definição se diferencia, por exemplo, da de Hildebrando Accioly, que limita a
intervenção a uma conduta estatal ao defini-la como “a ingerência de um Estado nos
negócios internos ou externos de outro Estado não dependente dele, com o objetivo de
ilhe impor certa maneira de proceder”. (ACCIOLY, 1996). A ampliação do conceito se
torna relevante por conta do crescente número de Organizações Internacionais no
cenário global, regionais ou internacionais, que praticam intervenções, adicionando a
este grupo os Grupos Terroristas, que utilizam da força para controlar e manipular
comportamentos. Soma-se a isto a questão da legitimidade, mais determinante quando a
intervenção acontece por meio de um conjunto de Estados e/ou Organizações
Internacionais, assim como no que diz respeito às intervenções unilaterais, legais
somente quando autorizadas pelas Nações Unidas.
26
O segundo elemento é o alvo da intervenção. Neste caso, torna-se
necessário definir o que é soberania para se verificar se há ou não intervenção.
Como explicado de forma detalhada no item 4.3.4, soberania é um conceito
cuja definição jurídica baseia-se na definição do Estado como o trinômio (1) população,
(2) território e (3) soberania. O Estado é independente e possui liberdade plena para
deliberar sobre as políticas que envolvem os cidadãos habitantes em seu território, assim
como para desenhar suas políticas internas e externas, sem que possa ou deva sofrer
intervenção estrangeira. A divisão entre o que é externo e o que é interno na doutrina da
soberania dos Estados demonstraram-se essenciais para o Direito Internacional Público,
uma vez que, sem a definição das atribuições de cada Estado, não seria possível regular
suas interações. (JUBILUT, 2010)
A soberania seria a fonte de inspiração da intervenção. Entretanto, esta
definição jurídica não é suficiente pois diminui a importância dos aspectos políticos.
Segundo Robert Jackson, a definição jurídica de soberania resulta do direito de
autodeterminação dos povos, discutido de forma mais detalhada no item 4.3.5. Para
Jackson, esta é a forma negativa de soberania, uma vez que limita a possibilidade de
outras entidades a ditarem as normas. Contrapondo-se a esta visão, o autor define a
soberania positiva, originária da ótica da ciência política. (JACKSON, 1987)
Seguindo a linha de Vincent, a soberania negativa (jurídica ou formal) é
aquela que garante aos Estados a proteção à intervenção, e é também, por isso, que o
autor caracteriza o Estado soberano como alvo da intervenção.
É importante também tratar do domínio reservado dos Estados. Segundo
Jubilut, entende-se por domínio reservado a esfera de atuação autônoma, ou seja, a
liberdade interna dos Estados para agir. Essa liberdade não é limitada, mas sim definida
pelo Direito Internacional. Esta noção surge, na verdade, com a criação da Liga das
Nações e, mais especificamente, com a institucionalização das relações internacionais
por meio da criação das Nações Unidas. É garantia de que os Estados (1) são soberanos
dentro de seus territórios; (2) tem poder de se autodeterminar, (3) somente devem
respeitar os limites impostos pelo Direito Internacional. Assim sendo, o domínio
reservado dos Estados diz respeito aqueles assuntos que não são regulados ou limitados
pelo Direito Internacional. Entretanto, uma vez que a definição do domínio reservado
dos Estados é feita pelo Direito Internacional, observa-se que o domínio reservado é
variável, e essa variação é o que representa a dificuldade no estabelecimento de um
27
conceito preciso de domínio reservado e, por isso, de intervenção nos assuntos internos
de um Estado.
Entretanto, apesar da relatividade do conceito, ele aparece unido a um
conceito universal de intervenção por conta de Resoluções da Assembléia Geral e de
decisões da Corte Internacional de Justiça que caracteriza a intervenção como a violação
aos direitos soberanos do Estado (ou seja, a questões que sejam de domínio reservado
dos Estados), ainda assim não esclarecendo de vez a definição do conceito de
intervenção.
Gerson de Brito Mello Boson define intervenção como sendo: Interferências de um ou mais Estados nos domínios internos de outro, com o intuito de impor-lhe a vontade dos interventores. Consiste a intervenção no fato de uma nação penetrar na vida interna de outra e, por usa propria autoridade, decretar a impor atos, medidas e deliberações que são da exclusiva competência dessa e outra e que, juridicamente, não interessam à vida externa da interventora, violentando-lhe na sua liberdade. (BOSON, 1994, apud JUBILUT, 2010, p. 36)
O terceiro elemento da intervenção é a característica dos atos envolvidos
em sua realização. Para isso, é necessário definir quais são as práticas que de fato
caracterizam uma intervenção e, para tanto, definem as mesmas com base em 3
aspectos: (1) são atos de interferência, (2) são atos de coerção; (3) são atos temporários.
A idéia de coerção não representa somente o uso da força em si. Na esfera
internacional, ela pode basear-se em poder político, econômico ou militar. Por isso,
tem-se entendido que para haver intervenção não é preciso que a coerção resulte na
conduta pretendida, isto é, que a vontade externa seja de fato imposta, mas seria
suficiente que existisse a intenção de impor essa vontade a um Estado soberano. A
intervenção seria uma ruptura da ordem internacional, uma vez que a ordem
internacional é, segundo Rosenau, o padrão previsível de relações que permite a gestão
da política internacional. Além disso, no que diz respeito aos atos de intervenção,
observa-se que estes têm caráter temporário, fator inerente à intervenção.
Ainda com relação às medidas coercitivas (feita pelo artigo 2.7), há um
importante elemento para se definir intervenção: a Carta da ONU não definiu a
expressão medidas coercitivas. A Corte Internacional de Justiça define que uma
intervenção é ilícita quando ela usa métodos de coerção relacionados à escolha do
sistema político, econômico, social, cultural e à formulação de política externa,
28
permitidos a cada Estado que sejam definidas livremente de acordo com o principio da
soberania estatal. O elemento de coerção que define a intervenção proibida é aquela que
usa a força na forma direta de ação militar ou na forma indireta, no sentido de apoiar
atividades armadas subversivas no interior de outro Estado. Assim, pode-se concluir que
a referência às medidas coercitivas é elemento essencial para definir o dever de não
intervenção.
O quarto elemento apresentado por Vincent diz respeito aos tipos de
intervenção. Para muitos estudiosos, a intervenção vai da guerra e da invasão do
território à pressão diplomática. Liliana Jubilut, citando Pierre Hassner, propõe que a
intervenção se inicia pela forma de vida e consumo das sociedades desenvolvidas, passa
pela intervenção direta, positiva ou negativa, verbal, diplomática, econômica,
administrativa ou judicial, culminando na intervenção militar. (JUBILUT, 2010, p. 38).
Quanto à legalidade, ela pode ser proibida (ilegal, que interfere por meio da coerção nos
assuntos de domínio reservado dos Estados) ou permitida (legal, autorizada pelo Direito
Internacional e conseqüentemente pelo Conselho de Segurança da ONU, são as
motivadas por legitima defesa, por violação de norma de Direito Internacional, como
dos direitos humanos, que enseja a intervenção humanitária).
No que diz respeito ao tipo de intervenção de fato, os três principais tipos
são (1) intervenção militar; (2) intervenção econômica; (3) intervenção política; (4)
intervenção ideológica. Esta ultima caracterização evidencia as intervenções imateriais,
ou seja, aquelas que não contam com a entrada efetiva no território, enquanto que as
intervenções materiais apresentam entrada militar. Dessa forma, têm-se um ato de
ingerência sempre que se agir em relação a um Estado soberano objetivando manipular
comportamentos, limitando o campo de ação dos entes internos e que o caráter
coercitivo da manipulação não significa apena so uso da força física, mas também o uso
de qualquer tipo de força que limite a liberdade de ação do Estado. Assim, a intervenção
imaterial dá-se por meio de intervenções políticas, econômicas e ideológicas.
Os principais exemplos de intervenção imaterial política são aquelas por
meio de discursos, relatórios e pesquisas como é o caso dos órgãos da ONU que se
dedicam à proteção dos direitos humanos. No caso de intervenção econômica,
destacam-se os investimentos estrangeiros, os auxílios financeiros, empréstimos e a
presença de multinacionais em vários Estados. Enquanto isso, a intervenção ideológica
ocorre quando há tentativa de difundir coercitivamente valores e cultura de um Estado.
29
As intervenções militares, por usa vez, podem ser classificadas (1) com base
na autorização para o recurso às armas em quaisquer situações – as intervenções
armadas – ou com autorização somente para proteger a vida e a segurança dos
interventores e (2) com base no nível de participação das tropas dos interventores nas
atividades. Essa classificação é o que distingue as operações de paz da ONU em
operações de manutenção da paz (peacekeeping), operações para feitura da paz
(peacemaking) e operações de construção da paz (peacebuilding).
Entretanto, Jubilut pontua a dificuldade na definição dos tipos de
intervenção, uma vez que um conceito de intervenção pode excluir outros e, por isso, se
demonstra frágil.
O quinto elemento é o objetivo da intervenção, ou seja, aquilo que se
pretende obter. Segundo Vincent, a legalidade da intervenção depende dos fatos que a
cercam e, de acordo com Jubilet, quando a intervenção é realizada de acordo com o
Direito Internacional em seus e meios e fins, é uma intervenção legal. Neste sentido, o
Direito Internacional se propõe a qualificar os comportamentos na esfera internacional e
a determinar os padrões de conduta dos sujeitos internacionais com o intuito de
viabilizar a existência e a cooperação mutua. Ou seja, ele é o responsável por
estabelecer uma ordem internacional e, neste sentido, é o Direito Internacional que
define o que é legal e o que é ilegal.
O sexto e ultimo elemento da intervenção segundo Vincent é o contexto em
que ela ocorre, ou seja, as relações internacionais. Para o autor, de acordo com o cenário
internacional, ter-se-á mais ou menos intervenções, porém mesmo assim a norma
continua sendo a de não intervenção.
Conclui-se, segundo Vincent, que a intervenção é:
Activity undertaken by a state, a group within a state, a group of states or na international organization which interferes coercively in the domestic affairs of another state. It is a discrete even having a beginning and an end, and it is aimed at the authority structure of the target state. It is not necessarily lawful or unlawful, but it does break a conventional pattern of international relations. (VINCENT, 1973, apud JUBILUT, 2010)
E, desta forma, segundo Jubilut, intervenção são:
Atos de interferência e coação empreendidos por um Estado, grupo de Estados, grupo não estatal (com ou sem ajuda estatal) ou Organização Internacional, contra outro Estado, objetivando manipular comportamentos
30
nesse, limitando o campo de ação e autonomia reservado pelo Direito Internacional aos entes internos (estatais ou não estatais), podendo tal interferência ser legal ou ilegal com base na violação ou não das regras do Direito Internacional. (JUBILUT, 2010)
Quanto à decisão sobre a intervenção, ela pode ser realizada de forma
unilateral (por um único Estado) ou de forma multilateral, envolvendo um grupo de
Estados ou uma organização internacional (como a ONU, a OTAN ou a OEA).
A intervenção requer aprovação para que seja percebida como legitima. O
apelo à inviolabilidade da soberania, proveniente sobretudo dos novos países
independentes, elevou extraordinariamente os custos políticos da intervenção unilateral,
estimulando a busca de autorização coletiva para que seja levada a efeito.
4.2 AUTODETERMINAÇÃO E A CAPACIDADE DE AUTODEFESA
Segundo John Stuart Mill, o Estado é uma comunidade provida de
autodeterminação, independente de sua organização política interna ser livre ou não,
democrática ou não, pois autodeterminação e liberdade política não são termos
equivalentes (MILL, 2000). Ele será autodeterminado mesmo que seus cidadãos lutem
e não consigam estabelecer instituições livres, mas só será privado de sua
autodeterminação se estas instituições forem estabelecidas por um país estrangeiro. Da
mesma forma que não se pode tornar um individuo virtuoso, os membros da
comunidade política não podem ser libertados do Estado por nenhuma força externa ou
forma de intervenção; eles devem buscar sua própria liberdade. Para Mill, a liberdade
política depende da virtude individual e esta, por sua vez, não pode ser criada por força
intrusa. Entretanto, em um Estado governado de forma tirânica, os cidadãos
provavelmente não terão a oportunidade de desenvolver “as virtudes necessárias para
criação da liberdade”, a não ser que “durante uma árdua luta para libertar-se pelos
próprios esforços que essas virtudes têm a melhor oportunidade de vir à tona” (MILL,
2000).
Para Waltz (2003), a severidade das conclusões de Mill sugere que essa não
é sua forma mais adequada. Mill acredita que a liberdade interna de uma comunidade
política só pode ser conquistada pelos membros dessa comunidade, fato que condena a
intervenção ao fracasso quando a serviço da construção da liberdade. Ele exclui a
31
possibilidade de qualquer tipo de intervenção estrangeira em substituição da luta
interna. Deste modo, a autodeterminação garantiria o direito a um povo de alcançar a
liberdade por meio de seus próprios esforços, se possível e, neste sentido, o principio da
não intervenção asseguraria que seu sucesso ou fracasso não fosse interrompido por
nenhum agente externo, mesmo em casos de violentas repressões.
A independência dos estados seria intrinsecamente merecedora de respeito.
Comunidades nacionais e indivíduos, ambos possuiriam o direito natural à
autodeterminação e a definir seus sistemas políticos de forma que levem em conta suas
respectivas circunstâncias históricas. Nesta visão comunitarista, o Estado-nação é
legítimo pelo fato de permitir a grupos de indivíduos expressar sua cultura, seus valores
e a percepção que têm de si mesmos. Nessas condições, o sistema de estados nacionais
propiciaria a diversidade de valores e culturas humanas e asseguraria, de acordo com
John Stuart Mill, como uma estrutura de preservação da pluralidade das "experiências
de vida".
A interpretação de Stuart Mill leva a duas conclusões: a primeira é de que os
cidadãos conseguem o governo que merecem ou estão “aptos”, caracterizando uma
espécie de seleção darwiniana pela qual os mais aptos sobreviveriam dentro de um
território, mesmo que fosse decorrente de maior habilidade no uso da força. Eles
deveriam estar dispostos a inclusive correr risco de vida para, em troca, conquistar sua
liberdade. (MOORE, 1968). Por outro lado, Mill posicionava-se contra o
prevalecimento da força, a não ser que esta recebesse reforços do exterior diante de um
povo disposto a enfrentar riscos. Seria possível interferir na “seleção natural” interna de
uma comunidade política por meio de intervenções contínuas e mantidas por um longo
período de tempo; no entanto, se a intervenção estrangeira tiver curta duração, não seria
capaz de interferir de modo decisivo nas forças de liberdade do país. Portanto:
Não é verdade que a intervenção seja justificada sempre que a revolução o for; pois a atividade revolucionária é um exercício de autodeterminação, enquanto que a interferência estrangeira nega a um povo as capacidades políticas que somente esse tipo de exercício pode gerar. Essas são verdades expressas na doutrina jurídica da soberania, que define a liberdade dos Estados como sua independência em relação ao controle e coação do estrangeiro. De fato, nem todo Estado independente é livre, mas o reconhecimento da soberania é o único meio que temos de estabelecer um campo de ação dentro do qual seja possível lutar pela liberdade e (talvez) conquistá-la. É esse campo de ação e as atividades que se desenvolvem no seu interior que queremos proteger; e nós os protegemos por meio da delimitação territorial que não pode ser transposta, direitos que não podem ser violados. Há atos dos quais os Estados soberanos não podem ser salvos,
32
mesmo que pareça ser para seu próprio bem. (MILL apud WALTZ, 2003, p. 150)
Entretanto, a dificuldade está em como categorizar quando uma comunidade
política possui de fato autodeterminação, ou seja, preenche os requisitos da não
intervenção, uma vez que a lei não é categórica com relação a isso.
John Rawls também parte da idéia de comunidades políticas independentes,
além de defender os princípios de justiça e da existência de um consenso moral
aplicados aos representantes dos povos, embora estes possam ter visões morais
diferentes e conflitantes. O resultado disso aproxima-se da visão pluralista tradicional da
sociedade internacional (limites à violência, não-intervenção, respeito pelos tratados,
etc), pela qual alguns direitos humanos essenciais devem ser garantidos
internacionalmente. Entretanto, tais direitos seriam limitados uma vez que, para Rawls,
os direitos ao governo democrático e à educação não integram estes direitos humanos
internacionais. (RAWLS, 1971)
A proibição à violação de fronteiras está sujeita à suspensão em três tipos de
casos, dos quais os dois primeiros foram estudados por Mill (MILL apud WALTZ,
2003):
- Quando o que está em questão é uma secessão ou “libertação nacional”, cuja luta
militar está amplamente engajada na luta pela independência;
- Quando o que está em questão é uma contra – intervenção, ou seja, quando as
fronteiras de um Estado já foram violadas por um país estrangeiro, mesmo que essa
intervenção já tenha sido solicitada por uma das partes envolvidas na guerra civil;
- Em casos de escravidão ou massacre, ou seja, quando a violação dos direitos humanos
seja terrível e deste modo a idéia de autodeterminação pareça absurda.
Os argumentos de intervenção em torno destes três casos abrem caminho
para as guerras justas que não são travadas em nome da legítima defesa.
O Estados agentes da intervenção deverão demonstrar que seu próprio caso é radicalmente diferente do que consideramos ser a tendência geral dos casos, em que a liberdade ou perspectiva de liberdade dos cidadãos é mais bem servida se os estrangeiros lhe prestarem apenas apoio. (WALTZ, 2003)
Um governo legítimo seria aquele que consegue travar suas próprias guerras
internas. O resultado de guerras civis deveria refletir não a força dos Estados
33
intervencionistas, mas o alinhamento das forças locais. Entretanto, existem casos em
que não se quer o equilíbrio local. Neste caso, se as forças que predominam dentro de
um Estado estiverem empenhadas em escravizar ou massacrar adversários políticos,
minorias religiosas e étnicas, o conceito defendido por Mill de autodeterminação não
teria validade, uma vez que a possibilidade de não haver defesa seria grande e, por isso,
a ajuda internacional tornar-se-ia necessária. E, o mais significativo, uma vez que o
governo se volta contra o seu próprio povo por meio de uma violência generalizada, não
se pode considerar que haja uma comunidade política à qual seja possível aplicar a idéia
de autodeterminação.
Para Waltz, o que parece é que Estados não enviam soldados para invadir
outros Estados apenas para salvar vidas. No processo decisório nacional, a vida de
estrangeiros não teria tanta importância; por isso, o autor recomenda investigar a
importância moral de motivações diversas, sugerindo que, na melhor das hipóteses, as
intervenções são parcialmente humanitárias.
Neste sentido, a intervenção humanitária seria justificada quando fosse uma
reação a atos “que abalam a consciência moral da humanidade”, não de acordo com a
consciência dos líderes de Estado (já que, provavelmente, estes serão obrigados a
reprimir seus sentimentos ou focar-se em outras tarefas), mas sim com a de homens e
mulheres comuns. Considerando que seja possível uma justificativa consistente de
acordo com estas convicções, Waltz acrescenta que a postura de passividade
representada pela “espera da ação da ONU” fosse descartável, podendo e devendo os
Estados agirem por si só.
Para Waltz,
Qualquer Estado capaz de impedir a carnificina tem o direito, no mínimo, de tentar reagir. O paradigma legalista de fato exclui esforços dessa natureza, mas isso apenas sugere que o paradigma, sem revisões, não tem como dar conta das realidades morais da intervenção militar. (WALTZ, 2003)
Seguindo a revisão do paradigma, os Estados poderiam ser invadidos e
guerras legítimas poderiam ser iniciadas para auxiliar movimentos separatistas (desde
que demonstrem sua representatividade) para contrabalancear intervenções anteriores
por parte de outras potências e para salvar povos que estão sob ameaça de massacre. Em
cada um dos casos, permitimos e, depois, não condenamos ou louvamos essas violações
34
da soberania estatal porque elas defenderiam os valores da vida individual e da
liberdade da comunidade.
Para Waltz, verdadeiros requisitos para intervenções justas são limitados.
Como as limitação costumam ser ignoradas, alega-se às vezes que seria melhor adotar
uma regra de absoluta de não intervenção, mas a norma absoluta também seria difícil de
considerar uma vez que não teríamos critério para julgar o que aconteceria depois.
Portanto, para Waltz, dispomos de critérios que refletem compromissos
profundos e valiosos com os direitos humanos, embora sejam difíceis e problemáticos
em sua aplicação.
Essa noção está aparentemente incorporada nas duas convenções
internacionais da ONU sobre Direitos Humanos, nas quais o direito de
autodeterminação dos povos antecede os direitos individuais reconhecidos pelas
mesmas convenções.
Admitindo as noções de autodeterminação e não intervenção, os argumentos
de Walzer e Mill podem ser entendidos de duas formas . O argumento defende que a
não intervenção estrangeira é uma condição necessária para o gozo dos direitos
humanos. Sem dúvida, existe uma relação causal entre a não intervenção e a liberdade
individual. Mesmo assim, sendo cidadãos e parte de uma comunidade política, o direito
internacional indiretamente protege os direitos individuais dos cidadãos ao proteger os
estados nacionais.
Outra conseqüência é que, de fato, os povos que apelam à intervenção
externa para derrubar governos tirânicos podem não conquistar a liberdade que
procuram. Mill afirma que, após uma intervenção humanitária “é uma questão de tempo
para aquele povo ser escravizado” (MILL, 2000). O argumento aborda um problema
relevante, ao chamar atenção para o fato de que as consequências das intervenções
podem ser diversas de suas intenções. Mill, com isso, não abandona inteiramente a
preocupação com os diretos humanos. Ele apenas faz a afirmação empírica de que os
direitos humanos podem somente ser definidos estabelecidos e aceitos como resultado
de um processo político doméstico.
De acordo com o direito internacional convencional, deve-se fazer uma
distinção entre autodeterminação interna e externa.. Neste sentido, Beitz explica que:
35
A diferença entre esses dois aspectos é que as não intervenções impõem uma exigência negativa de que outros estados não interfiram, ao passo que a autodeterminação impõe uma exigência positiva que outros estados (especificamente o poder dominante ou colonial) parem de exercer controle sobre entidades que reivindicam o direito de lhe ser reconhecida o status de estado independente. (BEITZ, 1979)
4.3 O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS ESTADOS
Firmado em 1648, o Tratado de Vestfália foi um marco para a sociedade
européia daquela época na medida em que restabeleceu a paz na Europa, inaugurando
uma nova fase ao proporcionar a vitória da igualdade jurídica dos Estados. Tal
igualdade extinguiu o poder dominador da Igreja e entregou aos Estados o direito e o
poder de negociarem livremente como únicos responsáveis nas políticas internacionais.
Até o século XV, compreendia-se por soberania um poder ilimitado e
perpétuo, que se sujeitava apenas às leis divinas concentrava-se por total nas mãos do
governante, vez que os súditos abdicam de seu poder soberano e o transferem
inteiramente ao representante divino.
No século XVI, alguns autores, principalmente Thomas Hobbes, passam a
divulgar idéias contrapostas à origem divina do poder, afirmando sua origem popular
arraigada num contrato político: "a soberania, que residia primitivamente em todos os
homens, passa a ser propriedade da autoridade criada pelo contrato político. Essa
autoridade, que pode ser um homem ou alguns homens, é um mandatário com poderes
ilimitados, indiscutíveis e absolutos. O contrato que criou o poder, ou o Estado, não
pode ser jamais rescindido, porque isso implicaria na humanidade voltar à anarquia do
estado de natureza. O Estado é um Leviatã, monstro alado, que sob suas asas poderosas
abriga e prende para sempre o homem” (HOBBES, 1997). Neste sentido, Thomas
Hobbes afirma que a soberania é absoluta, uma vez que ocorre total transferência dos
poderes dos súditos para o soberano.
Seguindo a linha de Hobbes, a visão de poder incontestável e supremo que
estava no âmago da soberania fez com que surgissem também outros pensadores que
discordavam desta noção. Debatendo a legitimidade do poder soberano, Leon Duguit
analisou a questão da soberania fazendo uma crítica à sua origem divina, que, segundo o
autor, o Estado legitima o abuso do poder uma vez que este vem de Deus.
36
Com o passar dos anos, ocorreu uma mudança conceitual do termo
soberania de acordo com as novas configurações de organização do poder. A mais
disseminada definição de soberania, trazendo características de indivisibilidade,
inalienabilidade, imprescindibilidade e unidade por meio da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, firmou-se em 1789 e foi adotada por várias Constituições.
Soberania é considerada, atualmente, sinônimo de poder que não reconhece
outro superior. No Estado Moderno, a soberania ou é sócio-jurídico-política, ou não é
soberania, e é exatamente esta indivisibilidade que permite distingui-la como uma forma
peculiar de poder, característica do Estado Moderno. Um Estado soberano é
independente, autônomo, tem poder supremo e a realização de sua vontade é garantida,
se necessária, pela força coercitiva de que dispõe a entidade estatal.
O princípio da soberania afirma que o Estado possui liberdade e
independência para desempenhar os atos que lhe agradar, dentro dos limites fixados
pelo Direito Internacional, sem que necessite do consentimento de qualquer outro
Estado. A soberania constitui uma competência territorial, bem como uma competência
sobre os indivíduos neste território, outorgado e limitado pela ordem jurídica
internacional. O Estado é, portanto, um sujeito de Direito Internacional com capacidade
plena.
O direito à independência ou soberania manifesta-se no aspecto interno e
externo do Estado. No primeiro caso, ele é exercido nos três diferentes poderes do
Estado: no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Ele é a consignação do direito de
autodeterminação, ou seja, o direito do Estado de ter o governo e as leis que bem
entender sem que sofra interferência estrangeira. No plano externo, o direito à
independência e à soberania se demonstra no: a) direito de convenção; b) direito de
legislação e c) direito ao respeito mútuo.
O reconhecimento da soberania dos Estados pode ser encontrado na
primeira linha do artigo (2) da Carta da ONU, que institui "o princípio da igualdade
soberana de todos os seus membros", e também na linha 7, que estabelece “o princípio
de não-intervenção” explicitando a existência de assuntos que são de competência
exclusiva do Estado, ou seja, da jurisdição doméstica do Estado. Dessa mesma forma, a
Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA) também consagra a existência de
um domínio reservado dos Estados, como pode ser observado em seu artigo (1):
37
"Nenhuma de cujas disposições a autoriza a intervir em assuntos da jurisdição interna
dos Estados membros".
Entretanto, a grande questão é saber quais são os assuntos da competência
exclusiva dos Estados e que pertencem ao seu domínio reservado. Domínio reservado é
um conceito jurídico que determina as atividades estatais cuja competência do Estado
não está vinculada pelo direito internacional. Até 1919, quando do estabelecimento da
Liga das Nações, procurava-se um critério material para determinar o que constituiria o
domínio reservado dos Estados. Dessa forma, temas relacionados à nacionalidade ou ao
regime político seriam de competência exclusiva dos Estados, impedindo assim a
ingerência dos demais Estados nesses assuntos. Entretanto, não se demonstrou viável
determinar, de maneira segura, o conteúdo do domínio reservado porque não se revela
tarefa possível divorciar as atividades internas e externas do Estado de modo objetivo.
Dessa forma, as atividades que constam como domínio reservado são aquelas que ainda
não se tornaram objeto de compromisso internacional.
No entanto, o princípio da soberania vem sofrendo progressivas
modificações no sentido de atender às necessidades de uma nova ordem jurídica
internacional. Não é compatível hoje em dia referir-se ao termo soberania como um
instrumento de poder ilimitado, incontestável, intocável e indelegável uma vez que o
cenário global atual demanda um conceito de soberania que se adapte às necessidades
do mundo, acrescentando-se a ela uma idéia de renúncia parcial interna ao Estado de
seu poder soberano. Atualmente, a soberania é limitável e deve corroborar com a atual
imposição internacional de existência de uma interdependência entre os Estados,
visando a paz e a cooperação internacional.
No mundo contemporâneo, os direitos humanos já não fazem parte apenas
da jurisdição doméstica dos Estados. Neste sentido, há consenso em violar o princípio
da soberania quando o objetivo é garantir a proteção de direitos fundamentais diante da
necessidade de defesa e promoção da dignidade.
Neste sentido, existe hoje por parte de muitos juristas, como Flávia
Piovesan, o consenso de que o princípio da soberania dos Estados não deve ser
priorizado quando o objetivo é defender os direitos humanos de pessoas expostas a
sofrimentos e desrespeitos em crises humanitárias sujeitas à proteção internacional.
Por outro lado, Maurice Flory observa que a diversidade de situações torna
complexa a definição de assistência humanitária. Esta se caracterizaria pela
38
neutralidade, e a neutralidade significaria que não poderia haver defesa de uma das
partes, mas também não significaria o silêncio na defesa dos direitos das vítimas.
Contudo, na prática, muitas vezes os estados usam a sua ação para fins políticos.
Enquanto isso, autores como André Conte-Sponville criticam as intervenções por
considerarem uma violação da autodeterminação do Estado e servirem de pretexto para
esconder interesses próprios que não possuem relação com a defesa dos direitos do
homem. Esta atitude, segundo esta linha de pensamento, poderia servir de pretexto para
a prática de abusos e alavancagem política. Quem defende este tipo de intervenção são
alguns poucos Estados ocidentais que geralmente tiveram a oposição dos antigos países
socialistas e dos países de terceiro mundo
4.4 INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA UNILATERAL
A proibição do emprego da força tem sido cada vez mais contestada por
intelectuais, políticos e especialistas que afirmam que governos envolvidos na
organização de violência (homicídio, estupro e expulsão) contra seus próprios cidadãos
não deveriam ser imunes à intervenção militar. Acreditando que o Conselho de
Segurança da ONU não possui condições de enfrentar problemas como estes - e de que
a responsabilidade é dos países membros mas também da própria ONU – os adeptos
desta teoria defendem a “intervenção humanitária unilateral”, ou seja, o direito de
intervir por razões humanitárias sem a autorização do Conselho de Segurança. (BYERS,
2033)
Os que preconizam este direito invocam diversos precedentes, entre eles a
intervenção da Índia no Paquistão (1971) e a intervenção do Vietnã no Camboja (1978).
Uma breve análise mostra que nenhum dos países que intervieram invocou justificativas
de caráter humanitário. Esta quase inexistência de opinio júris (a convicção de que uma
ação foi realizada por que era uma obrigação legal) privou a prática de Estado de
qualquer capacidade de alterar o direito internacional para abrir caminho a um direito de
intervenção humanitária unilateral.
Até mesmo a justificativa política de crise humanitária enfrentou forte
oposição por parte de outros países. No Conselho de Segurança da ONU, a posição
39
defendida era que, embora a atitude de emprego de força por parte do Paquistão fosse
considerada um erro terrível, não justificaria os atos da Índia de intervir militarmente
ameaçando a integridade territorial e a independência do Paquistão.
Entretanto, ainda que motivos humanitários tivessem importante espaço nas
justificativas políticas indianas, a retórica foi rapidamente substituída pelo argumento de
legítima defesa. Isto porque a Carta das Nações Unidas proíbe o uso da força, exceto em
legitima defesa. Desse modo, nenhuma outra finalidade poderia justificar o emprego da
força militar pelos Estados.
De acordo com Byers (2003),
Ainda que houvesse considerável fundamentação de prática de Estado e opinio júris em favor de um direito de intervenção humanitária unilateral, o direito internacional a este respeito poderia manter-se inalterado. Como as clausulas estabelecidas em tratados prevalecem sobre o direito consuetudinário internacional, qualquer norma consuetudinária autorizando a intervenção seria insuficiente para sobrepor-se ao Artigo (2) da Carta da ONU.
Deste modo, de acordo com o Artigo (2) da Carta da ONU, qualquer
intervenção humanitária unilateral só teria efeito se preenchesse a condição de jus
cogens, norma de natureza imperativa que se sobrepõe a cláusulas conflitantes de
tratados.
Seria necessário um teor muito maior de prática de Estado e de opinio juris
para que fosse possível considerar que um direito de intervenção humanitária unilateral,
considerado como exceção à regra de proibição ao uso da força, tivesse adquirido força
legal. Ainda assim, nenhuma nova norma de direito consuetudinário internacional seria
capaz de se sobrepor ao Artigo 2 (4) da Carta da ONU, a menos que de alguma forma
adquirisse status de jus cogens. Por estes motivos, o significado das preocupações
humanitárias para o direito internacional no que diz respeito ao recurso à força
permanece no nível da vontade política – e da justificação moral e política, o que
abrange aquilo que hoje se identifica como “responsabilidade de proteger”.
40
4.5 DISCUSSÕES ACERCA DA LEGALIDADE DA INTERVENÇÃO
Segundo Waltz (2003), o maior perigo enfrentado pela maior parte das
pessoas no mundo atual provém de seus próprios Estados, e que o principal dilema da
política internacional é saber se as pessoas em perigo devem ser resgatadas por forças
militares de fora. Ele afirma ainda que, embora a idéia de intervenção humanitária já
constasse nos manuais de direito internacional, ela passou a ser de fato evocada como
fundamento lógico para a expansão imperialista.
A derrubada de grandes impérios, o desenvolvimento dos Estados nacionais,
as disputas territoriais e a frágil situação de minorias religiosas e étnicas produziram
uma forte política de identidade, mas também medo e desconfiança generalizada. Na
visão de Hobbes, seria a expressão da “guerra de todos contra todos” ou, na prática, de
alguns contra alguns, sendo que um dos lados possa ser o próprio Estado o organizador
da violência, como é o caso de limpezas étnicas justificadas no “direito” à pátria de seus
antepassados.
Quando identificada uma situação como esta, o desafio é definir quanto
sofrimento humano o mundo está disposto a observar antes de intervir. Segundo Waltz
(2003), aparentemente é fácil concordar que limpeza étnica e assassinato em massa
devem ser impedidos, porém não é fácil calcular como se pode fazer isso. Quem deve
intervir? Com que autoridade irá intervir? Usará força de que tipo e de qual grau? Quem
arcará com os custos da intervenção? O que caracteriza uma situação de emergência
humanitária?
Esta é sem dúvida uma das questões mais polêmicas quando se trata do tema
ingerência humanitária, uma vez que a tarefa de se definir o que seria uma situação de
emergência humanitária não é simples pelo fato de ainda não ter uma definição objetiva
e por levar em conta fatores subjetivos.
Em geral, considera-se situação de emergência humanitária que se configure
a necessidade de intervenção humanitária aquela que apresenta pelo menos dois fatores:
violação maciça de direitos humanos e que esteja ocorrendo por um período de tempo
prolongado. É uma situação de extremo sofrimento humano, provocado ou não pelo
governo nacional, na qual direitos humanos estão sendo violados de forma maciça e por
41
tempo prolongado de forma que (1) o Estado soberano seja o principal ator gerador a
violência; (2) não é capaz ou simplesmente não atua na proteção de tais direitos e, por
ser a dignidade da pessoa humana preocupação da sociedade internacional, torna-se
legitimamente necessária uma iniciativa de órgãos internacionais. (PIOVESAN, 2007)
No entanto, atualmente já se considera também situações de emergência
humanitária aquelas que não cumprem o requisito de tempo prolongado, como foram os
casos do Sri Lanka, da Indonésia e da Somália.
Para Waltz, quando crimes que chocam a consciência moral da humanidade
forem cometidos, qualquer Estado que tenha condições de impedi-lo deverá fazê-lo, ou
no mínimo terá o direito. Entretanto, não se tem como fazer com que as intervenções
dependam da pureza moral de seus agentes, uma vez que na política, não há nada que se
possa chamar de vontade pura.
Para o autor, existem intervenções e recusas unilaterais justificadas e
injustificadas. A recusa justificada, como foi no caso do Timor Leste, é perturbadora
sob o aspecto moral; enquanto isso, a intervenção justificada necessária para impedir
crimes se apresenta como um dever imperfeito, uma vez que os Estados não estão
moralmente obrigados a tal e, por isso, não cabe a nenhum ator em particular o dever de
agir. E de fato muitas vezes não o fazem, pois o custo seria alto, além de que possuem
outras prioridades. Neste sentido, Waltz afirma que é preciso se preocupar com as
ocasiões em que a intervenção não acontece e buscar agentes para atuar com mais
coerência do que os Estados isolados ou alianças de Estados.
Uma vez que a intervenção humanitária implica na quebra da soberania
estatal, tornar-se-ia natural legitimar as ações por meio de um organismo internacional
como a ONU ou o Tribunal Internacional. Por um lado, a política das Nações Unidas
não seria mais edificante do que a política de muitos de seus membros, e a decisão de
intervir coletiva e global ou individual é tão impura quanto a vontade individual, além
de ser mais lenta. Soma-se a isso o fato de que, se fosse necessário a aprovação da ONU
para intervenções como no Camboja ou em Uganda, nada teria sido feito. Por outro
lado, a decisão sob o cerne da ONU teoricamente seria melhor que a de um Estado
isolado por ser mais democrática e contar com o consenso mais amplo.
Enquanto a ONU não se estabelece como regime global com um exército
global e tampouco exerce atividades rotineiras de intervenção humanitária, a decisão
sobre a intervenção ou não continuará por meio de debates políticos e morais em um ou
42
mais Estados soberanos e, inevitavelmente, a desconfiança e a busca de seus próprios
interesses continuarão a contaminar muitos destes debates. Para Waltz, ainda não há
como evitar a ação de um Estado a agir de forma unilateral.
Segundo ele, um dos principais testes das intenções das intervenções
humanitárias decorre do tempo em que o Estado que interveio permanece no país após
vitória militar e o fim dos massacres étnicos. Por um lado, a rápida retirada pode ser
uma prova de que os países não estão em busca da dominação política e econômica do
país em questão; por outro, às vezes é necessário a permanência, com o objetivo de
continuar garantindo a paz e estabilidade recém conquistadas, podendo esta também ser
usada como instrumento de dominação e pretexto para perpetuar uma situação de
domínio.
Fonseca Junior observa que a "diversidade de situações" torna difícil a
definição de assistência humanitária. Esta se caracterizaria pela neutralidade. A
neutralidade significa que não pode haver defesa de uma das partes, mas não significa
silêncio na defesa dos direitos das vítimas. Contudo, na prática, muitas vezes os estados
usam a sua ação para fins políticos.
André Conte-Sponville afirma que "humanitário não conhece amigos e
inimigos, nem culpados e inocentes ele só conhece as vítimas". Para Celso de Mello,
apesar da grande luta, no presente século, em favor da proteção internacional dos
direitos do homem, não é lícita a intervenção humanitária por que nenhuma organização
internacional está autorizada a intervir em questões de defesa dos direitos humanos,
uma vez que estes fazem parte da jurisdição domestica dos Estados. A ONU poderia
intervir, de acordo com os princípios da Carta, apenas com o intuito de preservar a paz e
segurança internacional, e não propriamente a violação dos direitos humanos. Para o
autor supracitado, a intervenção humanitária serviria de pretexto para encobrir
interesses próprios que não teriam relação com a defesa dos direitos humanos, sendo
esta um pretexto para praticar abusos. Historicamente, os países que geralmente se
posicionaram contra a intervenção foram os socialistas e os de “terceiro mundo”.
Entretanto, o autor considera a internacionalização dos Direitos Humanos um fato,
evidenciado pela afirmação da Corte Internacional de Justiça e pela transformação deles
em matéria costumeira. Ainda assim, a intervenção que use coerção seria ilícita. A
definição final é de os direitos humanos são matéria de jurisdição doméstica mas estão
sob controle internacional. (MELLO, 1990)
43
Há juristas de Direito Internacional, geralmente adeptos da Teoria
Relativista, com destaque a Grigory Tunkin, que são defensores ativos do princípio da
não intervenção, do princípio da soberania e, portanto, contrários à noção de
intervenção humanitária, em todos os casos. Os defensores não admitem exceções a
estes princípios, uma vez que nem mesmo a proteção dos direitos humanos explicaria a
intervenção em uma nação soberana. Segundo Tunkin, as intervenções humanitárias são
ilegais e ilegítimas, disfarçadas pela defesa da dignidade humana e pela mantença da
paz e segurança mundial. Carecem precisamente do caráter humanitário, uma vez que se
caracterizam por desrespeitar a igualdade soberana das Nações.
Os defensores dessa teoria negam a universalidade dos direitos humanos.
Estes argumentam que qualquer tentativa de padronizar os direitos humanos e do que
constituiria uma situação de emergência humanitária passiva de receber tratamento
universal estaria culturalmente enviesada e que, dessa forma, os Estados mais poderosos
atenderiam de forma seletiva às situações de emergência humanitária.
Os Estados estariam sujeitos a decidir se uma matéria é ou não de
competência exclusivamente nacional de acordo com as convenções e tratados firmados
e à ela relacionados. Dessa forma, a liberdade do Estado é restrita pelos tratados por ele
assinados e ratificados.
Neste sentido, os defensores da não intervenção e da soberania dos Estados
afirma que nenhum órgão internacional poderia intervir em matéria de violação de
direitos humanos no interior de um Estado se esta intervenção vier a violar a soberania
da nação. De acordo com esta teoria, Direitos Humanos é assunto de jurisdição
doméstica.
Entretanto, outros juristas afirmam que está presente no Direito
Internacional a noção de jurisdição internacional dos direitos humanos, não havendo,
portanto, domínio reservado dos Estados quando se trata destes direitos: "O Instituto de
Direito internacional, por meio de sua resolução de 13 de setembro de 1989 (sessão de
Santiago de Compostela) consolidou o entendimento visto acima, afirmando que
nenhum estado pode se subtrair a sua responsabilidade internacional por violação de
direitos humanos de pessoa que se encontre sob sua jurisdição, pela alegação de que a
matéria é essencialmente assunto de sua jurisdição interna" [25].
Ian Brownlie comenta que a retórica de intervenção humanitária nada tem
de humanitária, uma vez que esse discurso não passa de uma escusa de países ricos para
44
legitimar o fim de dominar países pobres, dando ensejo à noção de que as intervenções
ditas humanitárias seriam semelhantes às intervenções colonialistas.
Por outro lado, a teoria universalista defende elevação dos direitos humanos
a um patamar supra-estatal, conferindo à dignidade da pessoa humana o caráter
internacional. Para os adeptos dessa teoria, basicamente já foi desenvolvido entre a
comunidade internacional um senso comum do que seria uma crise humanitária
emergencial e que, assim sendo, existiria discernimento dos casos que representariam
situações passíveis de intervenção com o objetivo de proteção dos diretos humanos que
estejam sendo violados em larga escala.
Os adeptos da teoria universalista defendem a universalidade dos direitos
humanos, apoiados pelos vários instrumentos que defendem sua abrangência
internacional, a iniciar-se pela própria Carta das Nações Unidas.
Segundo Piovesan (2007), todos os seres humanos possuem o direito de não
serem tiranizados por seus governantes. Entretanto, não debate-se apenas se os
indivíduos possuem estes direitos, mas também a preocupação de estabelecer um núcleo
fundamental de direitos que qualquer sociedade deveria possuir, de tal modo que caso
esses direitos sejam violados maciçamente, outros Estados poderiam intervir para
proteger os indivíduos da opressão. Para os universalistas, não há dúvidas de que a
dignidade da humana não é assunto de jurisdição exclusiva dos Estados soberanos,
assim como a proteção dos direitos humanos é fator essencial para a convivência dos
povos na comunidade internacional.
De fato, legitimados pela Declaração Universal de Direitos Humanos de
1948, os Estados poderiam e teriam a responsabilidade de intervir em territórios onde os
abusos estivessem tendo lugar. O universalismo confirmou-se com a proclamação da
Declaração de Viena, que, em seu artigo 5º, enfatiza que os direitos humanos são
universais, indivisíveis e interdependentes, e que a sociedade internacional deve tratar
os direitos humanos globalmente, de maneira justa e equânime.
As intervenções humanitárias, intimamente ligadas à noção de paz e
segurança mundial, legitimam-se justamente por serem instrumentos da sociedade
internacional para garantir que direitos humanos de indivíduos não sejam violados, ou
para cessar as suas violações, visando com fim único a proteção da dignidade humana.
Estas ações são permitidas apenas em situações de maciço sofrimento
humano, que estejam ocorrendo por um longo período de tempo, a serem avaliadas pela
45
Comissão de Direitos Humanos e decidas pelo Conselho de Segurança das Nações
Unidas, que irá deliberar sobre a necessidade ou não de uma intervenção humanitária,
pois é o órgão responsável pela manutenção da paz e segurança mundiais, sendo ele o
titular do direito de usar medidas coercitivas.
Ainda, as intervenções humanitárias estão previstas no Capítulo VII da
Carta das Nações Unidas, que prevê a possibilidade de intervenções em nações
soberanas mesmo quando o assunto é de jurisdição doméstica dos Estados, como a
violação dos direitos humanos.
A Carta das Nações Unidas tem como fim último a defesa dos direitos
humanos individualmente desrespeitados e, ao longo da década de noventa esta idéia foi
reafirmada pelo Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, defensor da intervenção
humanitária a favor das populações sempre que os seus direitos humanos estiverem
sendo ameaçados, emergindo uma nova doutrina de soberania do indivíduo face à
soberania estatal.
O que é importante para as Nações Unidas, como assegurado pelo atual
Secretário Geral, é a proteção dos direitos humanos, que, por si só, já é subsídio
suficiente para legitimar uma intervenção supra-estatal no intento de resguardar e
promover estes direitos.
4.6 INGERÊNCIA HUMANITÁRIA
O sistemático desrespeito de um governo nacional aos direitos humanos,
conflitos internos e catástrofes naturais dariam à comunidade internacional mais do que
o direito, mas o dever de intervir visando uma assistência humanitária às vítimas ou o
fim aos desmandos do Estado infrator. Essa assistência humanitária seria dada por
Estados, organizações internacionais e/ou organizações não-governamentais.
A idéia de ingerência significa que o Estado não é o único a poder socorrer
suas vítimas. Este conceito, fundamentado no respeito aos direitos humanos e no direito
à vida, corrobora a assistência humanitária como um dos direitos do homem, vez que
contribui aos direitos à vida e à saúde, os quais constituem uma das mais elevadas
finalidades do Direito Internacional Público.
46
A evolução histórica do conceito passa pela união da ingerência humanitária
à denominação tradicional de intervenção humanitária. De acordo com a Corte
Internacional de Justiça, no Caso das atividades paramilitares e militares dos EUA na
Nicarágua a assistência humanitária não representou uma intervenção, já que “não
poderia haver dúvidas de que a estrita provisão de auxílio humanitário para pessoas ou
forças em outro país, quaisquer que sejam sua afiliação política ou seus objetivos, não
pode ser considerada uma intervenção ilegal ou de qualquer modo contrária ao direito
internacional” (JUBILUT, 2010). Ainda que esta modalidade de ingerência tenha sido
considerada legal, outras não são e, portanto, torna-se necessário maiores distinções
sobre o tema.
A defesa ao "dever" de intervenção considera que:
a) A assistência humanitária é essencial para os direitos de respeito à vida e
à saúde;
b) O Homem tem direito à assistência humanitária e assim deve ser
reconhecido;
c) O homem tem o direito de solicitar esta assistência;
d) O Estado tem que respeitar os direitos das vítimas.
Um marco importante foi em 1990, quando a Assembléia Geral da ONU
aprovou uma resolução consagrando os "corredores de urgência humanitária",
permitindo o acesso às vítimas de uma catástrofe natural. Neste sentido, pela primeira
vez, em 1991, o Conselho de Segurança solicitou "corredor de urgência" para socorrer
os curdos, posteriormente na Croácia e também no Sudão.
Enquanto isso, ainda em 1991, a Assembléia Geral afirmou que cabia ao
próprio Estado colocar em funcionamento e coordenar o auxílio humanitário que lhe
fosse fornecido, em seu território. Em 1992, o Conselho de Segurança determinou que
os organismos humanitários tivessem acesso aos campos de prisioneiros da ex-
Iugoslávia. Em 1999, o então Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, propôs a limitação
da soberania em favor dos direitos humanos.
Celso D. de Albuquerque Mello faz uma distinção entre intervenção e
ingerência humanitária: a primeira seria exercida por Estados e condenada pelo Direito
Internacional, enquanto a última por organizações internacionais e organismos
humanitários não-governamentais seria legal. Essa legalidade se deve, de acordo com o
47
autor, por causa da discricionariedade do Conselho de Segurança em determinar o que
representa ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão, conforme afirma o artigo 39
da Carta da ONU. É certo que esta discricionariedade encontra limites: o órgão deve
observar os princípios da Carta (artigo 24, parágrafo 2) nessa função de “guardião da
paz e segurança internacionais”. O princípio da não-intervenção (art. 2.7 e a
interpretação mais estendida que obteve com a Declaração de 1970), na qualidade de
um dos princípios da Carta, deve, portanto, ser observado. O problema é que este
mesmo dispositivo estabelece como ressalva as medidas coercitivas do Capítulo VII, no
qual se insere a referida função do Conselho de Segurança. Em outras palavras, a
competência do Conselho, para definir uma ameaça à paz e segurança, encontra
limitação no princípio da não-intervenção, eeste princípio é limitado pela competência
do Conselho em definir uma ameaça à paz e segurança internacionais. Trata-se de um
círculo vicioso.
Por outro lado, o direito ou dever de ingerência não está codificado em
nenhum local. As intervenções ditas humanitárias têm causado inúmeras vítimas, como
a dos EUA no Panamá, em 1989. A conclusão que podemos apresentar é que o direito
de ingerência é perigoso para os países do Terceiro Mundo, vez que a defesa dos
direitos do homem pode encobrir outros interesses. No atual sistema de Direito
Internacional não há o direito de intervenção para a defesa dos direitos do homem; este
fundamento pode ser encontrado no direito natural, mas não no direito positivo. A única
"intervenção" válida é a empreendida sob os auspícios da ONU, enquanto que as demais
organizações possuem apenas o direito a uma "intervenção econômica e à legítima
defesa coletiva". Na verdade, nestes casos não se deve falar em intervenção, mas em
ação de polícia internacional, ou, no caso de intervenção econômica.
48
6 ESTUDO DE CASO: TIMOR LESTE
O arquipélago do Timor está localizado no sudeste da Ásia, numa região
conhecida como Insulíndia, entre os oceanos Pacífico e Índico. O Estado é
politicamente dividido entre o Timor Oeste, ou Nusa Tenggara Timur (província
indonésia) e o Timor Leste, inicialmente colônia portuguesa, território disputado no
último quarto do século XX. Esse, embora não disponha de grande dimensão territorial
(14.874 km²), sempre apresentou heterogeneidade étnica, verificado nos doze grupos
étnico-culturais formadores do país. Os números populacionais também não apresentam
grande expressão. Estimativas de 2007 apontam pouco mais de um milhão de
timorenses, dos quais três quartos vivem na área rural, sustentados pela agricultura de
subsistência e da pesca no litoral.
Figura 2 – Mapa do Timor Leste Fonte - http://mappery.com/maps/East-Timor-Relief-Map
A colonização portuguesa no Timor Leste difere de forma extrema da
maneira ocorrida no Brasil. O processo muito se assemelha com o que foi feito em
Macau, na China, onde navios mercantes utilizavam das feitorias coloniais como base
de armazenamento, reabastecimento e entreposto comercial no caminho para o Oriente.
Em nenhum momento houve uma estratégia agroexportadora ou uma política
organizacional voltada ao desenvolvimento da colônia ou até mesmo para seu
assentamento, como feito em terras brasileiras.
49
A virada política no Timor Leste deu seus primeiros passos ao fim da
ditadura militar de Salazar e á instalação da democracia em Portugal durante os anos
setenta. Somados a esse fator, davam-se prolongados conflitos nas colônias portuguesas
na África (Angola e Moçambique), que terminaram por obrigar a sede européia a
assumir uma política de descolonização, incluindo o Timor na mesma levada. Em 1974
e 1975, as colônias africanas conquistaram sua independência e, Portugal, objetivando
livrar-se rapidamente da colônia do sudeste asiático (uma vez que o país não poderia
mais suportar outra revolta anti-colonialista), tentou introduzir eleições democráticas em
um já instável território de grande diversificação étnico-cultural.
A partir deste momento, três partidos foram formados visando à conquista
das primeiras eleições governamentais no país. A Associação Popular Democrática
Timorense – APODETI – era o partido dos interesses indonésios, apoiado intensamente
pelo poder em Jacarta, embora não obtivesse praticamente nenhuma expressão dentro
do Timor. A União Democrática Timorense, UDT, que em um posicionamento mais
centralizado buscava uma progressiva autonomia do governo português e, finalmente, a
FRETILIN (Frente Revolucionária por Timor Leste Independente), que atrelado a
grupos esquerdistas, assumia uma política radical, visando a total independência de
Portugal (FORGANES, 1999)
No início de 1975, as eleições locais retrataram a vontade da maioria
Timorense, e a FRETILIN venceu com mais da metade dos votos totais. No entanto, o
resultado inexpressivo do partido pró-indonésio gerou contestação do Estado vizinho e,
apoiada pelos militares indonésios, a APODETI passou a gerar instabilidade na colônia,
fomentando ataques e atentados à vilas na fronteira com o Timor Oeste e no interior da
‘ilha Leste’. A situação gerou uma guerra civil que tinha por claro objetivo
desestabilizar o governo da APODETI, justificando uma invasão indonésia, sob o
pretexto de devolver a ordem ao país (FORGANES, 1999).
No segundo semestre de 1975, os portugueses deixaram a ilha. No dia vinte
e sete de agosto, o governador da colônia juntamente com toda a administração
portuguesa se retirou da capital Dili, abandonando o Timor Leste sem governo algum.
Sustentada pela esmagadora maioria da população, a FRETILIN conseguiu conter as
tropas pró-indonésia e retomou o poder no Estado, uma vez que os apelos à volta dos
portugueses não foram atendidos.
50
Foi tão simples e abrupto o abandono da ilha pela nação européia sem
assumir alguma responsabilidade e sequer se preocupando com a estabilidade política
do Timor Leste, que nunca aconteceu (até hoje) uma transação oficial de poder que
retratasse a independência da colônia.
Os indonésios, por sua vez, nunca negaram sua gana expansiva mirando o
território do Timor Leste. Esse objetivo sustentava-se numa questão não só econômica
como também numa preocupação política do governo ditatorial de Suharto. Sob o mar
do Timor, bacias de petróleo alimentavam o sonho expansionista da Indonésia. Além
disso, seu governo temia que o exemplo timorense virasse um incentivo à minoria
opositora ao ditador, existente em seu território.
O estopim desejado pela Indonésia aconteceu com a declaração de
independência da FRETILIN. A invasão tornou-se inevitável e, no fim de 1975, Dili foi
bombardeada e tomada pelo exército de Jacarta. Pelos quatro anos que se seguiram, a
guerra dizimou mais de um terço da população timorense, que não resistiu e foi anexada
ao território indonésio.
É nesse contexto que se insere a participação da Organização das Nações
Unidas no conflito. Logo após a invasão ocorrida em dezembro de 1975, a ONU
aprovou uma resolução que obrigava a saída imediata das tropas invasoras do Timor
Leste (Resolução 384, datada em 22 de dezembro de 1975). Era óbvio que a decisão
seria simplesmente ignorada pelo governo indonésio. Um ano depois, outra imposição
(Resolução 389 datada em 22 de abril de 1976) de retirada foi desconsiderada. Pelos
vinte anos que se seguiram nada mudou na situação do Timor Leste devido,
principalmente, ao apoio recebido pela Indonésia dos países ocidentais que enxergavam
diversos interesses na situação. Frente a isso, qualquer resolução diplomática do
Conselho de Segurança desacatada, implicaria em uma série de restrições àquele
infringente.
É justamente a partir dessa conclusão, que os primeiros sinais da fragilidade
do Direito Internacional aparecem. O governo dos Estados Unidos impediu toda e
qualquer medida planejada que viesse a punir a Indonésia. O suporte americano aos
invasores foi oficializado em uma reunião que durou poucas horas entre o ministro de
Estado Henry Kissinger e o então presidente indonésio, o ditador Suharto.
O comprometimento das potências ocidentais para com a Indonésia deve-se
à questão político-econômica em detrimento a manutenção da ordem internacional
51
envolvida. Três pilares sustentavam esse suporte: primeiramente a venda de armas para
os indonésios era extremamente lucrativa, tanto que esse negócio movimentou mais de
um bilhão de dólares aos bolsos das nações ocidentais. Além disso, a fartura de petróleo
sob o mar do Timor atraía os interesses das potências apoiadoras da Indonésia e, por
último, aliar-se ao governo de Suharto era manter uma base anticomunista no sudeste
asiático, extremamente influenciado pela União Soviética e pela China.
A participação australiana no conflito começa em 1972, quando governos
indonésios e australianos se acordaram ao demarcar o domínio territorial sob as bacias
territoriais no mar do Timor, presente entre os dois países. Pelo fato do governo de
Portugal não ter participado dessas decisões, uma área ao sul da parte portuguesa de
Timor, chamada de “Timor Gap Oil”, permaneceu em disputa sem alguma solução. Foi
vendo a possibilidade de dominar e poder explorar esse território, que o governo da
Austrália deu seu parecer favorável a invasão indonésia ao Timor Leste. Muitos indicam
esse como o principal fator decisivo ao apoio dos Estados na ocupação da ex-colônia
portuguesa, em especial os australianos, que não imaginavam a chance de perder o
domínio sobre os campos de petróleo.
A impotência e a passividade dos órgãos internacionais são expostas no
massacre em Timor Leste, quando se comparam as questões políticas e econômicas com
o propósito de manter a paz. Se somarmos as resoluções do Conselho de Segurança da
ONU com as recomendações da Assembléia Geral, foram dez as iniciativas do órgão de
acabar com o conflito, no entanto, por mais de duas décadas a situação no Timor não
sofreu alguma modificação. Foi preciso que incontáveis atrocidades do exército
indonésio contra os civis timorenses fossem cometidas (como a chacina de Dili em
1992) para que se cogitasse colocar frente a frente as partes envolvidas, objetivando o
fim a tamanha crueldade.
Foi então que ao final da década de noventa, se iniciaram as conversas entre
Portugal e Indonésia. Para as nações Unidas, como não houve uma passagem oficial de
poder, os portugueses continuavam sendo os administradores legais do território do
Timor Leste.
As negociações de Kofi Annan (então secretário geral da ONU) levaram a
assinatura de um acordo histórico em Nova Iorque entre Indonésia e Portugal, datado de
cinco de maio de 1999. Foi acordado que a população timorense seria consultada e
decidiria, através do voto secreto, direto e universal, entre a proposta portuguesa de
52
independência após um período sob tutela da ONU ou a proposta indonésia baseada em
uma autonomia relativa, porém ainda fazendo parte do Estado unitário indonésio. A
consulta foi feita e no dia trinta de agosto de 1999, aproximadamente 80% da população
do Timor Leste votou a favor da independência.
Em 25 de Agosto de 1999 foi criada a UNTAET ( Unites Nations
Transitional Administration in East Timor) para administrar o território e exercer o
poder legislativo e executivo durante o período de transação e ajudar na formação de um
governo auto- sustentável.
O resultado foi mal recebido pelos grupos pró-Indonésia que, no mesmo dia,
iniciaram uma onda de terror na ilha. A ONU apresentou no mesmo ano um texto do
acordo, o Artigo 3º (1999) que dizia: “O Governo da Indonésia será responsável pela
manutenção da paz e da segurança em Timor Leste de forma a garantir que a consulta
popular se realiza de forma justa e pacífica numa atmosfera livre de intimidação,
violência e interferência de qualquer lado”. Ou seja, a ONU entregou a segurança do
referendo do Timor Leste a uma das partes diretamente envolvidas no conflito.
Era claro que resultados negativos aos interesses indonésios, gerariam
violência e desordem no Timor Leste. Todas as pessoas cujo exército indonésio
encontrava nas ruas e suspeitava ter votado pela independência, eram assassinadas no
mesmo momento, sem nenhuma piedade. Aqueles que não conseguiram fugir para as
montanhas ou não buscaram abrigo nas igrejas e em edifícios de organizações
internacionais foram levados por caminhões à Ilha Oeste e até hoje seguem
desaparecidos.
Reconhecendo alguma necessidade urgente de intervenção, a ONU cria uma
força internacional para agir no Timor Leste. Em setembro do mesmo ano, capacetes
azuis australianos ocuparam a capital Dili totalmente devastada e incendiada. O país não
provia de nenhuma infra-estrutura básica e o caos era presente em todas as cidades do
Timor.
Em abril de 2001, a população local foi novamente convocada às eleições
no país. O resultado consagrou Xanana Gusmão, líder oposicionista preso por todo o
período ditatorial. Finalmente, em vinte de Maio de 2002, o Timor Leste tornou-se
totalmente independente.
De acordo com José Ramos Horta, presidente da República do Timor Leste,
apesar do país ter recebido aproximadamente três bilhões de dólares de doações
53
internacionais, não sofreu impactos visíveis. Os doadores não investiram o dinheiro no
desenvolvimento do país, na infraestrutura e nas zonas rurais mas sim em programa de
assistência técnica que consiste em contratar técnicos de outras nacionalidades para
prestar serviços públicos ao Timor como o Ministério das Finanças. Entre 2006 e 2007,
foi feita no país uma pesquisa sobre o índice de pobreza relatou que havia aumentado de
2001 até 2007 (HORTA, J. Ramos, 2010).
Atualmente o país é lembrado pelos baixos índices de desenvolvimento, PIB
per capita e pelos altos índices de analfabetismo e desnutrição (CIA FACTBOOK).
A figura 2, apresenta uma pesquisa realizada pela ONU no ano de 2009 que
examina o desenvolvimento do IDH das regiões do mundo. Em todas as regiões, o IDH
tem crescido progressivamente ao longo dos anos ainda que em alguns períodos tenha
crescido com menor intensidade.
Figura 2 – IDH nas diferentes regiões do mundo
Fonte: Elaborado pelo grupo
Já a tabela 1, destaca as grandes falhas em saúde e bem estar em um mundo
cada vez mais interligado. O IDH do Timor Leste é baixo, 0,489, o que leva o país a
uma classificação de 162 num ranking com 182 países.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1980 1985 1990 1995 2000 2005
OECD
CEE
América Latina eCaribe
Ásia Leste e Pacífico
Países Árabes
Sul Asiático
África Sub-Sahariana
Timor Leste
54
Tabela 1 – Índices Sociais Timor Leste
VALOR IDH EXPECTATIVA DE VIDA
TAXA ALFABETISMO (ATÉ
14 ANOS) PIB PER CAPTA
1. Noruega (0.97) 1. Japão (82.7) 1. Geórgia (100) 1. Liechtenstein
(85,382)
160. Malawi (0.49) 132. Benin (61.0) 136. Togo (53.2) 171. Etiópia
(779)
161. Benin (0.49) 133. Haiti (61.0) 137. Butão (52.8) 172. Malawi
(761)
162. Timor Leste (0.49) 134. Timor Leste (60.7) 138. Timor Leste
(50.1) 173. Timor Leste
(717) 163. Costa do Marfim
(0.48)
135. Papua Nova Guiné (60.7)
139. Costa do Marfim (48.7) 174. R.C.A (713)
Fonte: Elaborado Pelo Grupo
A figura 3 ilustra que países que possuem o mesmo nível de IDH podem ter
diferentes níveis de PIB per capita. Por exemplo, O Timor Leste apresenta o mesmo
nível de IDH (baixo) que o Afeganistão e apesar de possuir um índice mais elevado que
o outro país tem um poder de compra inferior.
Figura 3 – IDH vs. PIB per capita
Fonte: Elaborado Pelo Grupo
Em relação ao índice de pobreza, o Timor Leste apresenta 40,8% da sua
população abaixo da linha da pobreza, ocupando o 122 lugar entre 135 que a ONU fez o
calculo. A tabela 2 apresenta a colocação e os números do Timor Leste nas questões de
750
1100 0,49
0,35
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0
200
400
600
800
1000
1200
TIMOR LESTE AFEGANISTÃO
PIB PER CAPTA
IDH
55
educação, quantidade de pessoas usando água em boas condições, desnutrição infantil e
a probabilidade da população de não sobreviver depois dos 40 anos de idade.
Tabela 2 – Indicadores sociais no Timor Leste
Índice de Pobreza Probabilidade de não sobreviver até os 40 anos (%)
Acesso à água tratada (%)
Crianças Abaixo do Peso (%) Até os 5
anos) 1. República Tcheca (1.5) 1. Hong Kong (1.4) 1. Barbados
(100) 1. Croácia (1)
120. RDC (30) 106. Iêmen (15.6) 123. Uganda (36) 134. Níger (44)
121. Papua Nova Guiné (39.6) 107. Papua Nova Guiné (15.9) 124. Libéria
(36) 135. Iêmen (46)
122. Timor Leste (40.8) 108. Timor Leste (18.0) 125. Timor
Leste (38) 136. Timor Leste (46)
123. Gâmbia (40.9) 109. Eritréia (18.2)
125. Suazilândia
(38) 137. Índia (46)
Fonte: Elaborado Pelo Grupo
Índices como esses comprovam a realidade de extrema pobreza com a qual a
população do Timor convive. Quase a metade de toda a população do país vive em
condições abaixo da linha da miséria. Fatores básicos de saúde pública como água
tratada ou condições educacionais como a taxa de Alfabetismo, mostram a fragilidade
estrutural por qual passa a sociedade do Timor Leste.
56
REFERÊNCIAS
BUERGENTHAL, Thomas; NORRIS, Robert. Human rights: the inter-american
system. New York: Oceana Publications, 1982.
CASSIN, René. El problema de la realización de los derechos humanos en la
sociedad universal. In: Veinte años de evolución de los derechos humanos. México:
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1974.
HUMAN RIGHTS WATCH. Human Rights Watch World Report 1994: events of
1993. New York, 1994.
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São
Paulo: Editora Saraiva, 2007.
REZEK, José Francisco. Direito internacional público. São Paulo: Saraiva, 2008.
SACHS, Ignacy. Desenvolvimento, direitos humanos e cidadania. In: Direitos
humanos no século XXI. Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais e Fundação
Alexandre de Gusmão, 1998.
HUNTINGTON, Samuel P. The Clash of Civilizations and the remaking of the
world order. New York: Touchstone, 1997.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:
Campus, 1992.
HOBBES, T. Leviatã. São Paulo. Nova Cultura, 1997.
FORGANES, Rosely. Timor: 500 anos de lágrima, cinza, dor e solidão. Disponível em:
http://www.timorcrocodilovoador.com.br/historia.htm. Acesso em: 11 de novembro de
2010
57
RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 47
Human Rights Watch World Report 1994: Events of 1993, Human Rights Watch, New York, 1994, p. XX.
FRANÇA, Paulo Roberto Caminha de Castilhos. A Guerra do Kosovo, a OTAN e o conceito de “Intervenção Humanitária”. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2004.
LEANDRO, Ten-General Garcia. “Intervenções militares: necessidade política, de segurança e humanitária” em Direito e Justiça, Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, vol. XV, tomo I. Lisboa: 2001, p. 260
CHOMSKY, Noam. Propaganda e Opinião Pública, (entrevistas orientadas por David Barsantam), Campo da Comunicação, Lisboa, 3ªed. 2003, pp.52-57
ALMEIDA, Guilherme Assis. Não Violência: princípio do direito internacional dos direitos Humanos. São Paulo: Atlas, 2001, p. 59.
MILL, John Stuart. A liberdade e o Utilitarismo. SÃO PAULO, MARTINS FONTES, 2000
MOORE, John Norton. International Law and the United States’s role in Vietnam: A Reply. R.Fal, org., The Vietnam War and International Law (Princeton, 1968), p. 431.
Rawls, J. A theory of justice. Cambridge. Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press. 1971.
Beitz, C. (1994), War and law since 1945. Oxford: Clarendon Press.
ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 12. Ed. São Paulo: Saraiva, 1996.
JACKSON, Robert. Quase States, dual regimes and neoclassical theory: International jurisprudence and the Third World. International Organization, v.41, n.4, p. 519 – 549, 1987.
VINCENT, R. Nonintervention and International order. Princeton: Princeto University Press, 1973.
58
MELLO, Celso. Princípio da não intervenção. Revista de Ciencia Politica. v.3, n.3, p.9-19, 1990.
FONSECA JUNIOR. A legitimidade e outras questões internacionais – poder e ética entre as nações. 2. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 1998.
Disponível em:
http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/volume4/arquivos_pdf/sumario/art_v4_XIII.
Disponível em:
http://www.senado.gov.br/sf/senado/unilegis/pdf/UL_TF_DL_2004_EUGENIAPESTA
NA.pdf
Disponível em:
http://publicacoes.unigranrio.br/index.php/rdugr/article/viewFile/198/197
Disponível em:
http://www.ceara.pro.br/Instituto-site/Rev-apresentacao/RevPorAno/1994/1994-
SoberaniaLimitadaDeverdeIngerenciaeIntervencaoHumanitaria.pdf
Disponível em:
http://www.viannajr.edu.br/revista/dir/doc/art_10013.pdf
Disponível em:
http://agalgz.org/blogues/index.php/canta/2005/06/19/a_ingerencia_humanitaria_em_af
rica_nova__2